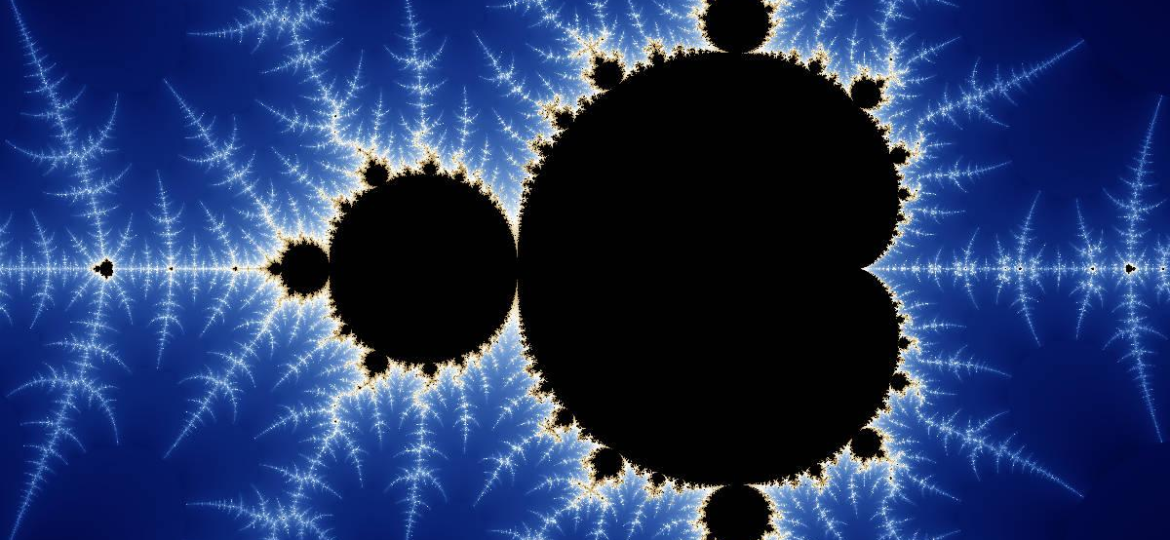Ficou-me na cabeça a frase do escritor espanhol Manuel Vilas, que traçou no seu romance “Em Tudo Havia Beleza (Ordesa)” um intenso itinerário de reencontro com os laços familiares, isso que, mesmo na distância ou na ausência, nos define, explica e sustém. Ele referia numa entrevista: “Quando nos morrem os pais é como se terminasse uma época da história, como se acabasse o Renascimento, o Barroco, o Iluminismo... Creio que a família continua a ser o motor da história.” É verdade. Para cada ser humano, a família constitui esse privilegiado lugar onde podemos ouvir, ou onde desejamos ouvir, aquele primordial “quero que tu sejas” (o volo ut sis que Santo Agostinho dizia ser a essencial definição do amor), que confirma a nós próprios a legitimidade da nossa existência. Na família descobrimos que a matriz do que somos está no cuidado e na fidelidade de quantos estão dispostos a amar-nos de forma incondicional. E a expressar esse amor no silabário mais comezinho, e também mais concreto, que constitui a resposta atenta às quotidianas necessidades de nós viventes. Em momentos diferentes da nossa história regressamos à nossa família e compreendemos sempre melhor quanto ela é efetivamente a parteira da nossa alma. Quanto ela representa o espaço original, a nossa caverna iluminada a fogo, a nossa íntima pintura rupestre e, ao mesmo tempo, um implícito caderno de rumos e um farol para navegar o futuro.
Recentemente, o relato de duas pessoas amigas fez-me confrontar, de novo, com esse universal património vernacular. O primeiro relato é de um amigo que perdeu a mãe este verão. Encontrei-o agora e anunciou-me que anda ocupado na redação de uma espécie de memoir do seu percurso de vida. E explicou-me que o que desencadeou a urgência deste projeto foi um facto que ocorreu nos dias que antecederam a sua morte. Ele assistia a mãe idosa, afetada por uma irreversível doença oncológica. No final de uma noite tormentosa, ele deitou-se exausto na cama a seu lado. E a mãe, que estava totalmente debilitada, fez sobre ele, muito devagar, um gesto: ajeitou a ponta do lençol para que ele não ficasse descoberto. Apenas isso. Mas é agora neste gesto que ele não se cansa de pensar. É este gesto que ele interroga, que ele quer enquadrar em direções diferentes, que ele quer compreender, conservar, perfurar, agradecer. O outro relato chegou-me de um pai. A carta das autoridades municipais com a notícia da exumação dos restos mortais do filho esteve semanas retida num endereço antigo e quando chegou ao seu conhecimento ele precipitou-se para o cemitério. Por sorte, conhecia bem o coveiro das visitas regulares que ali fazia. Informou-se junto deste sobre o processo de transladação das ossadas e, com a sua ajuda, pôde contemplar a caveira e os ossos do filho. Havia depois de me dizer: “Não posso contar isto a ninguém, vão achar que é tétrico, mas acredita que representou para mim uma consolação. Passei ali a tarde sentado ao lado dos ossos do meu filho. Estranho, não é? Olhava a caveira e pensava no seu sorriso. Foram para mim inesperadas horas de paz.” Por coincidência, telefonei-lhe nesse fim de tarde, quando estava para chegar a casa. Parou o carro e falou-me, numa torrente de lágrimas, daquela sua experiência. E, no final, agradeceu-me, porque, conversando comigo, pôde chorar à vontade. “Não queria chorar estas lágrimas em casa. Sabes... para não pesar...” — desculpou-se assim. São histórias de amor extremo? São. E ainda bem. Sem a luz desse amor, o mundo seria escuridão.
Dom José Tolentino Mendonça
In: imissio.net 19.01.23