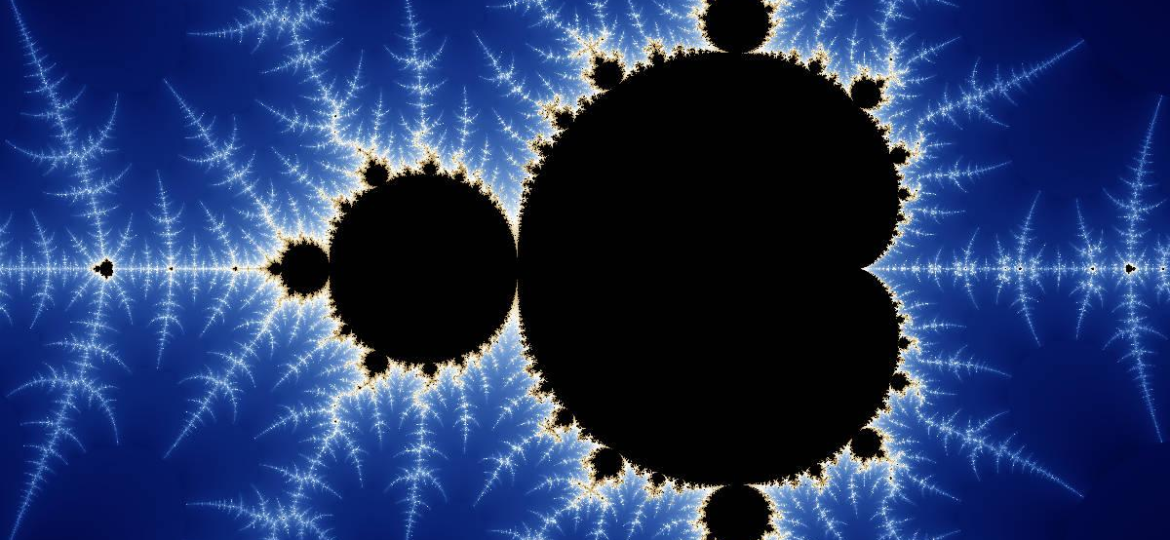«Estou obcecado pelo espiritual. Estou obcecado pela questão do que somos»: talvez estas duas pequena frases de Martin Scorsese sejam um dos motivos que levou o realizador norte-americano ao "Silêncio", um filme germinado durante 30 anos e que chegou a Portugal em janeiro.
A película sobre a missionação cristã no Japão, a partir do romance homónimo de Shusaku Endo, constitui o núcleo da entrevista que o cineasta concedeu ao P. Antonio Spadaro, diretor da revista italiana "La Civiltà Cattolica", e que a Paulinas Editora de Portugal publicou recentemente.
O livro inclui o posfácio do padre Adolfo Nicolás, redigido em 2014 pelo anterior responsável máximo a nível mundial da Companhia de Jesus, e o ensaio que o padre Ferdinando Castelli, especialista de literatura para "La Civiltà Cattolica", escreveu em 1973.
"Silêncio - Entrevista com o realizador do filme Martin Scorsese"
Martin Scorsese, Antonio Spadaro
"Silêncio" parece a história de uma descoberta íntima do rosto de Cristo, de um Cristo que parece pedir a Rodrigues que o espezinhe, para salvar outros homens, porque foi por isso que veio ao mundo... Para ele, qual é o rosto de Cristo? É o fumi-e, a imagem espezinhada, como descreve Endo? Ou é o Cristo glorioso da majestade?
Escolhi o rosto pintado por el Greco, porque pensei que seria mais compassivo do que o pintado por Piero della Francesca. Na minha juventude, à medida que crescia, para mim o rosto de Cristo era sempre um conforto e uma alegria.
Na sua opinião, e deixando de lado "A última tentação de Cristo", qual é o filme da história do cinema que retrata melhor o verdadeiro rosto de Cristo?
Para mim, o melhor filme sobre Cristo é "O Evangelho segundo Mateus" de Pasolini. Quando eu era jovem, queria fazer uma versão contemporânea da história de Cristo, ambientada nas casas populares e nas ruas do centro de Nova Iorque. Mas quando vi o filme de Pasolini, compreendi que aquele filme já tinha sido feito.
Foi uma ocasião em que sentiu Deus próximo, embora calado?
Quando eu era rapaz e ajudava à Missa, não tinha nenhuma dúvida de que percebia um sentido do sagrado. Esforcei-me por transmiti-lo em "Silêncio", durante a cena da Missa na casa colonial em Goto. Em todo o caso, recordo-me de que caminhava pela rua, depois do fim da Missa, e perguntava-me a mim mesmo: como é possível que a vida avance como se nada tivesse acontecido? Porque é que o mundo não é abanado pelo corpo e pelo sangue de Cristo? Foi deste modo que experienciei a presença de Deus, quando era muito jovem.
Em 1983, estive em Israel à procura dos melhores cenários para a "Última tentação de Cristo". Sobrevoava o território a bordo de pequenos aviões. Por isso, tinha na mão alguns pequenos objetos religiosos que a minha mãe me tinha dado havia alguns anos. Estava nervoso, muito tenso. Andava para a frente e para trás, de Telavive à Galileia, de Betsaida a Eilat. E, a determinada altura, levaram-me à igreja do Santo Sepulcro. Estava com o produtor, Robert Chartoff, que faleceu recentemente. Entrei no túmulo de Cristo. Ajoelhei-me e rezei uma oração. Quando saí, Bob perguntou-me se me sentia um pouco diferente. Respondi que não, que só estava impressionado com a geografia do lugar e com o facto de tantas ordens religiosas terem vindo reivindicar direitos sobre ele. Então, tínhamos de voar novamente para Telavive. Perdi o avião. Uma vez mais, eu estava muito nervoso e apertei de novo na mão todos aqueles objetos religiosos da minha mãe. E, de repente, enquanto voávamos, dei-me conta de que já não precisava deles. Percebi uma sensação total de amor, e a sensação de que, se tivesse de acontecer alguma coisa, nunca mais aconteceria. E foi extraordinário. Sinto-me bastante afortunado por tê-lo experimentado uma vez na minha vida.
Quero também falar do nascimento da minha filha Francisca. Nasceu de cesariana. Eu estava lá e via tudo o que acontecia. Depois, repentinamente, mandaram-me sair. Acompanharam-me a outra sala, e olhei através de uma janela retangular. Vi que havia muita urgência, uma atividade frenética, até ao instante em que saiu o que me parecia ser um corpo sem vida. Depois, a enfermeira saiu a chorar e disse-me: «Há de conseguir!» E abraçou-me. Eu não sabia se estava a falar da minha esposa ou da menina. Depois, veio o médico. Apoiou-se na parede, deixou-se deslizar até ao chão, agachou-se e disse: «Pode-se planificar e prever tudo, e, depois, chegam vinte segundos de terror. Mas conseguimos.» Tinham quase perdido as duas. E o que depois eu soube foi que me tinham posto nas mãos aquele embrulhinho. Olhei para o seu rosto, e ela abriu os olhos. Tudo mudou num instante.
Faz-me lembrar aquela extraordinária passagem do romance de Marilynne Robinson, "Gilead", que li enquanto rodava "Silêncio". O reverendo moribundo descreve a admiração que sentiu quando viu o rosto da sua filha pela primeira vez. «Agora, que estou para partir deste mundo – diz –, é que me apercebo de que não há nada mais extraordinário do que um rosto humano. [...] Tem a ver com a Encarnação. Quando vemos uma criança e a temos nos braços, sentimo-nos obrigados em relação a ela. Cada rosto humano exige alguma coisa de nós, porque não podemos deixar de compreender a sua unicidade, a sua coragem e a sua solidão. E isto é ainda mais verdade no caso do rosto de um recém-nascido. Considero esta experiência uma espécie de visão tão mística quanto muitas outras.» Pela minha experiência pessoal, posso afirmar que é absolutamente verdade.
A compaixão é instinto ou amor?
Penso que a chave é a negação do eu. Em "Os cavaleiros do asfalto" [realizado por Scorsese], Charlie cai na armadilha de pensar que cuidar de Johnny Boy poderá ser a sua penitência, que servirá para a sua redenção pessoal, que será para seu uso espiritual. Isto leva-nos ao facto de que os bons sacerdotes que conheci sempre puseram de lado o seu ego. Quando isso acontece, só restam as necessidades – as necessidades dos outros – e diminuem as perguntas sobre que penitência escolher ou sobre aquilo que é ou não a compaixão. Isso passa a não ter significado.
Na história do "Silêncio" há muitíssima violência física e psicológica. O que é que há na representação da violência? Nos seus filmes também há muita. O que representa de específico a violência, neste filme?
Referindo-me a uma sua pergunta anterior, estou obcecado pelo espiritual. Estou obcecado pela questão do que somos. E isto significa olharmo-nos de perto, olhar para o bem e o mal em nós. Podemos alimentar o bem de maneira que, num determinado ponto futuro da evolução do género humano, a violência talvez deixe de existir? Seja como for, neste momento, a violência está aí. É algo que fazemos. E é importante que o mostremos. Assim, não se cometerá o erro de pensar que a violência é alguma coisa que os outros fazem, que «as pessoas violentas» fazem. «É óbvio que eu nunca poderia fazê-lo.» Mas não: pelo contrário, tu poderias mesmo! Não podemos negá-lo. Depois, há pessoas que ficam perturbadas com a sua própria violência, ou que se entusiasmam com ela. Trata-se de uma autêntica forma de expressão, em circunstâncias desesperadas, e não é divertida. Há quem diga que o filme "Tudo bons rapazes" [também realizado por Scorsese] é divertido. As pessoas são divertidas, mas a violência não. Muita gente simplesmente não compreende a violência, porque provém de culturas ou subculturas de que ela está muito distante. Mas eu cresci num lugar onde ela fazia parte da vida e me era muito próxima.
No início dos anos setenta, estávamos a sair do Vietname e era o fim dos fastos da antiga Hollywood. "Bonnie e Clyde" e, depois ainda mais, "A quadrilha selvagem", foram uma revelação. Esses filmes tocavam-nos, não necessariamente de modo agradável. Na minha opinião, a violência é uma parte do ser humano. Nos meus filmes, o humor vem das pessoas e dos seus raciocínios, ou da ausência deles. A violência e a vulgaridade. A vulgaridade e a obscenidade existem, o que significa que são parte da natureza humana. Consequentemente, isto não quer dizer sejamos intrinsecamente obscenos e violentos; quer dizer que se trata de um modo possível de se ser humano. Não é uma boa possibilidade, mas é uma possibilidade.
Para si, fazer um filme é como pintar um quadro. Nesse filme, a fotografia e as imagens têm um determinado valor. Como é que a fotografia nos faz ver o espírito?
Cria-se uma atmosfera através da imagem. Colocamo-nos num ambiente onde se pode sentir a alteridade. E são estas as imagens, as ideias e as emoções que se extraem do cinema. Há certas coisas intangíveis que as palavras simplesmente não podem exprimir. Por isso, no cinema, quando se monta uma imagem juntamente com outra, na mente obtém-se uma terceira imagem completamente diferente: uma sensação, e a impressão, uma ideia. Por isso, penso que o ambiente que se cria é uma coisa, e que este visa a fotografia. Mas é na conjugação das imagens que o filme nos captura e nos fala. É o "editing", é a ação do fazer cinema.
Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura de Portugal - Publicado em 26.04.2017