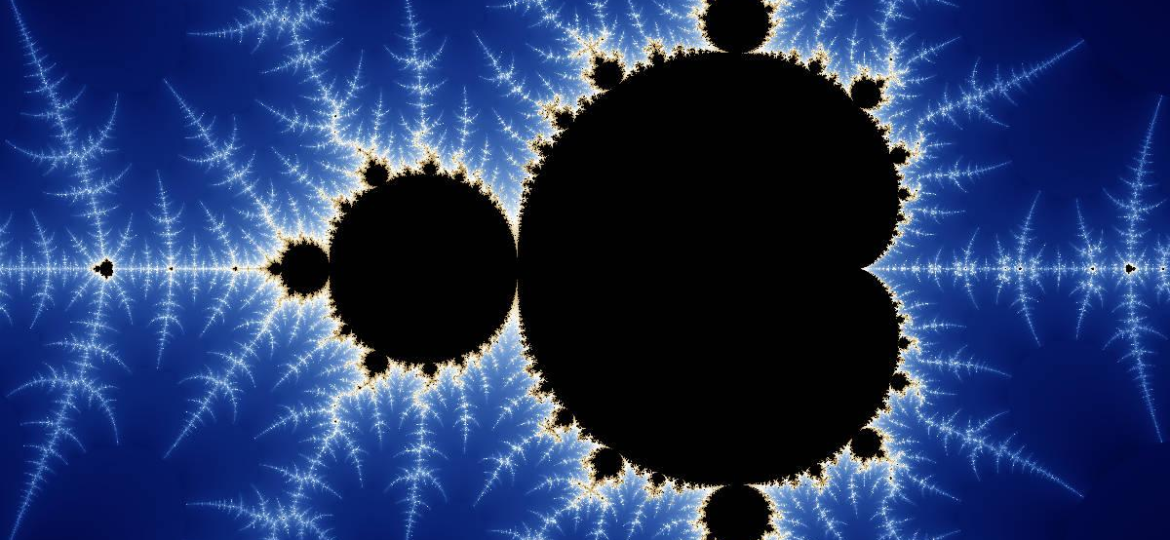Quando hoje se google a palavra “máscara” aparece uma infinidade de variantes de pesquisa: máscaras descartáveis, cirúrgicas, certificadas, personalizadas, reutilizáveis, transparentes e por aí fora. Esta repentina multiplicação de acepções quer dizer uma coisa: que entrou a fazer parte das práticas do quotidiano. De fato, após uma indecisão inicial, a máscara tornou-se um elemento base de proteção contra a pandemia. E assim, de uma hora para outra, a estranheza do artefato se desfez pelo uso corrente, expectável e universal. Mas este acessório que adicionamos ao rosto — uma ajunta provisória e associada a esta conjuntura sanitária, espera-se — tem sido motivo para alguma reflexão de natureza antropológica. Há os que a defendem como um compromisso ético que realizamos, sinalizando que como indivíduos estamos empenhados em colaborar positivamente na construção do bem comum, numa hora de tamanha vulnerabilidade como a presente. E há os que a temem como um distúrbio que trará consequências. Neste caso, o medo em relação à máscara é o de que ela venha a alterar a percepção que fazemos dos outros e de nós próprios; que modifique os tradicionais mecanismos de proximidade; que contribua para ampliar a indiferença e a invisibilidade social. Medo, no fundo, de que a máscara possa cancelar o rosto ou substituir-se a ele. Um pouco na linha daquilo que Álvaro de Campos prevê no poema ‘Tabacaria’: “Quando quis tirar a máscara,/ Estava pegada à cara./ Quando a tirei e me vi ao espelho,/ Já tinha envelhecido”. Ora, mesmo tomando esta posição como um clamoroso exagero ela tem, pelo menos, a vantagem de nos sensibilizar para a problemática da comunicação interpessoal, interrogando-nos sobre a forma como nos encontramos e desencontramos em tempo de pandemia.
Um acirrado denunciador da máscara tem sido, por exemplo, o filósofo Giorgio Agamben. Ele recorda que se todos os seres viventes existem no aberto, se mostram e comunicam, só o ser humano tem, porém, um rosto. Isto é, só o ser humano “faz do seu aparecer e comunicar-se aos outros humanos a própria experiência fundamental,(...) o lugar da própria verdade”. Tudo o que dizemos e trocamos se funda no rosto. Neste sentido, é inimaginável que se possa pensar sem ele a política, pois esta ficaria perigosamente reduzida a uma mera troca de informações e mensagens. Para Agamben, o rosto é “o elemento político por excelência”, pois é “olhando-se no rosto que os humanos se reconhecem e apaixonam, percebem a semelhança e a diversidade, a distância e a proximidade”. A conclusão com que remata o seu discurso é certamente dissidente e radical, mas recorda-nos a salvaguarda necessária da essência do humano e do valor da comunidade nestes meses de emergência declarada: “Um país que decida renunciar ao próprio rosto... cancela de si toda a dimensão política” e arrisca tornar-nos ainda mais isolados uns dos outros, tendo como que perdido “o fundamento imediato e sensível da sua comunidade”.
O ponto parece-me ser este: se não podemos não usar máscara, não nos esqueçamos, no entanto, do que significa um rosto. E tantos não esquecem, é verdade. Numa obra recente do teólogo Pier Angelo Sequeri conta-se uma história que narra precisamente a persistência do rosto por outros meios. Uma paciente que passou por um longo e sofrido internamento devido à covid-19, ao despedir-se dos médicos e enfermeiros disse: “Quando vos encontrar de novo não serei capaz de recordar distintamente os vossos rostos, mas reconhecerei infalivelmente os vossos olhos.”
Dom José Tolentino Mendonça
Imagem: pexels.com
In: imissio.net 2.12.2020