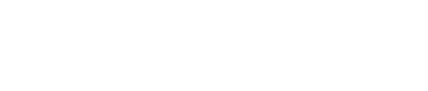“Nós brasileiros dificilmente usamos esta expressão [não sei!].
Temos o horror de parecer incultos”.
(Érico Veríssimo, A volta do gato preto, 1957)
Durante minha primeira imersão nos estudos superiores – uma graduação em Filosofia –, meu interesse foi progressivamente se concentrando no modo como nós, brasileiros e brasileiras, sistematizamos um conhecimento de tipo acadêmico, ou, em outras palavras mais técnicas, comecei a prestar atenção em nossa epistemologia (especialmente filosófica e teológica). Grande foi minha surpresa ao constatar, em grande parte de nossas produções, uma distância significativa entre os valores e fundamentos de nossa reflexão e aqueles de nossa vida concreta, cotidiana. Isto me interpelou, e passei a buscar identificar algumas possíveis razões para essa separação entre nosso modo bem brasileiro de viver, e nosso modo às vezes bem estrangeiro de pensar academicamente.
Considerando que a sistematização do conhecimento é um ato de comunicação profundamente cultural e social, o estudo das especificidades socioantropológicas brasileiras ofereceu-me algumas pistas de interpretação para o fenômeno que expus sumariamente acima. Podemos legitimamente nos perguntar: há algo que pode nos impedir de sermos completamente brasileiros em nossas investigações de caráter especulativo? Evidentemente, as respostas a esta questão são múltiplas. Neste breve ensaio, proponho-me somente a examinar a relação entre o “rito” do “sabe com quem está falando?”, tal qual ele é descrito e analisado pelo antropólogo Roberto DaMatta[1], e certo paradigma epistêmico que pode excluir algumas dimensões fundamentais de nossa identidade cultural. Em oposição ao rito das festas (sejam elas cívicas, culturais ou religiosas), DaMatta explicita assim a especificidade deste rito:
[O “sabe com quem está falando?”] implica sempre uma separação radical e autoritária de duas posições sociais real ou teoricamente diferenciadas. Talvez por isso, essa maneira de dirigir-se a um outro, tão popular entre os brasileiros, seja sistematicamente excluída dos roteiros – sérios ou superficiais – que visam a definir os traços essenciais de nosso caráter como povo e nação.[2]
O antropólogo propõe, ainda, uma intepretação a respeito do silêncio sobre a identificação de nossa cultura com este rito:
O “sabe com quem está falando?”, além de não ser motivo de orgulho para ninguém – dada a carga considerada antipática e pernóstica da expressão –, fica escondido de nossa imagem (e auto-imagem) como um modo indesejável de ser brasileiro, pois que revelador do nosso formalismo e da nossa maneira velada (e até hipócrita) de demonstração dos mais violentos preconceitos.[3]
Devo confessar que a leitura desta análise de DaMatta provocou em mim, de certo modo, uma mudança de perspectiva. Até então, eu julgava que a epistemologia adotada por muitos textos acadêmicos brasileiros era uma expressão de certo estrangeirismo, uma europeização ou americanização de nosso conhecimento: as lógicas subjacentes aos textos brasileiros pareciam-me germânicas, francesas, anglo-saxãs… Mesmo se, a meu ver, esta perspectiva não deve ser completamente abandonada, devemos admitir que algo em nosso próprio sistema sociocultural permite tal fenômeno. Se alguns padrões epistêmicos aparentemente “estrangeiros” ao nosso modo de ver o mundo e de viver acabaram por se consolidar nestas terras, isso significa que tais padrões encontraram aqui, em nossas práticas sociais e culturais, um terreno fértil para crescer. Que terreno é esse?
É justamente neste ponto que entra a questão-hipótese deste ensaio: se a dinâmica própria do “Sabe com quem está falando?” funciona em nosso sistema de relações sociais e, também, em nossas instituições universitárias, será que ela se reproduziria espontaneamente no processo cognitivo dos brasileiros e brasileiras, ou seja, nas relações complexas entre as várias dimensões humanas que entram em jogo quando nos dispomos a pensar? Se uma resposta positiva a esta questão se revelar pertinente, teremos uma nova pista para compreendermos as tensões socioepistêmicas de certo número de produções brasileiras de caráter mais especulativo.
Para ilustrar melhor esta hipótese, examinemos mais de perto algumas características do “Sabe com quem está falando?”, que podem estar presentes em nossa relação com o conhecimento:
+ Ideia de separação radical. Esta ideia, frequentemente não tematizada no contexto das relações sociais, pode corresponder filosoficamente a uma epistemologia de tipo cartesiano, defensora de um processo cognitivo que parte de ideias claras e distintas, ou seja, sem misturas. Quando pensamos no mundo interior humano (a relação entre razão, afetos, desejos) e a relação de tudo isso com nossas necessidades e pulsões mais físicas e corporais, e quando pensamos na importância que o corpo e os afetos têm em nossas relações no Brasil, atravessando e dando forma a todas as nossas decisões tomadas intelectualmente, podemos nos perguntar: como sustentar existencialmente esta ideia num contexto culturalmente mestiço? A boa mistura não seria também um gosto tipicamente brasileiro?
+ Forte hierarquização. Este princípio que marca fortemente a consciência social é um substrato que pode acolher um antigo princípio epistemológico ocidental: primazia absoluta da razão e desconfiança metódica do mundo sensorial, afetivo e emocional (devido ao constante risco de subjetivismos e enganos, segundo os defensores desta lógica). Porém, como sustentar a priori esta posição num contexto onde culturalmente promove-se a expressividade afetiva? A boa emoção e as boas sensações não seriam também um gosto brasileiro?
+ Formalismo. Esta postura social julgada como antipática em terras brasileiras confirma a seguinte postura epistêmica: se o conhecimento é coisa séria, nele não há espaço para improvisos ou diversões, consideradas imediatamente como falta de rigor ou leviandade. Porém, como sustentar esta posição num contexto onde culturalmente prefere-se favorecer a espontaneidade e a camaradagem? O bom humor e a leveza não seriam também um gosto brasileiro?
+ Repressão (autoritária) de um conflito. Em relação com as características anteriores, este ato de certa violência social pode ser também identificado em nossos processos cognitivos. Em caso de possível divergência entre o que penso e o que sinto, o pensamento deverá levar autoritariamente a vantagem sobre o sentimento, sem muitas concessões e negociações. Porém, como sustentar esta atitude num contexto que culturalmente deve a cada momento aprender a lidar com as diferenças? O bom papo que busca a conciliação não seria também um gosto brasileiro?
As características supracitadas não são desconhecidas em nossas instituições. Podemos reconhecer certa coerência entre a lógica do “sabe com quem está falando?” e a doutrina positivista de Augusto Compte, fundamento filosófico das forças armadas no Brasil, que influenciou, consequentemente, a República e a Academia brasileiras. E se o ideal expresso pela insígnia “Ordem e Progresso” não estiver gravado somente em nossa bandeira, mas também, de modo implícito, também em nossas práticas sociais e cognitivas? Estamos aqui diante de um problema. A lógica interna ao rito do “sabe com quem está falando?” não poderia, evidentemente, ficar de fora de nossa elaboração teórica da realidade. Porém, parece-me que todo o domínio do “agradável” acabou sendo não “ordenado”, mas expulso de nosso sistema de conhecimento. A adoção unilateral destes princípios resultou na “negação do ‘jeitinho’, da ‘cordialidade’, da ‘malandragem’”[4]. Faltou, assim, um tempero brasileiro (uma pitada de carnaval, de humor, de irreverência, de exagero, de inesperado…) neste contato especulativo com o mundo.
Neste breve ensaio, ao falar do Brasil, eu quis falar, propositadamente, de gosto. Em minha busca por um novo logos, por novas “leis” e princípios epistemológicos, busquei outro nomos-lei que estivesse menos afetado por essas interferências restritivas. Foi nesta busca que me deparei, com surpresa, com a gastronomia. Há uma lógica, uma lei própria no modo de comer de cada povo. Gosto é algo terminantemente particular sendo, ao mesmo tempo, cultural. Nossa cultura forma nosso gosto e vice-versa. E as coisas de que gostamos revelam muito do que somos. Gosto de pensar que deve haver uma coerência entre nosso prato e nossa lógica, entre nosso modo de comer e de pensar. Talvez em nossas cozinhas, em nossos pratos e em nossas mesas estejam as boas pistas para superarmos os riscos de extremismo: para além de uma festa caótica e anárquica e de uma ordem autoritária, o Banquete é fruto de um conhecimento prático, enraizado na realidade e orientado à alegria compartilhada e à comunhão. Ele é, de fato, um lugar de revelação e de realização de quem somos!
[1] DaMatta, Roberto, “Sabe com quem está falando? Um ensaio sobre a distinção entre indivíduo e pessoa no Brasil”, in: Carnavais, malandros e heróis – Para uma sociologia do dilema brasileiro, Rocco, Rio de Janeiro, 1997 (6ª ed.), p. 181-248.
Francys Silvestrini Adão SJ
professor e pesquisador no departamento de Teologia da FAJE
In: Palavra e presença (site FAJE)
Foto: Shutterstock