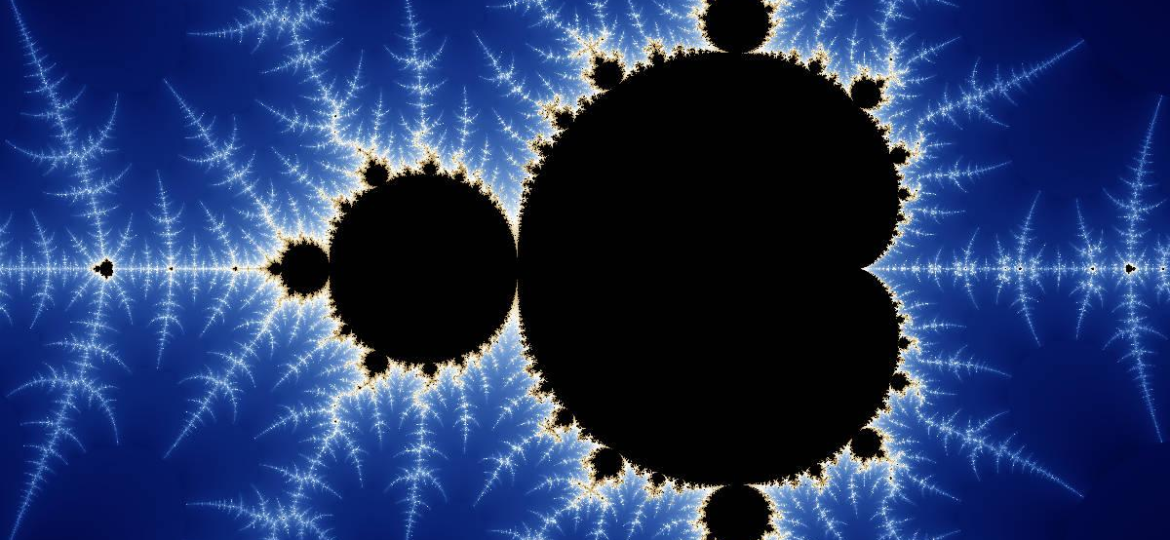Um dos equívocos, dos quais mais penoso é nos libertarmos, reside na concepção de útil e de inútil. Declaramos apressadamente útil tudo que o que se mensura em dinheiro e produtividade, em efeito imediato, em promoção ou retorno visível. Associamos o útil à resolução das necessidades materiais e rodeamo-lo, assim, daquele prestígio próprio das ações indispensáveis. Enquanto que desclassificamos o inútil vendo nele um esbanjamento, uma excentricidade, quando não um desperdício. Assumimos o útil como um dever. Ao inútil concedemos um estatuto eventual, entendido como uma espécie de resto, em relação ao qual não sentimos o apelo e a pressão social de desenvolvimento ou transmissão. E contudo, pensando bem, se do lado do inútil não estarão os deveres, está, porém, algo igualmente precioso: a maturação profunda do que somos. Se não alinhamos da parte do inútil os afazeres que garantem a nossa sobrevivência, podemos, contudo, colocar aí a experiência interior decisiva que representa encarar a vida e a morte, a memória e o desejo, a solidão e a alegria. Se não organizamos no campo do inútil a construção dos diversos saberes que nos servem, a verdade é que sem ele não transitaremos para a sabedoria. Como recorda um poema de Pedro Tamen, “o caracol conhece pouco mundo,/ mas é colado a ele que o conhece”. O inútil, que tem a forma de aéreo assobio, cola-nos diretamente ao mistério da vida e dá-nos um tipo de conhecimento que, de outro modo, não alcançaríamos.
Por isso, devemos mais do que supomos aos mestres do inútil. Normalmente são pedagogos casuais e aquilo que nos dão não se configura, à partida, como ensinamento. Que se tratou de uma poderosa lição de vida damo-nos conta depois. Vínhamos apenas para ver e esses discretos mestres mostraram-nos, por exemplo, a importância da contemplação, abriram-nos ao diálogo com essa sede de êxtase que trazemos alojada na carne. Viajávamos com um propósito fixo e eles conectaram-nos ao perfume daquilo que não tem porquê.
Um dos contos mais extraordinários (e demolidores) de Flannery O’Connor fala disso, apresentando-nos a história de O.E. Parker aos 14 anos quando, numa feira ambulante, tropeça na visão de um homem tatuado dos pés à cabeça. Esse encontro desencadeou nele uma viragem, mas de modo tão delicado que ele não conseguia aperceber-se bem do sucedido. Como explica Flannery, até aquele momento, “nunca lhe passara pela cabeça que a sua própria existência pudesse ser a expressão de alguma coisa fora do comum”. O elenco das visões inúteis que nos espantam é longo e pessoalíssimo. Porém, o seu propósito é sempre esse: o de nos revelar que a nossa pequena existência pode ser o espaço para alguma coisa maior.
Ora, esta consciência, que nos chega pelo espanto, pode-nos chegar também pelo sentimento de fracasso que, por vezes, nos toma. Na última entrevista do sociólogo Zygmunt Bauman, concedida ao jornalista Peter Haffner, a dada altura fala-se de José Saramago como de um mestre admirado. E Bauman refere o significado que teve para ele o encontro com uma página diarística escrita por Saramago aos 86 anos, em que este confessa sem filtros o seu falhanço. As intuições a que havia chegado não pareciam ter influência alguma no curso da história. Por consequência, fazia a si mesmo (fazia contra si mesmo) uma drástica pergunta: porquê, então, pensar? A resposta de Saramago iluminou Bauman: nós pensamos porque não conseguimos evitar, não somos capazes de atravessar o mundo de outra maneira. O pensamento é um exercício humilde e espontâneo, um facto equivalente ao transpirar.
Dom José Tolentino Mendonça
24.05.2021
In: imissio.net
Imagem: pexels.com