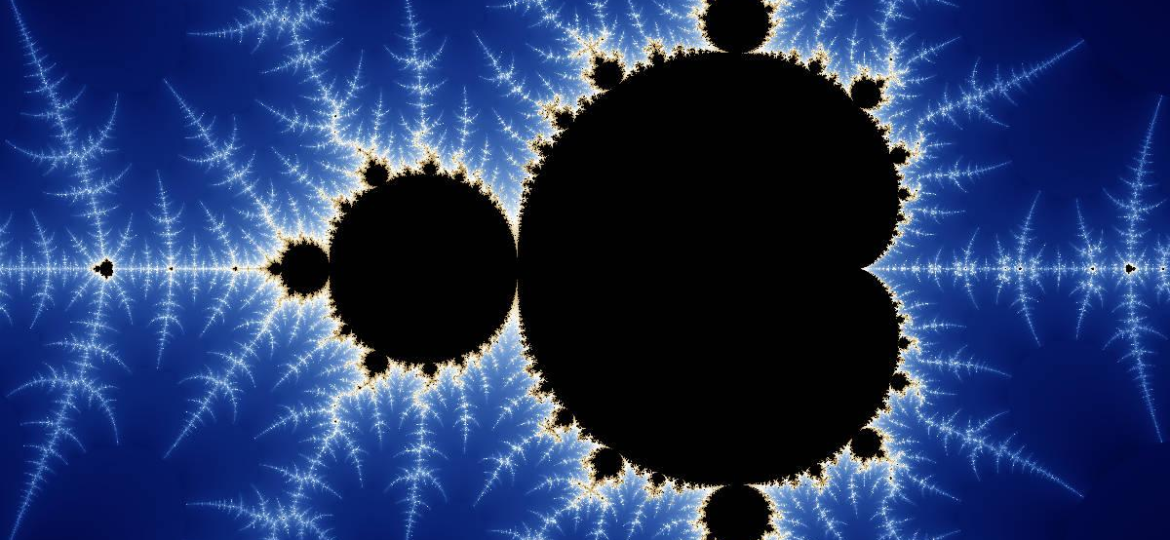A santidade pode ser tão chocante quanto um insulto. Pense-se em Simone Weil. Se tivesse vivido num mosteiro, se tivesse decidido fixar a sua existência no circunscrito silêncio de um claustro, qualquer que fosse, provavelmente o seu testemunho não pareceria tão incatalogável e escandaloso como se está a revelar cada vez mais.
Olhamos para esta jovem de origem burguesa vestida de operária ou de brigadista da guerra espanhola, para esta originalíssima intelectual pronta a trocar a academia por uma experiência na fábrica, para esta mística que militava no sindicalismo ou para esta sindicalista que militava na mística (ela torna, com efeito, totalmente irrelevante a ordem dos factores) e não sabemos bem o que pensar. É mais fácil etiquetar pertenças a uma ou a outra parte da barricada.
Todavia, Simone viveu como uma pessoa sem morada fixa do pensamento, aproximando-se e tomando as distâncias, irredutível na procura da verdade que, segundo ela, é a grande razão para permanecer vivo. Não se assemelha a ninguém não se deixa aprisionar em nenhuma corrente ou corporação. Semelhante e radical individualidade tanto nos perturba quanto nos ilumina.
Simone Weil irrompe numa das décadas mais devastadoras do século passado, munida unicamente da sua inteligência e de uma terrível autenticidade. Tinha escolhido para si duas disposições de espírito às quais procurou ser fiel com uma ardente, criativa e uma inusual intransigência: primeiro, sentia que devia adequar cada detalhe da vida à sua maneira de pensar, mostrando-se indisponível a concessões ao pragmatismo ou ao cinismo encarados como inevitáveis; segundo, sabia que o exercício do seu pensamento (leia-se: o exercício de si mesma) a colocava diante de uma representação da realidade da qual queria incondicionalmente abraçar as consequências, hipotecando tudo.
Viveu literalmente assim e foi isto que fez dela uma anomalia, uma espécie de blasfêmia, um escândalo que a contemporaneidade não consegue atenuar. Albert Camus, que promoveu a edição dos seus escritos na Gallimard, e que publicamente se lamentava de não a ter conhecido, dizia que Simone era «o único grande espírito do nosso tempo». Mas dizia-o não como se ergue uma estátua, mas como quem coloca uma pergunta.
Na autobiografia espiritual que Simone Weil construiu página após página, mesmo quando parecia ocupar-se unicamente de um problema impenetrável de álgebra ou de filologia, emerge um conceito central: o de desventura. É este, segundo ela, o mais humano e o mais divino dos enigmas que podemos viver. Como escreveu, a desventura é algo completamente diferente do sofrimento. Ela tome posse da alma e marca-a a fogo com um ferro incandescente que detém em exclusivo. A desventura torna Deus momentaneamente ausente, mas «mais ausente do que um morto, mais ausente do que a luz num subterrâneo completamente escuro».
Nessas horas a alma é sacudida pelo horror: o medo que a ausência de Deus se torne definitiva. É como se qualquer realidade digna de ser amada deixasse de existir. É a hora da grande prova. Mas é preciso que a alma continue a amar ou, pelo menos, que continue a querer amar na solidão, na incerteza e no vazio, bem sabendo que tal movimento implica a sua própria destruição. Só assim, porém, haverá um dia em que inexplicavelmente Deus vem.
Simone chamava a experiência da desventura «uma maravilha da técnica divina». Para ela trata-se do único modo de aceder não só à fé, mas também ao amor e à beleza. O conhecimento que então se produz em nós é um milagre bem maior do que não caminhar sobre as águas.
José Tolentino MendonçaIn "Avvenire"
Trad.: Rui Jorge Martins
Publicado em 26.07.2016 no SNPC