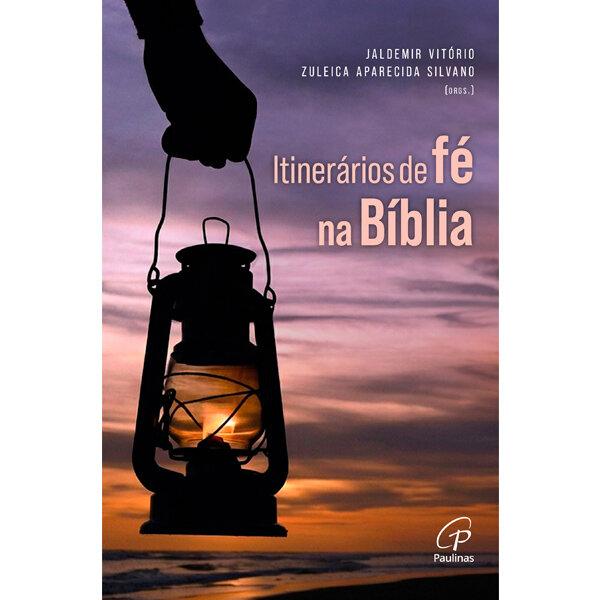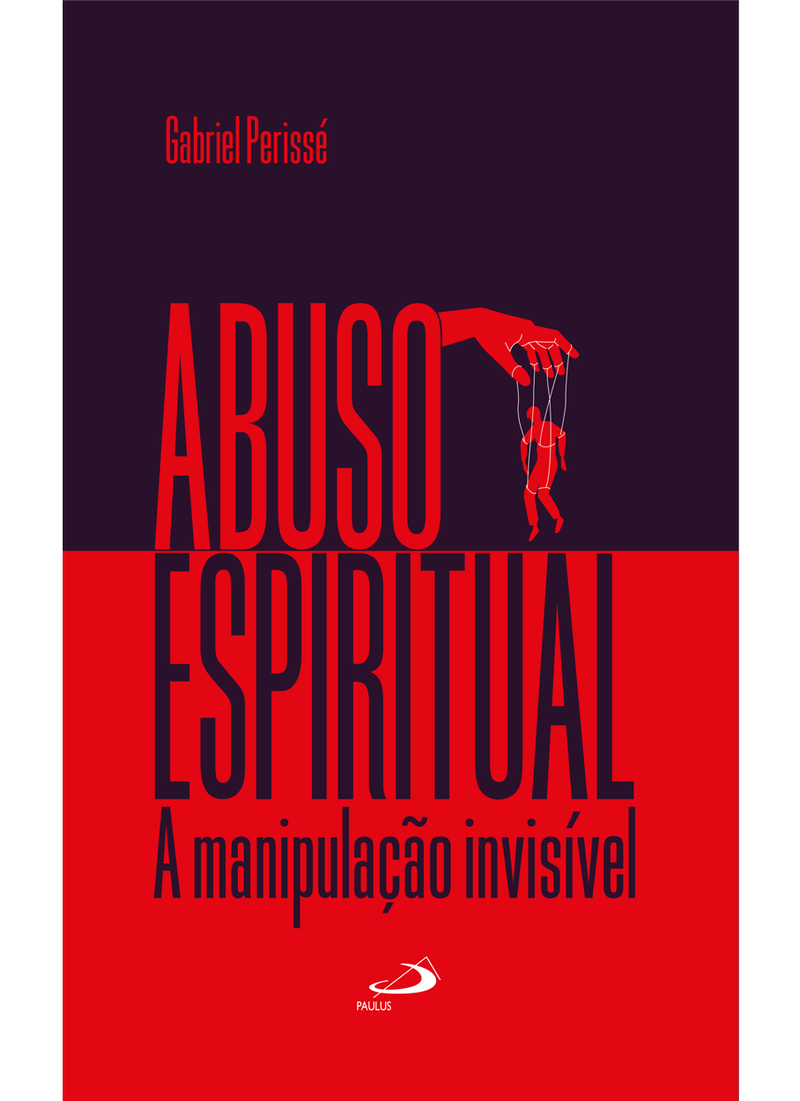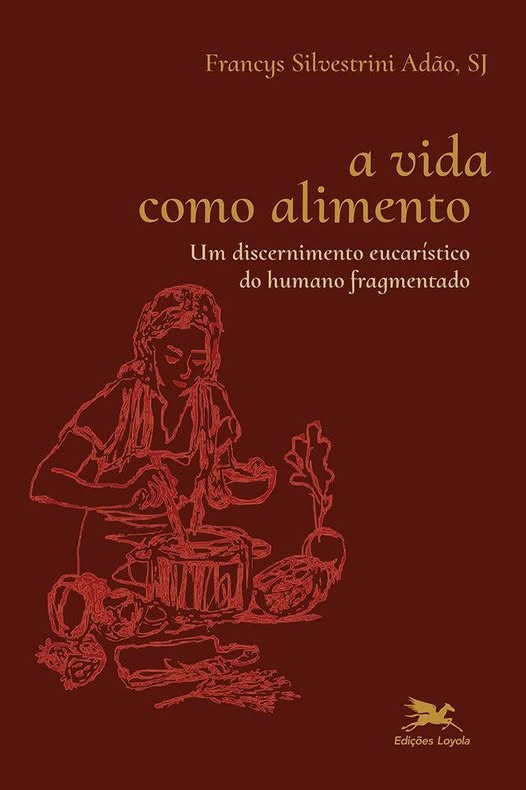"A mística do instante", livro do padre José Tolentino Mendonça, preconiza que os sentidos do corpo «são grandes entradas e saídas» da «humanidade» e da «fé».
Esta perspectiva, apoiada pela «narrativa bíblica», contraria «uma interpretação muito disseminada» segundo a qual a mística é uma «prática elitista que consiste num desligar-se do mundo para reentrar no espaço interior».
Evocando o teólogo Karl Rahner, para quem «o cristão do futuro ou será um místico ou nada será», o Pe. Tolentino defende que «o corpo é a língua materna de Deus» e a vida é o espaço que «permite reconhecer em cada instante, por mais precário e escasso» que seja, a «reverberação» dos «passos do próprio Deus».
A obra, de que apresentamos um trecho, foi publicada pelas Edições Paulinas. Uma leitura indispensável para todo cristão.
A mística do instante
José Tolentino Mendonça
De um lado, a excessiva internalização da experiência espiritual e, de outro, o distanciamento do corpo e do mundo permanecem (...), em grande medida, características destacadas da espiritualidade que se pratica. O que é espiritual vem considerado superior àquilo que vivemos sensorialmente. O primeiro é estimado como complexo, precioso e profundo. O segundo é visto como epidérmico e sempre um pouco frívolo. E há uma sintomática condição descarnada na vivência do religioso, que se refugia voluntariamente numa representação de alteridade em relação ao mundo, do qual se considera (vem sendo considerado) distante, para não dizer estranho. Na chamada «mística da alma», o Espírito divino é radicalmente outro face ao instante presente. E face ao destino histórico e pungente das criaturas. (...)
A concepção bíblica afasta-se propositadamente das versões espiritualistas. Ela defende uma visão unitária do Ser Humano, em que o corpo não é visto nunca como um revestimento exterior do princípio espiritual ou como uma prisão da alma, como pretende o platonismo e as suas réplicas tão disseminadas. A nível criacional o corpo exprime a imagem e semelhança de Deus (cf. Gn 1,27). Como afirma Louis-Marie Chauvet, «o mais espiritual não acontece de outra forma que não na mediação do mais corpóreo». Poderíamos adaptar, por isso, aquela frase de Nietzsche: «Há mais razões no teu corpo que na tua melhor sabedoria», dizendo que «há mais espiritualidade no nosso corpo que na nossa melhor teologia». (...)
Descobrir-se amado
Respirar, viver não é apenas agarrar e libertar o ar, mecanicamente: é existir com, é viver em estado de amor. E, do mesmo modo, aderir ao mistério e entrar no singular, no afetivo. Deus é cúmplice da afetividade: omnipotente e frágil; impassível e passível; transcendente e amoroso; sobrenatural e sensível. A mais louca pretensão crista não está do lado das afirmações metafísicas: ela é simplesmente a fé na ressurreição do corpo.
O amor é o verdadeiro despertador dos sentidos. As diversas patologias dos sentidos que anteriormente revisitámos mostram como, quando o amor está ausente, a nossa vitalidade hiberna. Uma das crises mais graves da nossa época é a separação entre conhecimento e amor. A mística dos sentidos, porém, busca aquela ciência que sé se obtém amando. Amar significa abrir-se, romper o círculo do isolamento, habitar esse milagre que é conseguirmos estar plenamente connosco e com o outro. O amor é o degelo. Constrói-se como forma de hospitalidade (o poeta brasileiro Mário Quintana escreve que «o amor é quando a gente mora um no outro»), mas pede dos que o seguem uma desarmada exposição. Os que amam são, de certa maneira, mais vulneráveis. Não podem fazer de conta. Se apetece cantar na rua, cantam. Se lhes der para correr e rir debaixo de uma chuvada, fazem-no. Se tiverem subitamente de dançar em plena rua, iniciam um lento rodopio, sem qualquer embaraço, escutando uma música aos outros inaudível. E o amor expõe-nos também com maior intensidade aos sofrimentos. Na renovação do interesse e da entrega a vida que o amor em nós gera tocamos mais frequentemente a sua enigmática dialética: a sua estupenda vitalidade e a sua letalidade terrível. Mas, como dizia o romancista António Lobo Antunes, «há só uma maneira de não sofrer: é não amar». Mas não é o sofrimento inevitável a todo o amor que impede a vida. O obstáculo é, antes, o seu contrário: a apatia, a distração, o egoísmo, o cinismo.
O amor é o caminho que nos leva a esperança. E esta não é uma espécie de consolação, enquanto se esperam dias melhores. Nem é sobretudo expectativa do que virá. Esperar não significa projetar-se num futuro hipotético, mas saber colher o invisível no visível, o inaudível no audível, e por aí fora. Descobrir uma dimensão outra dentro e além desta realidade concreta que nos é dada como presente. Todos os nossos sentidos são implicados para acolher, com espanto e sobressalto, a promessa que vem, não apenas um tempo indefinido futuro, mas já hoje, a cada momento. A esperança mantém-nos vivos. Não nos permite viver macerados pelo desânimo, absorvidos pela desilusão, derrubados pelas forças da morte. Compreender que a esperança floresce no instante e experimentar o perfume do eterno. (...)
Creio na nudez da minha vida
Gosto muito da definição que li em Georges Bataille, e que serve tanto o que ele chamava a sua «mística ateísta», como descreve amplamente uma mística cristã. A mística, diz ele, é uma experiência nua. Antes de tudo, a definição é justa porque ancora a mística no domínio da experiência. O problema de tantas resistências em relação à mística reside exatamente na evidência de que, em seu nome, têm sido promovidos todo o tipo de evanescências e escapismos.
O contrário do que vem dito no texto da carta aos Hebreus: «Não te agradaram oblações, nem holocaustos... mas deste-me um corpo.» (Heb 10,5). A mística tem peso. É corpo, experiência, letra, lugar, tessitura de vivido. A maior parte das vezes, o que falta ao itinerário crente não são, de facto, ideias, mas corporeidade, ressonância, espessura. Para explicá-lo não bastam conceitos, nem estruturas. A precariedade e a fragilidade do corpo; o grito, universal e concreto, que dele brota; a sua comum e quotidiana respiração aproximam-nos mais de Deus do que qualquer elaboração concetual. Mas não nos devemos esquecer de que a experiência mística é experiência nua. A experiência crente supõe uma confiança, não uma garantia. A fé não possui o objeto que a funda, porque ele é alter, é sempre outro. Como escreve Michel de Certeau: «Avizinhando-se daquele que amam, os crentes experimentam sempre, de uma forma ou de outra, o sentimento do vazio: abraçam uma sombra. Acreditam encontrá-lo se avançarem ao seu encontro, mas Ele não está lá. Procuram em toda a parte, perscrutam em cada detalhe onde Ele possa estar. Mas Ele não está em parte alguma.» Os místicos sabem que Deus se dá ausentando-se. Entre Deus e nós há um espaço vazio. Nós movemo-nos nesse espaço. O essencial está além, só na pobreza da nossa carne e do nosso tempo, que são também carne e tempo de Deus, podemos entrevê-lo. Ver, entrever e experimentá-lo na transparência do instante. Não é fugindo ao banal e ao ordinário, pois ele habita todo o comprimento delicioso e árduo do nosso caminho. Podemos, por isso, entender como uma oração o verso de Sophia de Mello Breyner Andresen, que começa assim: «Creio na nudez da minha vida.» Por difícil e turva que ela se possa revelar, não há via de maior lucidez e transparência para começarmos a viagem espiritual.
O sacramento do instante
Numa espécie de testamento espiritual, o teólogo Karl Rahner assinou a famosa interjeição: «O cristão do futuro ou será um místico ou nada será!» Na opinião dele, há dois traços emergentes no perfil do crente contemporâneo: por um lado, a sua espiritualidade precisa ser vivida continuamente na primeira pessoa, solicitando-lhe um inacusável despertar de consciência; e por outro, ele é chamado à coragem de uma decisão de fé no Espírito, que colha a força de si mesma, provando efetivamente uma experiência pessoal de Deus e do seu Espírito.
Ora, o ponto místico de intersecão da história divina com a história humana é o instante. Não um instante idealizado ou tornado abstrato, mas este instante concreto. Este preciso minuto onde nos situamos, esta hora concreta das nossas vidas, estes dias que o nosso coração afronta com maior ou menor esperança. Mas que, ao mesmo tempo, é capaz de informar-nos do iminente, do que se avizinha no previsível e no imprevisível, do que, de forma declarada ou discretíssima, vem. Esse é, alias, o sentido do termo «instante»: como substantivo, significa «um momento», uma «pequena porção de tempo», uma «duração»; como adjetivo, quer dizer «o que está iminente», «o que está a chegar», «o que solicita com insistência, o premente».
O dominicano padre Perrin, que foi o grande confidente de Simone Weil, dizia que nada do que conheçamos é mais parecido à eternidade do que o instante, e que devíamos pensar simbolicamente nele como um sacramento, o oitavo. Nós que entramos e saímos dos templos, como nos é necessária a veneração pela espantosa santidade do momento presente! «O que não sabe sentar-se/ na soleira do instante/ [...] esse nunca saberá o que é a paz/ serena e iluminada/ de estar-com.»
Se observarmos bem, somos continuamente despojados do passado e, por mais que façamos, não conseguimos antecipar do futuro qualquer parcela, por ínfima que seja. Só nos resta o instante; só o instante nos pertence. Entre as possibilidades infinitas do amor divino e a experiência mutável e progressiva do humano em nós, o único contacto é o instante. Ele é o barro onde a vida se molda e descobre. É a frágil ponte de corda que une o tempo à promessa. No maravilhoso e exigente poema de Teresa de Lisieux recebemos a confirmação: «Minha vida não é mais do que instante, uma hora fugaz/ Minha vida não é mais do que um único dia que se escapa./ Sabes bem, ó Deus, que para amar-te sobre a terra/ Não tenho nada além do hoje.»
A mística do instante reenvia-nos, assim, para o interior de uma existência autêntica, ensinando a tornarmo-nos realmente presentes: a ver em cada fragmento o infinito, a ouvir o marulhar da eternidade em cada som, a tocar o impalpável com os gestos mais simples, a saborear o esplêndido banquete daquilo que é frugal e escasso, a inebriar-nos com o odor da flor sempre nova do instante.
José Tolentino Mendonça
In: A mística do instante, ed. Paulinas