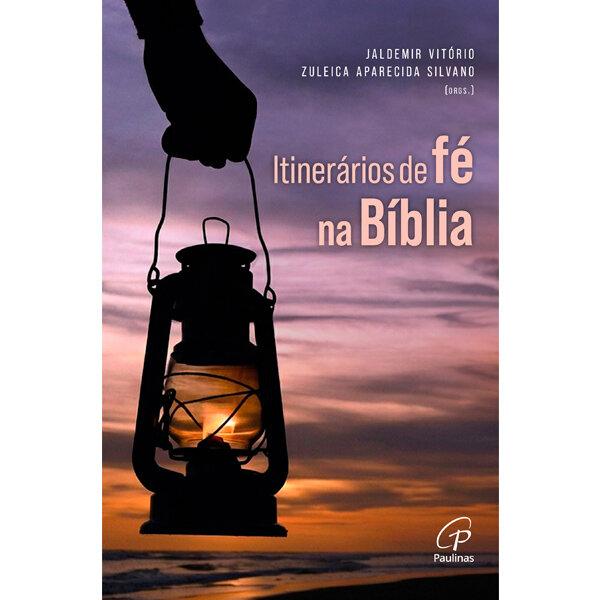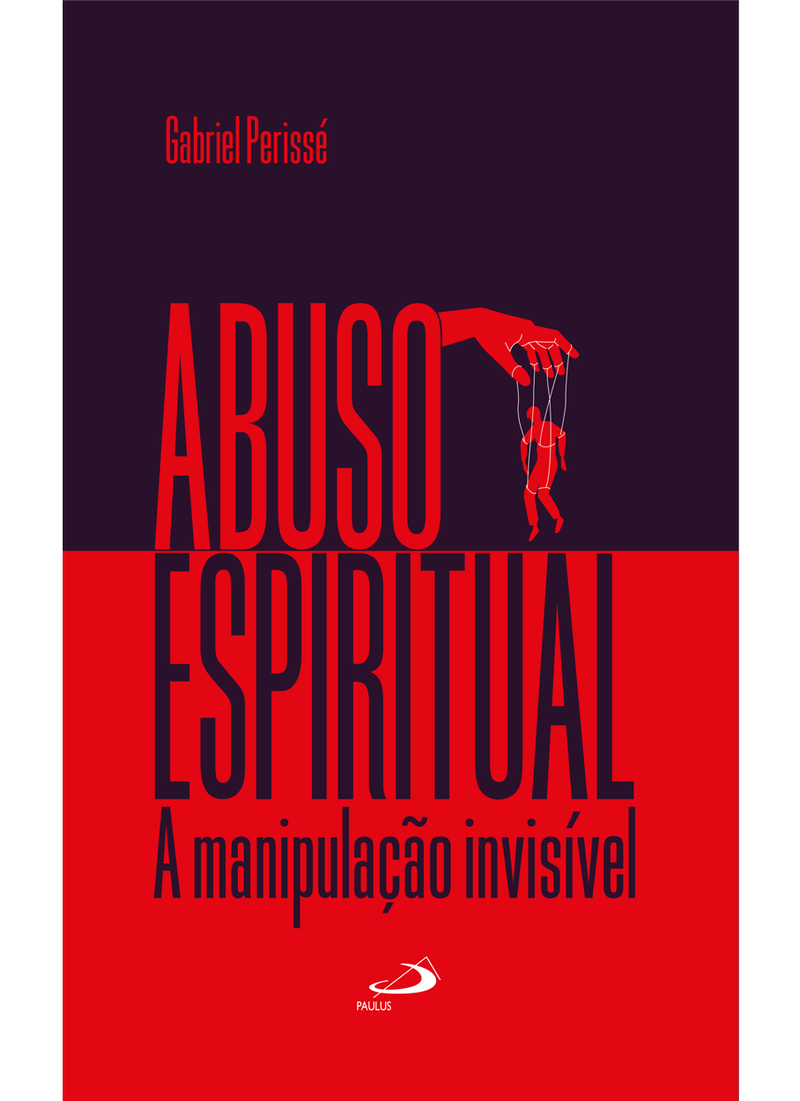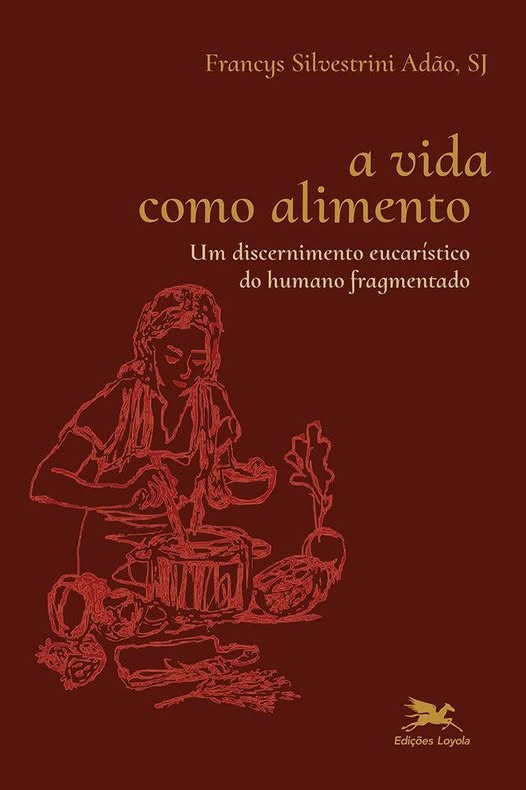Livro Elogio da Sede
José Tolentino Mendonça
Edições Paulinas 2018
O livro reúne as meditações que o Pe. José Tolentino fez durante o retiro da Cúria Romana em fevereiro de 2018. Publicado em Portugal agora é lançado no Brasil pelas Edições Paulinas.
José Tolentino Mendonça
In "Elogio da sede". São Paulo: Edições Paulinas, 2018
A água é ensinada pela sede
Aos sedentos é útil recordar que há uma ciência da sede. Tomada de um ponto de vista técnico a sede vem caracterizada como um conjunto de sensações internas que a desidratação desperta em nós e que a reidratação repara. É uma definição rápida esta, e que claramente supõe muito mais. Na verdade, quando nos apercebemos de que temos sede estamos a beneficiar de uma silenciosa e vital interação dos sistemas fisiológicos de controlo do nosso próprio corpo, que se organizam para transmitir-nos essa preciosa informação. Ao que parece, num adulto saudável, este mecanismo de alerta é suficiente para fazê-lo procurar um estado de hidratação adequado, mas nem sempre é assim. Tanto a capacidade de detecção da sede como a possibilidade de resposta positiva a este estímulo podem estar alteradas e, até mesmo, diminuídas, expondo a pessoa a riscos de que não se dá conta. Temos sede e não nos apercebemos. De um modo cada vez mais frequente uma das perguntas que os médicos tendem a universalizar para os pacientes de qualquer idade é esta: «Que quantidade de água bebe por dia?» E normalmente bebemos menos do que aquilo que devíamos. É uma boa pergunta para transpormos para o plano espiritual. Será que reconhecemos a sede que há em nós? Apercebemo-nos da desidratação que, voluntária ou involuntariamente, nos impomos? Damos tempo a decifrar o estado da nossa secura? A poetisa Emily Dickinson dizia que «a água é-nos ensinada pela sede». São João da Cruz afirmava que podemos beber mesmo na obscuridade porque a nossa sede ilumina a fonte. O que é que a nossa sede nos ensina? Que fonte ela ilumina e esclarece? Será que fazemos da nossa sede uma escola de verdadeiro conhecimento, nosso e de Deus? Ou, pelo contrário, aceitamos viver à míngua de água, procurando mascarar uma sede que não escutamos?
A dor da nossa sede
Não é fácil reconhecer que se tem sede. Porque a sede é uma dor que se descobre pouco a pouco dentro de nós, por detrás das nossas habituais narrativas defensivas, ascéticas ou idealizadas; é uma dor antiga que sem percebermos bem como encontramos reavivada, e tememos que nos enfraqueça; são feridas que nos custa encarar, quanto mais aceitar na confiança. Em muitas ocasiões, a lâmina da sede colada à nossa garganta lembra o punhal de Abraão encostado à garganta de Isaac. E não é uma posição muito cômoda, convenhamos. Várias são as passagens da Bíblia que vão nessa linha, onde a sede nada tem de simbólico ou de inspirador. A sede é só sede: uma dura experiência de sacrifício e de prova. É assim que ela é descrita, por exemplo, em Êxodo 17:1-4:
«Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu do deserto de Sin para as suas etapas, segundo a palavra do Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas não havia água para o povo beber. O povo litigou com Moisés, e disse: “Dá-nos água para beber.” Disse-lhes Moisés: “Porque litigais comigo? Porque pondes o Senhor à prova?” Ali o povo teve sede de água, e murmurou contra Moisés, dizendo: “Porque nos fizeste subir do Egito para nos fazer morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado?” Moisés clamou ao Senhor, dizendo: “Que farei a este povo? Mais um pouco e vão apedrejar-me.”»
Existe uma violência no mundo e em nós próprios que provém da sede, do medo da sede, do pânico que as condições de sobrevivência não estejam garantidas. Viramo-nos contra os outros, litigamos, achamo-nos enganados, queremos voltar ao passado, apressamo-nos a encontrar um bode expiatório. A sede destapa uma agressividade que nos surpreende, mas que, se formos honestos, está algures dentro de nós. Claro que não nos é grato reconhecermo-nos nessa imagem, mas ela oferece-nos pelo menos a possibilidade de nos tornarmos mais conscientes.
A dor da nossa sede é a dor da vulnerabilidade extrema, quando os limites nos esmagam. E acerca disso o Livro de Judite (7:20-22) empresta-nos algumas imagens intensas, que documentam uma situação concreta, infelizmente igual a tantas outras que se verificaram e verificam na história. No Livro de Judite (7) trata-se das consequências devastadoras provocadas pelo cerco do exército assírio:
«O exército da Assíria, a infantaria, os carros de combate e os cavaleiros mantiveram o cerco durante trinta e quatro dias, até que todos os recipientes de água dos habitantes de Betúlia ficaram vazios; as suas cisternas começaram a ficar esgotadas, sem água para poderem beber a sua porção diária, uma vez que a água era racionada. As crianças mais pequenas estavam abatidas e as mulheres e os jovens começaram a desfalecer de sede e a cair pelas ruas e às portas da cidade. Estavam no limite das suas forças.»
A sede retira-nos o alento, esgota-nos, desvitaliza-nos, faz-nos perder as forças. Deixa-nos sitiados e sem energia para reagir. Transporta-nos aos limites. Compreende-se que não seja fácil expormos a nossa sede.
A parábola da nossa sede
O dramaturgo Eugène Ionesco reagia sempre que ouvia classificar o seu teatro como «teatro do absurdo». Ele considerava tal descrição completamente despropositada. Se as suas personagens habitam num mundo de pernas para o ar, que nos mira do avesso, se usam palavras desarticuladas e termos inventados, que simplesmente não existem, há uma razão. Isto acontece para romper com a banalidade de uma comunicação humana que é muito fluente e reconhecível, mas que já não diz nada. Ionesco justificava-se explicando que a única coisa importante no teatro é que ele solte «um grito profundo da alma». Por isso, as suas peças são parábolas tatuadas sobre o coração e em rutura com este tempo desencontrado que vivemos.
Uma delas, representada pela primeira vez em 1964, chama-se "A sede e a fome". Conta a história de um casal — Jean, o homem, Marie Madeleine, a mulher —, onde cada um representa uma posição diferente não só perante a vida prática, mas também quanto ao sentido da própria vida. Jean é devorado por um desejo sem objeto, um infinito vazio, uma inquietude sem coordenação com nada de real. Ele vive abrasado por uma sede e por uma fome que nada parece aplacar. E que rugem dentro dele continuamente como um trovão: «Tenho sempre fome. Como e é como se não tivesse comido. Este vazio, este vazio que não consigo encher... O meu estômago é um buraco sem fundo; a minha boca é um abismo cujas paredes são de fogo. Fome e sede, fome e sede.» A mulher tenta reorientá-lo, mas em vão. Ela interroga-se: «Porque é que não lhe agrada criar raízes?» Ou então: «Onde poderá ele procurar aquilo que está desde sempre ao seu alcance, que se encontra ali, debaixo dos seus pés?» Ele, porém, mesmo amando a mulher e a filha, não acredita que um amor assim limitado possa satisfazer a grandeza da sua sede: «O universo é ainda maior, e o que me falta é-o ainda mais.» Em vez de viver na sede do absoluto, Jean escolheu viver o absoluto da sede. Por isso, tudo lhe parece ínfimo, insuficiente e mesquinho. Sobre todas as coisas espalha o mesmo veneno da lamúria, condenando-as. Esta sede, a que ele não consegue dar um rosto, fez dele um homem sem casa, nem raízes; incapaz de criar laços; estrangeiro de si mesmo; perdido no vazio do labirinto onde escuta apenas o solitário rumor dos seus passos.
Se tivéssemos de contar a parábola da nossa sede, porventura teria traços semelhantes. Uma sede que se torna numa grande insatisfação, numa desafeição em relação ao que é essencial, numa incapacidade de discernimento que nos empurra para os braços do consumismo. Fala-se muito contra o consumismo dos centros comerciais, mas não podemos esquecer que há também um consumismo na vida espiritual. E que o que se diz sobre um, ajuda-nos a compreender o outro.
De facto, as nossas sociedades que impõem o consumo como padrão de felicidade transformam o desejo numa armadilha. O desejo tem a dimensão de uma montra e promete uma satisfação imediata e plena que evidentemente não pode cumprir. Vemos um objeto iluminado numa vitrine e, nesse momento, ele parece-nos conter o brilho do astro distante pelo qual ansiamos. É mesmo aquele, pensamos, enquanto avançamos para a fila da caixa registadora embevecidos com aquele ato de satisfação simbólica. Mas uma vez comprado, o objeto não parece o mesmo, perdeu alguma coisa que tínhamos por irresistível, já não tem a consistência da promessa, como se a posse implicasse uma desvalorização. E com isso cresce em nós um vazio que nos faz voltar ao ponto de partida, uma vez e outra e outra. A desilusão atira-nos para o circuito insone do consumo, onde o nosso desejo adoecido se torna o desejo de nada, a pura metonímia da nossa carência. O objeto do nosso desejo é um ente ausente, um objeto sempre em falta. Obsidiados pelo transe comercial desejamos tanto que já não somos capazes de desejar. Porém, o Senhor não cessa de nos dizer: «O que tem sede aproxime-se; e o que deseja beba gratuitamente da água da vida.»
O caminho da nossa sede
Mesmo não se tratando de uma obra religiosa, o livro de Saint -Exupéry "O Principezinho" é uma espécie de mistagogia contemporânea, pois inicia-nos na procura do sentido da existência. Não é indiferente o facto de ter sido escrito no ano de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, quando tantas feridas e incertezas pesavam, e mais do que nunca parecia difícil e urgente afirmar aquele «essencial que é invisível aos olhos». Ora, na verdadeira "peregrinatio animae" que o Principezinho realiza, depois de deixar o seu planeta, uma das figuras que encontra é um estranho comerciante de pílulas.
«— Olá, bom dia! — disse o principezinho.
— Olá, bom dia! — disse o vendedor.
Era um vendedor de comprimidos para tirar a sede. Toma-se um por semana e deixa-se de ter necessidade de beber.
— Porque é que andas a vender isso? — perguntou o principezinho.
— Porque é uma grande economia de tempo — respondeu o vendedor. — Os cálculos foram feitos por peritos. Poupam-se cinquenta e três minutos por semana.
— E o que é que se faz com esses cinquenta e três minutos?
— Faz-se o que se quiser...
“Eu”, pensou o principezinho, “eu cá se tivesse cinquenta e três minutos para gastar, punha-me era a andar devagarinho à procura de uma fonte…”»
Há muitas formas de iludirmos as necessidades que nos dão vida, e de adotarmos um escapismo espiritual, sem nunca assumir, no entanto, que estamos em fuga. A nosso favor evocamos sofisticadas razões de rentabilidade e eficácia, substituindo a audição profunda do nosso espaço interior e o discernimento da nossa sede por pílulas que prometem resolver mecanicamente o nosso problema. É tão fácil apegarmo-nos à ideia de poupar cinquenta e três minutos e sacrificarmos a isso o prazer de caminhar devagarinho à procura de uma fonte. É tão fácil idolatrarmos a pressa e a vertigem neste nosso tempo hipertecnológico e que tem o culto da instantaneidade, da simultaneidade e da eficácia. Escreve Milan Kundera, em "A Lentidão":
«Há um laço secreto entre lentidão e memória, entre velocidade e esquecimento. Tomemos uma situação das mais banais: um homem caminha pela estrada. Por instantes, procura recordar-se de alguma coisa que, no entanto, lhe escapa. Então, instintivamente, ralenta o passo... Na matemática existencial esta experiência assume a forma de duas equações elementares: o grau de lentidão é diretamente proporcional à intensidade da memória; o grau de velocidade é diretamente proporcional à intensidade do esquecimento.»
Como é o nosso passo: sempre tenso e apressado ou humilde e distendido? Sentimo-nos nutridos pela memória ou secos pela velocidade de tudo? Sentimo-nos a caminhar devagarinho para uma fonte? Aqui, como em outros âmbitos da vida, a verdadeira conversão não consistirá em belas teorias, mas em decisões que resultem de uma tomada de consciência efetiva das nossas necessidades. E, depois, o passo a passo dos pequenos gestos e das práticas concretas que nos comprometem.