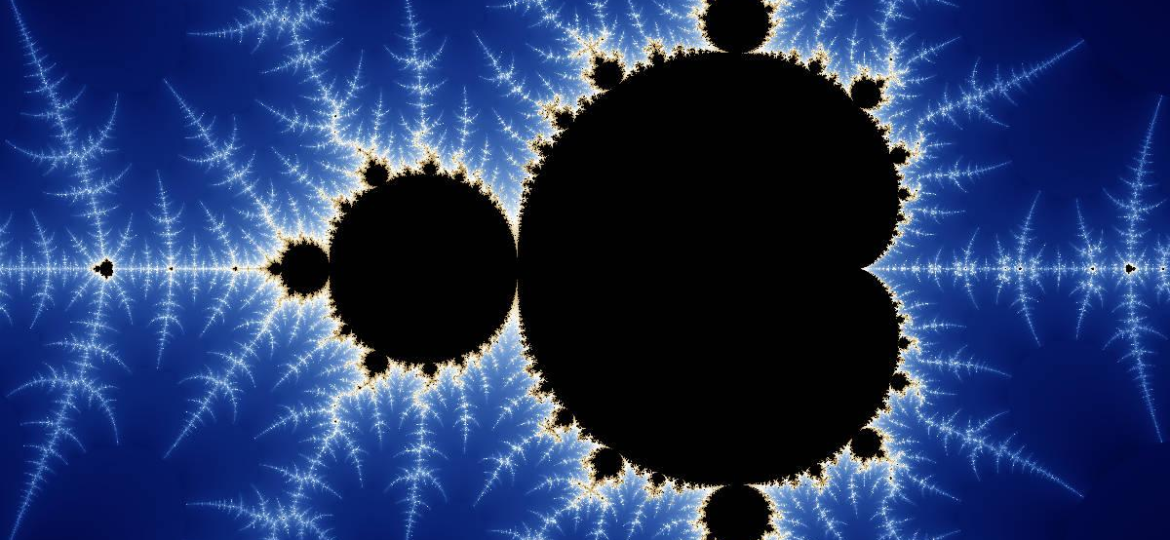A dada altura percebemos que o mais importante não é saber se a vida é bela ou trágica, se, feitas as contas, ela não passa de uma paixão irrisória ou se a cada momento se revela uma empresa sublime. Certamente está-nos reservada a possibilidade de a tornar em cada um desses modos, só distantes e contraditórios na aparência.
A mistura de verdade e sofrimento, de pura alegria e cansaço, de amor e solidão que no seu fundo misterioso a vida é, há de aparecer-nos nas suas diversas faces. Se as soubermos acolher, com a força interior que pudermos, essas representarão para nós o privilégio de outros tantos caminhos. Mas o mais importante nem é isso, aprendemos depois. Importante mesmo é saber, com uma daquelas certezas que brotam inegociáveis do fundo da própria alma, se estamos dispostos a amar a vida como esta se apresenta.
A dada altura compreendemos que falar sobre o ar, como faz o poeta Tonino Guerra, não tem de ser uma deriva, mas um chamamento à construção concreta que a vida é, confirmada (ou não) pelo nosso sim: «O ar é esta coisa ligeira/ que te gira em torno à cabeça/ e torna-se mais clara/ quando ris». Ou que quando Simone Weil repete que «a atenção é uma prece», ela mais não faz do que mobilizar-nos para a aliança com o agora, porque se não formos prudentes e generosos para manter os olhos maximamente abertos sobre o presente, que ciência poderá o futuro constituir para nós?
O viver tem esta simplicidade, que precisamos de redescobrir, despojando-nos do muito que nos atravanca, relançando-nos no seu obstinado fluxo. Estamos muitas vezes alienados da vida, separados dela, por uma muralha de discursos, de angústias, de confusas esperanças. Precisamos de perfurar esse muro até ao fim.
É necessário decidir, portanto, entre o amor ilusório à vida, que nos faz adiá-la perenemente, e o amor real, mesmo que ferido, com que a assumimos. Entre amar a vida hipoteticamente pelo que dela se espera ou amá-la incondicionalmente pelo que ela é, muitas vezes em completa impotência, em pura perda, em irresolúvel carência. Condicionar o júbilo pela vida a uma felicidade sonhada é já renunciar a ele, porque a vida é decepcionante (não temamos a palavra).
Com aquela profunda lucidez espiritual que por vezes só os homens frívolos atingem, Bernard Shaw dizia que na existência há duas catástrofes: a primeira, quando não vemos os nossos desejos realizarem-se de forma alguma; a segunda, quando se realizam completamente. Há um trabalho a fazer para passar do apego narcisista a uma idealização da vida, à hospitalidade da vida como ela nos assoma, sem mentira e sem ilusão, o que requer de nós um amor muito mais rico e difícil. Esse que é, em grande medida, um trabalho de luto, um caminho de depuração, sem renunciar à complexidade da própria existência, mas aceitando que não se pode demonstrá-la inteiramente.
A vida é o que permanece, apesar de tudo: a vida embaciada, minúscula, imprecisa e preciosa como nenhuma outra coisa. A sabedoria é a vida mesma: o real do viver, a existência não como trégua, mas como pacto, conhecido e aceite na sua fascinante e dolorosa totalidade.
Não se trata apenas de viver o instante, tarefa inútil, pois a vida é duração. Aquilo que nos é dado dura, e nós dentro dele, com ele, por ele. Não é a flor do instante que nos perfuma, mas o presente eterno do que dura e passa, do que dura e não passa.
E quando é que chega a hora da felicidade?, perguntamo-nos. Chega nesses momentos de graça em que não esperamos nada. Como ensina o magnífico dito de Angelus Silesius, o místico alemão do século XVII: «A rosa é sem porquê, floresce por florescer/ Não se preocupa consigo, não pretende nada ser vista».
José Tolentino Mendonça
In Expresso, 13.6.2014