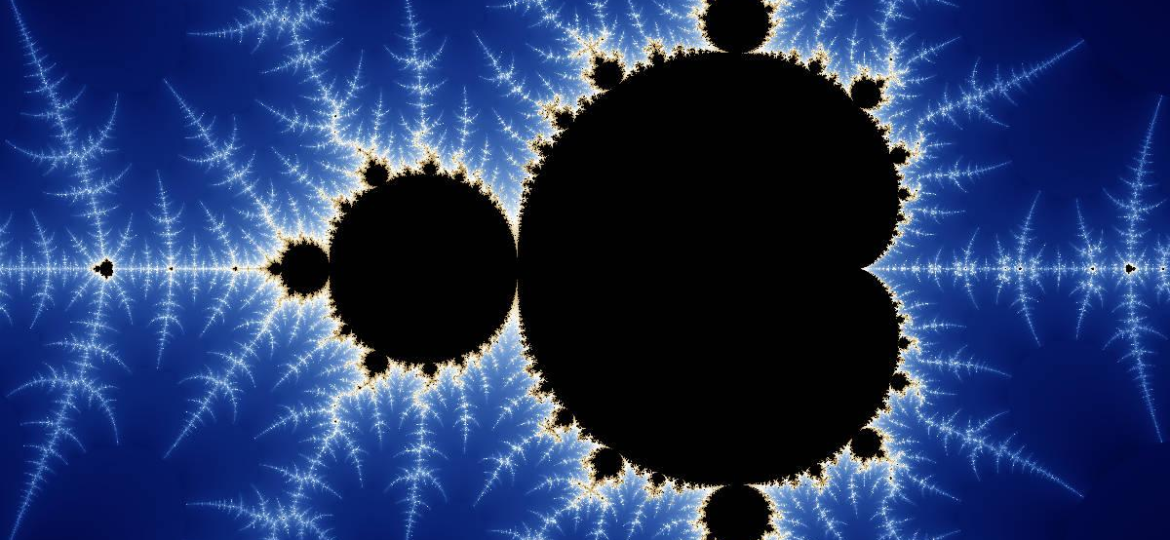Do primeiro lockdown conservei um verso da poeta italiana Mariangela Gualtieri: “Agora sabemos que triste é estar distantes um metro”. Temos de reconhecer que um metro, dois metros são um curto intervalo. Parecem formas de separação insignificantes, que não alteram nada de substancial nas relações. Talvez, por isso, nem seja adequado falar de separação. A um metro, dois que seja, conseguimo-nos ver e ouvir sem dificuldade. Há uma comunicação que se diria eficiente. Uma vizinhança ainda bem real. E, contudo, Gualtieri tem razão: “Que triste é estar distantes um metro.” A essa distância não nos conseguimos abraçar.
A interação que estabelecemos uns com os outros não ultrapassa o limiar da intimidade se fica restrita unicamente à dimensão verbal. O tato é o que nos permite sentir o outro e informá-lo, mesmo sem palavras, acerca de nós próprios. O escultor Auguste Rodin, por exemplo, explicava, partindo da artesanal tatilidade da sua arte, que “o corpo é um molde no qual as emoções se imprimem”. A abertura do corpo ao mundo não se realiza sem o tato, que é o seu traço de união primordial. Por fugaz que seja, o tato é uma prova sensível que desmente um dos nossos medos mais terríveis: o do isolamento radical, o da solidão absoluta. Não admira que os nossos corpos humanos tenham necessidade de se exprimir como ‘con-tato’.
A amizade, o amor, o carinho, o cuidado não dispensam a dimensão sensorial. É claro que as palavras são importantes e que, também aí, todos trazemos tarefas por concretizar, porque raramente chegamos a dizer aos outros — mas a dizer mesmo —, quanto eles são importantes para nós. Porém, todos sabemos como as palavras ficam aquém ou como, pelo contrário, se iluminam quando acariciamos o rosto dos que amamos, quando sem apertar apertamos a mão de um velho ou de uma criança, quando tocamos o ombro de um amigo. Esse ‘con-tacto’ é um veículo para o afeto. Não tem um plano. Não se guia por um fim. Mas é capaz de transmitir-nos confiança na bondade da vida. É capaz de garantir-nos que a vida não se dispersa no puro esquecimento: através do vidro fosco entrevemos um fio de sentido. Esse ‘con-tato’ acontece visivelmente na pele, mas é como se se deslocasse e estremecesse em nós de forma invisível. Podem ser instantes, mas perduram, nutrem, inauguram, confirmam.
O jesuíta e estudioso Matteo Ricci (1552 - 1610), que elaborou uma extraordinária antologia de ditos sobre a amizade, escreveu que “um amigo não é outra coisa que a metade de mim mesmo”. Isto que pode soar como uma definição abstrata, ganha a sua tangível transparência num abraço. Quando os braços se enlaçam incorporamos e somos incorporados no coração uns dos outros, como se no coração do nosso amigo tivéssemos um ninho ou uma pátria. Nesse abandono consentido expressam-se certezas que nos são tão caras: reciprocidade, alegria, ternura, presença, encontro e reencontro, comunhão. O instante do abraço declara-as todas num jorro, e como que as sela na nossa alma. Por isso, o abraço não é só uma amarra, uma pausa onde a respiração repousa: é também um trampolim que nos projeta onde, sem a confiança e a inspiração dos que nos amam, não conseguiríamos chegar.
A pandemia tornou as relações menos táteis. Têm de ser os olhos e as palavras a explicar que gostaríamos de apertar a mão, trocar um beijo ou um abraço e não podemos. Mas a verdade é que passamos a transportar esse vazio em nós. O vazio de todos os abraços não-dados. Que, por vezes, nos pesa como uma ferida e outras nos alenta como uma promessa.
Dom José Tolentino Mendonça
In: imissio.net 25.02.23