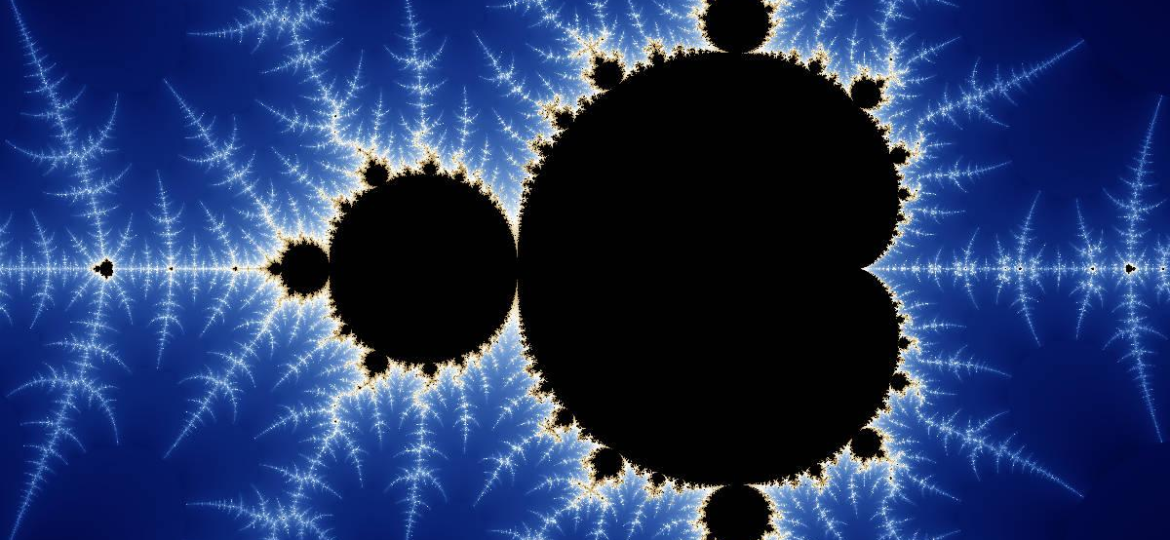A árdua travessia que estamos a viver reforça a evidência de duas premissas que interpretamos agora, porventura, melhor. A primeira prende-se com a importância da saúde pública. As dificuldades da hora presente acentuam a sua primazia como direito e valor fundamental que precisa de ser devidamente tutelado e garantido, pois é uma espécie de requisito prévio para que a vida, nas suas múltiplas expressões, se possa afirmar. A vida, que é sempre mais frágil e mais forte do que pensamos, está construída com o sistema das peças do dominó, isto é, numa dependência mútua. Por isso, uma devastadora crise sanitária como a que vivemos não é apenas uma crise sanitária, mas um abalo global. Porém, que precisamente reconhecendo o impacto poliédrico da pandemia, as nossas sociedades tenham elegido, como bem primeiro a salvaguardar, a saúde dos cidadãos é alguma coisa que as qualifica eticamente. Nesse sentido, a dramática e quotidiana luta, que há meses se vem jogando no campo da saúde pública, constitui o mais belo elogio àquilo que representa a ideia de um país. E aqui uma palavra de gratidão é devida aos atores que intervêm diretamente no campo da saúde, partindo das suas competências, mas operacionalizando-as com admirável espírito de abnegação, entrega e sacrifício.
Hoje temos assim mais clara a centralidade atribuída à saúde pública. Mas não só. Como que emerge uma visão mais integradora desse conceito, uma visão que o reconfigura, ajudando-nos a compreender a necessidade de construir um novo paradigma, sobre o que é a cura, o cuidado e a saúde. Não podemos continuar a reproduzir um esquema restritivo ou apenas técnico. A complexa experiência da pandemia impele-nos a identificar novos instrumentos de saúde pública que tenham em consideração a abrangente e intrincada fenomenologia da existência humana. Dois breves exemplos sobre os quais muito se poderia dizer: o consenso cada vez mais assente de que a solidão é uma doença mortal que tem de ser tratada com o mesmo empenho que colocamos no tratamento das outras patologias; e a consciência do papel fulcral que cabe à esperança nos processos terapêuticos e de reconstrução.
Lia, estes dias, uma interessante entrevista com o arquiteto Renzo Piano, que está neste momento a projetar três hospitais, um deles na região norte de Paris e que será o maior hospital de França. Neste último ano, vimos todos insistentemente mais imagens de hospitais do que no resto das nossas vidas. E que lição podemos retirar? O que é que nós vimos? Se pensarmos, o desenho dos hospitais espelham um entendimento social da sua função. Os hospitais no século XIX eram estruturados em diversos pavilhões, consoante as disciplinas médicas, formando um gentil arquipélago clínico, mas de ilhas separadas. No século XX triunfou a concepção do hospital monobloco, onde a técnica médica registou um efetivo domínio e obteve um funcionamento mais unitário, mas onde igualmente a dimensão humana se reduziu, a ponto de desaparecer. Por isso, mesmo se alguns o possam talvez acusar de excessivo otimismo, Renzo Piano defende que a aceleração trazida pela pandemia tornou os tempos maduros para um salto cultural: os hospitais deste surpreendente século XXI são chamados a expressar um novo humanismo. Procurando colocar em diálogo elementos que têm estado desligados: a excelência médica e a excelência de humanidade que se possa viver, o olhar integral à pessoa humana (que é corpo, mas também espírito, sentimento, emoções...), o exercício da ciência e o sentido de beleza, a funcionalidade dos espaços e a relação com a natureza.
Dom José Tolentino Mendonça
19.04.2021
In: imissio.net
Imagem: pexels.com