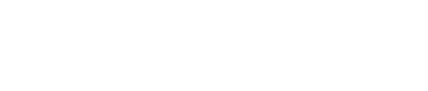Dias sombrios. Nesses momentos, volto às minhas origens filosóficas, o jansenismo francês do século 17 e seu produto essencial, "les moralistes" (que em filosofia nada tem a ver com "moralista" no senso comum). Os moralistas franceses eram grandes especialistas do comportamento, da alma e da natureza humana. Nietzsche, Camus, Bernanos e Cioran eram leitores desses gênios da psicologia. Pascal, La Rochefoucauld e La Bruyère foram os maiores moralistas.
O Brasil, que sempre foi violento, agora tem uma nova forma de violência, aquela "do bem". E, aparentemente, quase todo mundo supostamente "inteligente" assume que é chegada a hora de quebrar tudo. Nada de novo no fronte: os seres humanos sempre gostaram da violência e alguns inventam justificativas bonitas pra serem violentos.
Impressiona-me a face de muitos desses ativistas que encheram a mídia nas ultimas semanas. Olhar duro, sem piedade, movido pela certeza moral de que são representantes "do bem". Por viver a milhares de anos-luz de qualquer possibilidade de me achar alguém "do bem", desconfio profundamente de qualquer pessoa que se acha "do bem". Quando o país é tomado por arautos do "bem social", suspeito de que chegue a hora em que a única saída seja fugir.
A fuga do mundo ("fuga mundi") sempre foi um tema filosófico, inclusive entre os jansenistas, conhecidos como "les solitaires" por buscarem viver longe do mundo. Eles tinham uma visão da natureza humana pautada pela suspeita da falsidade das virtudes. O nome "jansenista" vem do fato de eles se identificarem com a versão "dura" (sem a graça de Deus, o homem não sai do pecado) da teoria da graça agostiniana feita pelo teólogo Cornelius Jansenius, que viveu no século 16.
Pascal, La Fontaine e Racine eram jansenistas. Aliás, grande parte da elite econômica e intelectual francesa da época foi jansenista. Por isso, apesar de Luís 13 e 14 (e de seus cardeais Richelieu e Mazarin) e da Igreja os perseguirem, nunca conseguiram de fato aniquilá-los.
Hoje, por termos em grande medida escapado das armadilhas morais do cristianismo (não que eu julgue o cristianismo um poço de armadilhas, muito pelo contrário), tais como repressão do outro, puritanismo, intolerância, assumimos que escapamos da natureza humana e de sua vocação irresistível à repressão do outro, ao puritanismo e à intolerância.
Elas apenas trocaram de lugar. A face do ativista trai sua origem no inquisidor.

Uma das maiores obras do jansenismo é "La Fausseté des Vertus Humaines" (a falsidade das virtudes humanas), de Jacques Esprit, do século 17. Ele foi amigo pessoal do Conde de La Rochefoucauld. Alguns especialistas consideram o conde um discípulo de Esprit. A edição da Aubier, de 1996, traz um excelente prefácio do "jansenista contemporâneo" Pascal Quignard.
O pressuposto de Esprit é que toda demonstração de virtude carrega consigo uma mentira e que as pessoas que se julgam virtuosas são na realidade falsas, justamente pela certeza de que são virtuosas.
A certeza acerca da sua retidão moral é sempre uma mistificação de si mesmo. Os jansenistas sempre disseram que os que se julgam virtuosos são na verdade vaidosos. Suspeito que o que vi nos olhos desses ativistas nessas últimas semanas era a boa e velha vaidade.
Mas hoje, como saiu de moda usar os pecados como ferramentas de análise do ser humano e passamos a acreditar em mitos como dialética, povo e outros quebrantos, a vaidade deixou de ser critério para analisarmos os olhos dos vaidosos. Melhor para eles, porque assim podem ser vaidosos sem que ninguém os perceba. Vivemos na época mais vaidosa da história.
"A verdade não é primeira: ela é uma desilusão; ela é sempre uma desmistificação que supõe a mistificação que a funda e que ela (a desmistificação) desnuda", afirma Pascal Quignard no prefácio do livro de Esprit. Eis a ideia de moral no jansenismo: a verdade moral é sempre negativa, sempre ilumina a sombra que se esconde por trás daquele que se julga justo.
Que Deus tenha piedade de nós num mundo tomado por pessoas que se julgam retas.
Luiz Felipe Pondé
(texto publicado na Folha de São Paulo em 28/10/2013)
Dias atrás entrei na catedral de Santiago do Chile. Minha mulher, discípula de Guimarães Rosa, para quem "quanto mais religião melhor", adora todo e qualquer santo. Eu, mais miserável nesse assunto, apesar de não religioso, sou facilmente capturado pelo aspecto estético e sublime de templos sagrados. Foi um prazer ver e ouvir aquela missa "en chileno".
A catedral silenciosa, discreta e com pouca luz, com sua altura gigantesca, nos ajudava a lembrar nosso lugar no mundo -que não me venham os inteligentinhos fazer o blá-blá-blá da crítica à religião, porque a conheço desde o jardim da infância.
Sentir-se "em seu justo lugar no mundo" é parte clássica de toda boa espiritualidade, contra esse narcisismo dos "direitos do Eu total" de hoje, essa coisa "ninja brega".
Este "justo lugar no mundo" é parte daquilo que o historiador das religiões Mircea Eliade chama de perceber que não somos o "axis mundi" (o eixo do mundo). Toda verdadeira espiritualidade deve nos ajudar a vivenciar este "descentramento" de nosso próprio valor.
O mistério me encanta e me faz sentir menos banal. A sensação da banalidade de tudo me esmaga continuamente. Sou um peregrino da falta de sentido. Uma testemunha da noite escura da alma de San Juan de la Cruz e Terrence Malick. Não levo a sério ateus militantes que ainda acham que ateísmo é "evolução espiritual". Para mim, ateísmo é, apenas, o modo mais óbvio de ser e um estágio elementar em filosofia.

Fiquei ateu com oito anos. Alguém poderia dizer que com os anos me tornei um ateu encantado pelo "personagem" Deus e pela possibilidade de existir o perdão no mundo, justamente porque, no fundo, não o merecemos. Sou cego, mas pressinto o espaço à minha volta.
O padre em sua homilia falava da alegria da vida. O papa Francisco quando cá esteve tocou neste tema, falando da "religião da alegria". Não se trata de autoajuda, como pode parecer aos desinformados, mas da mais fina teologia moral cristã (e judaica também). O que é essa alegria? Vejamos.
A vida é precária. A pobreza (material, espiritual, psicológica) é como a gravidade, na hora em que relaxamos, ela nos consome. É uma questão de tempo. Nosso caminho é "para baixo". Não é à toa que tomamos antidepressivos o tempo todo, cada um se vira como pode. A solidariedade na melancolia devia nos unir a todos. O que não perdoo na autoajuda é que ela mente para nosso justo desespero dizendo que ele é mera questão de incompetência.
É aqui que começa a consistência da teologia da alegria a qual se refere o papa Francisco: temos todas as razões "materiais" do mundo para sermos tristes, o milagre é não sermos tristes todo o tempo.
Confiar na vida é quase impossível. A fé na vida é um mistério e um dom. Muito mais caro do que a inteligência e a cultura -não as desprezo, porque inclusive elas são quase tudo que tenho. Este é o sentido de fé como "estar acompanhando" em sua encíclica "A Luz da Fé".
A alegria da qual falava o padre chileno e o papa Francisco é a "alegria teologal", aquela que nasce das três virtudes teologais básicas: a esperança, a fé e a caridade (o amor).
Ter esperança, crer na vida e amar são experiências que separam a infância espiritual da maturidade d'alma. O desespero é o caminho mais curto entre dois momentos na vida. A esperança é que é o milagre para quem enxerga o mundo como ele é. Por isso, toda literatura espiritual séria começa pelo vale das sombras.
Dizer que uma virtude é teologal é dizer que ela é fruto da graça de Deus, não uma dedução a partir dos fatos do mundo. Dos fatos, apenas deduzimos o desespero. Mas, por isso mesmo, esta alegria, quando nos visita, tem o hálito divino, por sua própria quase total impossibilidade de ser, para quem reconhece o vale das sombras à nossa volta. Na mística, esta alegria pode nos levar às lágrimas. Este é o conhecido "dom das lágrimas", marca de quem vê a beleza do mundo em meio ao véu absoluto do desespero.
Nada a ver com religião como muleta, mas sim com uma espiritualidade de quem caminha só, eternamente, entre sombras.
Luiz Felipe Pondé
Texto publicado na Folha de São Paulo em 26/08/2013
Artigo de Vito Mancuso
A ação do papa e a nova época para a Igreja que ele prefigura também têm efeitos sobre o mundo laico. Já se falou dos males da Igreja e das reformas de que ela precisa, mas eu acho que seria sábio se perguntar se também não existe algo na mente laica que precise ser reformado. A análise é do teólogo italiano Vito Mancuso, ex-professor da Università Vita-Salute San Raffaele, de Milão, em artigo publicado no jornal La Repubblica, 04-10-2013. A tradução é de Moisés Sbardelotto.
Eis o texto.
Iniciará realmente uma nova época para a Igreja e, portanto, inevitavelmente, também para a sociedade, como prefigurava Scalfari na conclusão da entrevista com o Papa Francisco? O que surpreende nas respostas do papa é o ponto de vista assumido, um inédito olhar extra moenia ou "fora dos muros", que não pensa o mundo a partir da fortaleza-Igreja, mas, exatamente o contrário, pensa a Igreja a partir do mundo. Nos seus raciocínios, não há traço algum da costumeira perspectiva eclesiástica centrada no bem da Igreja e na defesa a priori da sua doutrina, da sua história, dos seus privilégios e dos seus bens tão frequentemente objeto de cuidado zeloso por parte dos eclesiásticos de todos os tempos (um monumento do pensamento católico como oDictionnaire de Théologie Catholique dedica nove páginas ao vocábulo "Bem" e 18 ao vocábulo "Bens eclesiásticos"!).
Ao contrário, há um pensamento que tem na mira unicamente o bem do mundo, e, por isso, o papa pode dizer que o problema mais urgente da Igreja é o desemprego dos jovens e a solidão dos idosos. Não as igrejas, os conventos e os seminários semivazios; não o relativismo cultural; não o sentir moral do nosso tempo tão diferente da moral católica; não a ameaça à vida e ao modelo tradicional de família. Não, o desemprego dos jovens e a solidão dos idosos.
O fato de ter assumido o bem do mundo como ponto de vista privilegiado levou o papa às duas seguintes afirmações capitais: 1) a Igreja não está preparada para o primado da dimensão social, ao contrário, há nela uma perspectiva vaticanocêntrica que produz uma nociva dimensão cortesã ("a corte é a lepra do papado"); 2) historicamente, ela nunca foi livre das fusões com a política – e, a esse propósito, a Igreja italiana de Ruini e Bagnasco deveria recitar muitos mea culpa por não ter denunciado a "imoralidade pública e privada de quem governava a Itália durante anos, dos quais, ao contrário, chegou até a contextualizar benignamente as blasfêmias públicas.
Mas a ação do papa e a nova época para a Igreja que ele prefigura pode não ter efeitos também sobre o mundo laico? Já se falou dos males da Igreja e das reformas de que ela precisa, mas eu acho que seria sábio se perguntar se também não existe algo na mente laica que precise ser reformado. É só a Igreja que deve mudar, ou a mudança e a reforma também interessam àqueles que se declaram laicos e não crentes? Naturalmente, que essas insígnias encontram-se os ideais mais variados, da extrema direita à extrema esquerda, e eu aqui me limito a discutir o pensamento laico progressista representado por Scalfari.

À pergunta do papa sobre o objeto do seu crer, Scalfari respondeu dizendo: "Eu acredito no Ser, isto é, no tecido do qual surgem as formas, os Entes", e pouco depois especificou que "o Ser é um tecido de energia, energia caótica, mas indestrutível e em eterna caoticidade", atribuindo a combinações casuais a emergência das formas, incluindo o homem, "o único animal dotado de pensamento, animado por instintos e desejos", mas que contém dentro de si também "uma vocação de caos".
Em suma, Scalfari se professou, como já havia feito nos seus livros, um discípulo de Nietzsche. Mas o que falta nessa visão do mundo? Tratando-se de uma herança daquele que quis ir "para além do bem e do mal", falta, obviamente, a possibilidade de fundar a ética como primado incondicional do bem e da justiça. Para Nietzsche, de fato, o Ser é um "monstro de força, sem princípio, sem fim, uma quantidade de energia fixa, como o bronze", o mundo "é a vontade de poder e nada mais".
Mas se o mundo é isso, segue-se daí que o liberalismo, como vontade de poder que só quer incrementar a si mesma, é a sua consequência mais lógica. Por que, portanto, se deveria lutar em nome da justiça, da solidariedade, da igualdade? Como não dar razão a Nietzsche que considerava esses ideais somente um truque velhaco dos fracos, incapazes de lutar com armas iguais com os fortes? Se o ser é só caos e força, a ação que busca a paz e a justiça está destinada, inevitavelmente, a permanecer sem fundamento.
Há muito tempo tenho pensado que a cultura progressista vive a grande aporia da incapacidade de fundamentar teoricamente a sua própria ideia-mãe, isto é, a justiça. Darwin substituiu Marx, e Nietzsche (atento leitor de Darwin) tornou-se o ponto de referência para muitos. O resultado é Darwin + Nietzsche, ou "o eterno retorno da força", isto é, uma visão obscura e machista do mundo, segundo a qual a força e a luta são a lógica fundamental da vida.
Se chegou o tempo de uma Igreja que dê mais espaço ao feminino, também chegou o tempo de um pensamento laico igualmente capaz de hospedar o feminino, entendendo-se com isso uma visão do mundo e da natureza que faça da harmonia e da relacionalidade o ponto de vista privilegiado.
De Aristóteles a Spinoza a Nietzsche, a substância sempre foi pensada como prioritária com respeito à relação: antes os entes e depois as relações entre eles. Hoje, a ciência nos ensina (esse é o sentido filosófico da descoberta do bóson de Higgs) que o contrário é verdadeiro, que antes há a relação e depois a substância, no sentido de que todos os entes são o resultado de um entrecruzamento de relações e tanto mais consistem quanto mais se alimentam de relações fecundas.
Esse é o pensamento feminino, um pensamento do primado da relação, contra o pensamento masculino baseado no primado da substância, e é escusado dizer que o pensamento feminino não significa necessariamente pensamento das mulheres, porque todo ser humano contém a dimensão feminina, e há mulheres que pensam e agem no masculino (considere-se, por exemplo, Margaret Thatcher, sem falar de algumas políticas italianas), enquanto há homens que pensam e agem no feminino (pense-se, por exemplo, em Gandhi e antes ainda em Buda ou em Jesus).
Eu penso que o nosso tempo realmente precisa de um novo paradigma da mente, de uma ecologia da mente no sentido etimológico de redescoberta do logos que informa o oikos, o termo grego para "casa", do qual vem a raiz "eco" e que se refere à natureza.
Scalfari, no seu credo, insiste no caos e não se equivoca, porque o caos é uma dimensão constitutiva da natureza; não é a única, porém, há também o logos, a cuja ação organizadora se deve a emergência da poeira cósmica primordial dos entes e da sua maravilha, incluindo a mente e o coração do homem.
Os grandes sábios da humanidade sempre entenderam isso, chamando o logos também de dharma, tao, hokmà etc., dependendo da sua tradição. Cito deliberadamente um pensador não cristão, o pagão Plotino: "Mais de uma vez aconteceu de eu me reaver, saindo do sono do corpo, e de me estranhar de tudo, nas profundezas do meu eu; nessas ocasiões, eu gozava da visão de uma beleza tão grande quanto fascinante que me convencia, então como nunca, de fazer parte de um destino mais elevado, realizando uma vida mais nobre: em suma, de ser equiparado ao divino, constituído sobre o mesmo fundamento de um deus" (Enéadas IV, 8, 1).
A união de logos + caos é a dinâmica dentro da qual o mundo se move e evolui. Ela nos faz compreender que a verdade não é uma exatidão, uma fórmula, uma equação, um dogma ou uma doutrina, em suma, algo estático. A verdade é a lógica da vida enquanto estendida à harmonia, portanto é um processo, uma dinâmica, um fluxo, uma energia, um método, uma via. A verdade é o bem enquanto harmonia das relações.
Nesse sentido Jesus dizia: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", certamente não pretendendo com isso exaltar o seu ego em um supremo narcisismo cósmico, mas prefigurando o seu estilo de vida baseado no amor como aquilo que melhor serve o Ser.
Decorre daí uma visão do mundo na qual a ontologia cede o primado à ética, isto é, na qual o verdadeiro não pode ser alcançado se não passando pelos caminhos do bem, e o amor se torna a suprema forma do pensar. Amor ipse intellectus, ensinava o místico medieval Guilherme de Saint-Thierry.
Os crentes são chamados a se renovar, e eu penso que, com humildade, sob a orientação desse papa extraordinário, muitos estão começando a fazê-lo. Mas os não crentes também são chamados a renovar a sua mente à luz do Ser não só caos, mas também logos, isto é, relacionalidade original em nível físico, que fundamenta o bem em nível ético. Talvez assim o ideal da justiça e da igualdade no centro do pensamento progressista mundial será removido das névoas do bonismo dos indivíduos e radicado em uma visão mais harmoniosa do mundo.
Publicado no IHU em 09.10.2013
Mas o que é a alegria? A alegria é expansão pessoalíssima e profunda. Não há duas alegrias iguais, como não há duas lágrimas ou dois prantos iguais. A alegria é uma gramática singular. Por um lado, tem uma expressão física, mas, por outro, conserva uma natureza evidentemente espiritual. Não se reduz a uma forma de bem-estar ou a um conforto emocional, embora se possa traduzir também dessas maneiras. A alegria é uma revelação da vida profunda. É abrir uma porta, um caminho, um corredor para a passagem do Espírito.
No espaço teológico e eclesial, infelizmente, a alegria tornou-se um motivo tratado com alguma parcimônia. Falamos pouco do Evangelho da Alegria e, entre tudo aquilo que assumimos como dever, como tarefa, raramente ele está. O dever da alegria, estarmos quotidianamente hipotecados à alegria, enviados em nome da alegria, não nos é tantas vezes recordado quanto devia. As nossas liturgias, pregações, catequeses e pastorais abordam a alegria quase com pudor.

Isto para dizer que a alegria tornou-se um tópico mais ou menos marginal, uma espécie de subtema e, por vezes, até uma espécie de interdito. Nietzsche dizia que o cristianismo seria mais credível se os cristãos parecessem alegres. Que fizemos nós do Evangelho da Alegria?
Definimo-nos culturalmente como homo faber, homem artesão, fabricante, aquele que se realiza na própria ação. E distanciamos da nossa própria vida o horizonte do homo festivus, isto é, o que é capaz de celebrar, aquele que conduz a criação à sua plenitude.
A alegria nasce do acolhimento. Nasce quando aceitamos construir a vida numa cultura de hospitalidade. Há um filme de Ingmar Bergman em que uma personagem é uma rapariga anoréxica - e sabemos como a anorexia é uma forma de desistir da própria vida, de desinvestir afetivamente. A moça vai falar com um médico e ele diz-lhe isto, que também vale para todos nós: «Olha há só um remédio para ti, só vejo um caminho: em cada dia deixa-te tocar por alguém ou por alguma coisa». A alegria é esta hospitalidade.
José Tolentino Mendonça
É diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura de Portugal
(Texto publicado in: Agência Ecclesia - 24.09.13)
Publicamos abaixo a carta enviada pelo Papa Francisco ao Jornal La Republica e publicada dia 11.09.2013. A carta é uma resposta a indagações feitas pelo Jornalista Eugenio Scalfari.
Eis o texto:
Ilustríssimo Doutor Scalfari, é com viva cordialidade que, embora somente em grandes linhas, gostaria de tentar com esta minha carta responder à sua, que, a partir das páginas do La Repubblica, o senhor quis me endereçar no dia 7 de julho com uma série de reflexões pessoais suas, que depois o senhor enriqueceu nas páginas do mesmo jornal, no dia 7 de agosto.
Agradeço-lhe, acima de tudo, pela atenção com que quis ler a Encíclica Lumen fidei. Ela, de fato, na intenção do meu amado Antecessor, Bento XVI, que a concebeu e em grande medida a redigiu, e do qual, com gratidão, eu a herdei, é dirigida não somente para confirmar na fé em Jesus Cristo aqueles que nela já se reconhecem, mas também para suscitar um diálogo sincero e rigoroso com aqueles que, como o senhor, se definem como "um não crente há muitos anos interessado e fascinado pela pregação de Jesus de Nazaré".
Parece-me, portanto, certamente positivo não só para nós, individualmente, mas também para a sociedade em que vivemos determo-nos para dialogar sobre uma realidade tão importante como a fé, que se refere à pregação e à figura de Jesus. Eu penso que há, em particular, duas circunstâncias que tornam hoje necessário e precioso esse diálogo.
Ele, aliás, constitui, como se sabe, um dos objetivos principais do Concílio Vaticano II, desejado por João XXIII, e do ministério dos Papas que, cada um com a sua sensibilidade e o seu aporte, desde então e até hoje caminharam no sulco traçado pelo Concílio. A primeira circunstância – como se refere nas páginas iniciais da Encíclica – deriva do fato que, ao longo dos séculos da modernidade, assistiu-se a um paradoxo: a fé cristã, cuja novidade e incidência sobre a vida do ser humano, desde o início, foram expressadas precisamente através do símbolo da luz, foi muitas vezes rotulada como a escuridão da superstição que se opõe à luz da razão. Assim, entre a Igreja e a cultura de inspiração cristã, de um lado, e a cultura moderna de marca iluminista, de outro, chegou-se à incomunicabilidade. Chegou agora o tempo, e o Vaticano II inaugurou justamente a sua época, de um diálogo aberto e sem preconceitos que reabra as portas para um sério e fecundo encontro.
A segunda circunstância, para quem busca ser fiel ao dom de seguir Jesus na luz da fé, deriva do fato de que esse diálogo não é um acessório secundário da existência do crente: ao invés, é uma expressão íntima e indispensável dela. Permita-me citar-lhe, a propósito, uma afirmação a meu ver muito importante da Encíclica: como a verdade testemunhada pela fé é a do amor – sublinha-se – "resulta claro que a fé não é intransigente, mas cresce na convivência que respeita o outro. O crente não é arrogante; ao contrário, a verdade o torna humilde, sabendo que, mais do que possuirmo-la nós, é ela que nos abraça e nos possui. Longe de nos enrijecer, a segurança da fé nos põe a caminho e torna possível o testemunho e o diálogo com todos" (n. 34). É esse o espírito que anima as palavras que eu lhe escrevo.
A fé, para mim, nasceu do encontro com Jesus. Um encontro pessoal, que tocou o meu coração e deu uma direção e um sentido novo à minha existência. Mas, ao mesmo tempo, um encontro que se tornou possível pela comunidade de fé em que eu vivia e graças à qual eu encontrei o acesso à inteligência da Sagrada Escritura, à vida nova que, como água que jorra, brota de Jesus através dos Sacramentos, à fraternidade com todos e ao serviço dos pobres, imagem verdadeira do Senhor. Sem a Igreja – acredite-me –, eu não teria podido encontrar Jesus, embora na consciência de que aquele imenso dom que é a fé é custodiado nos frágeis vasos de barro da nossa humanidade.
Ora, é precisamente a partir daí, dessa experiência pessoal de fé vivida na Igreja, que eu me sinto confortável para ouvir as suas perguntas e para buscar, junto com o senhor, as estradas ao longo das quais possamos, talvez, começar a fazer um trecho de caminho juntos.
Perdoe-me se eu não seguir passo a passo as argumentações propostas pelo senhor no editorial do dia 7 de julho. Parece-me mais frutífero – ou, ao menos, é mais natural para mim – ir de certo modo ao coração das suas considerações. Não vou entrar nem na modalidade expositiva seguida pela Encíclica, em que o senhor entrevê a falta de uma seção dedicada especificamente à experiência histórica de Jesus de Nazaré.
Observo apenas, para começar, que uma análise desse tipo não é secundária. Trata-se, de fato, seguindo, além disso, a lógica que guia o desdobramento da Encíclica, de deter a atenção sobre o significado do que Jesus disse e fez, e, assim, em última instância, sobre o que Jesus foi e é para nós. As Cartas de Paulo e o Evangelho de João, aos quais se faz referência particular na Encíclica, são construídos, de fato, sobre o sólido fundamento do ministério messiânico de Jesus de Nazaré que chegou ao seu auge resolutivo na páscoa de morte e ressurreição.
Portanto, é preciso se confrontar com Jesus, eu diria, na concretude e na rudeza da sua história, como nos é narrada sobretudo pelo mais antigo dos Evangelho, o de Marcos. Constata-se então que o "escândalo" que a palavra e a práxis de Jesus provocam em torno dele deriva da sua extraordinária "autoridade": uma palavra, esta, atestada desde o Evangelho de Marcos, mas que não é fácil traduzir bem em italiano. A palavra grega é "exousia", que, literalmente, refere-se ao que "provém do ser" que se é. Não se trata de algo exterior ou forçado, portanto, mas de algo que emana de dentro e que se impõe por si só. Jesus, com efeito, impressiona, surpreende, inova a partir – ele mesmo o diz – da sua relação com Deus, chamado familiarmente de Abbá, que lhe confere essa "autoridade" para que ele a gaste em favor dos homens.
Assim, Jesus prega "como quem tem autoridade", cura, chama os discípulos a segui-lo, perdoa... todas coisas que, no Antigo Testamento, são de Deus, e somente de Deus. A pergunta que mais vezes retorna no Evangelho de Marcos: "Quem é este que...?", e que diz respeito à identidade de Jesus, nasce da constatação de uma autoridade diferente da do mundo, uma autoridade que não tem como fim exercer um poder sobre os outros, mas servi-los, dar-lhes liberdade e plenitude de vida. E isso até o ponto de pôr em jogo a sua própria vida, até experimentar a incompreensão, a traição, a rejeição, até ser condenado à morte, até desabar no estado de abandono sobre a cruz. Mas Jesus permanece fiel a Deus, até o fim.
E é precisamente então – como exclama o centurião romano aos pés da cruz, no Evangelho de Marcos – que Jesusse mostra, paradoxalmente, como o Filho de Deus! Filho de um Deus que é amor e que quer, com todo o seu próprio ser, que o ser humano, cada ser humano, se descubra e viva também ele como seu verdadeiro filho. Isso, para a fé cristã, é certificado pelo fato de que Jesus ressuscitou: não para trazer novamente o triunfo sobre quem o rejeitou, mas para atestar que o amor de Deus é mais forte do que a morte, o perdão de Deus é mais forte do que todo o pecado, e que vale a pena gastar a própria vida, até o fim, para testemunhar esse imenso dom.
A fé cristã crê nisto: que Jesus é o Filho de Deus que veio para dar a sua vida para abrir a todos o caminho do amor. Por isso, o senhor tem razão, ilustre Dr. Scalfari, quando vê na encarnação do Filho de Deus o eixo da fé cristã.Tertuliano já escrevia: "Caro cardo salutis", a carne (de Cristo) é o eixo da salvação. Porque a encarnação, isto é, o fato de que o Filho de Deus veio na nossa carne e compartilhou alegrias e dores, vitórias e derrotas da nossa existência, até o grito da cruz, vivendo todas as coisas no amor e na fidelidade ao Abbá, testemunha o incrível amor que Deus tem por cada ser humano, o valor inestimável que lhe reconhece. Cada um de nós, por isso, é chamado a fazer seu o olhar e a escolha de amor de Jesus, a entrar no seu modo de ser, de pensar e de agir. Essa é a fé, com todas as expressões que são descritas pontualmente na Encíclica.
Ainda no editorial do dia 7 de julho, o senhor me pergunta, além disso, como entender a originalidade da fé cristã, uma vez que ela se articula justamente na encarnação do Filho de Deus com relação a outras fés que gravitam, ao invés, em torno da transcendência absoluta de Deus.
A originalidade, eu diria, está precisamente no fato de que a fé nos faz participar, em Jesus, da relação que Ele tem com Deus que é Abbá e, nessa luz, da relação que Ele tem com todos os outros seres humanos, incluindo os inimigos, no sinal do amor. Em outros termos, a filiação de Jesus, como ela é apresentada pela fé cristã, não é revelada para marcar uma separação intransponível entre Jesus e todos os outros: mas para nos dizer que, n'Ele, todos somos chamados a ser filhos do único Pai e irmãos entre nós. A singularidade de Jesus é pela comunicação, não pela exclusão.
Certamente, segue-se também disso – e não é uma coisa pequena – aquela distinção entre a esfera religiosa e a esfera política que é sancionada no "dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César", afirmada com clareza por Jesus e sobre a qual, laboriosamente, se construiu a história do Ocidente. A Igreja, de fato, é chamada a semear o fermento e o sal do Evangelho, isto é, o amor e a misericórdia de Deus que alcançam todos os seres humanos, apontando para a meta ultraterrena e definitiva do nosso destino, enquanto à sociedade civil e política cabe a tarefa árdua de articular e encarnar na justiça e na solidariedade, no direito e na paz, uma vida cada vez mais humana. Para quem vive a fé cristã, isso não significa fuga do mundo ou busca de qualquer hegemonia, mas sim serviço ao ser humano, a todo o ser humano e a todos os seres humanos, a partir das periferias da história e mantendo desperto o senso da esperança que impulsiona a fazer o bem apesar de tudo e olhando sempre além.
O senhor me pergunta também, na conclusão do seu primeiro artigo, o que dizer aos irmãos judeus acerca da promessa feita a eles por Deus: ela foi totalmente esvaziada? Esta é – acredite-me – uma interrogação que nos interpela radicalmente, como cristãos, porque, com a ajuda de Deus, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, redescobrimos que o povo judeu ainda é, para nós, a raiz santa a partir da qual germinou Jesus. Eu também, na amizade que cultivei ao longo de todos esses anos com os irmãos judeus na Argentina, muitas vezes na oração interroguei a Deus, de modo particular quando a mente ia ao encontro das recordações da terrível experiência do Holocausto. Aquilo que eu posso lhe dizer, com o apóstolo Paulo, é que nunca falhou a fidelidade de Deus à aliança feita com Israel e que, através das terríveis provações desses séculos, os judeus conservaram a sua fé em Deus. E por isso, a eles, nós nunca seremos suficientemente gratos, como Igreja, mas também como humanidade. Eles, além disso, justamente perseverando na fé no Deus da aliança, lembram a todos, também a nós, cristãos, o fato de que estamos sempre à espera, como peregrinos, do retorno do Senhor e que, portanto, sempre devemos estar abertos a Ele e nunca nos encastelarmos naquilo que já alcançamos.
Chego, assim, às três perguntas que o senhor me faz no artigo do dia 7 de agosto. Parece-me que, nas duas primeiras, o que está no seu coração é entender a atitude da Igreja para com aqueles que não compartilham a fé emJesus. Acima de tudo, o senhor me pergunta se o Deus dos cristãos perdoa quem não crê e não busca a fé. Posto que – e é a coisa fundamental – a misericórdia de Deus não tem limites se nos dirigimos a Ele com coração sincero e contrito, a questão para quem não crê em Deus está em obedecer à própria consciência. O pecado, mesmo para quem não tem fé, existe quando se vai contra a consciência. Ouvir e obedecer a ela significa, de fato, decidir-se diante do que é percebido como bom ou como mau. E nessa decisão está em jogo a bondade ou a maldade do nosso agir.
Em segundo lugar, o senhor me pergunta se o pensamento segundo o qual não existe nenhum absoluto e, portanto, nem mesmo uma verdade absoluta, mas apenas uma série de verdades relativas e subjetivas, é um erro ou um pecado. Para começar, eu não falaria, nem mesmo para quem crê, em verdade "absoluta", no sentido de que absoluto é aquilo que é desamarrado, aquilo que é privado de qualquer relação. Ora, a verdade, segundo a fé crença, é o amor de Deus por nós em Jesus Cristo. Portanto, a verdade é uma relação! Tanto é verdade que cada um de nós a capta, a verdade, e a expressa a partir de si mesmo: da sua história e cultura, da situação em que vive etc. Isso não significa que a verdade é variável e subjetiva, longe disso. Mas significa que ela se dá a nós sempre e somente como um caminho e uma vida. Talvez não foi o próprio Jesus que disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida"? Em outras palavras, a verdade, sendo definitivamente uma só com o amor, exige a humildade e a abertura a ser buscada, acolhida e expressada. Portanto, é preciso entendermo-nos bem sobre os termos, e, talvez, para sair dos impasses de uma contraposição... absoluta, refazer profundamente a questão. Penso que isso seja absolutamente necessário hoje para entabular aquele diálogo sereno e construtivo que eu esperava no início deste meu dizer.
Na última pergunta, o senhor me questiona se, com o desaparecimento do ser humano sobre a terra, também desaparecerá o pensamento capaz de pensar Deus. Certamente, a grandeza do ser humano está em poder pensar Deus. Isto é, em poder viver uma relação consciente e responsável com Ele. Mas a relação entre duas realidades. Deus – este é o meu pensamento e esta é a minha experiência, mas quantos, ontem e hoje, os compartilham! – não é uma ideia, embora altíssima, fruto do pensamento do ser humano. Deus é Realidade, com "R" maiúsculo. Jesusno-lo revela – e vive a relação com Ele – como um Pai de bondade e misericórdia infinitas. Deus não depende, portanto, do nosso pensamento. Além disso, mesmo quando viesse a acabar a vida do ser humano sobre a terra – e para a fé cristã, em todo caso, este mundo como nós o conhecemos está destinado a desaparecer –, o ser humano não deixará de existir e, de um modo que não sabemos, assim também o universo criado com ele. A Escritura fala de "novos céus e nova terra" e afirma que, no fim, no onde e no quando que está além de nós, mas para o qual, na fé, tendemos com desejo e expectativa, Deus será "tudo em todos".
Ilustre Dr. Scalfari, concluo assim estas minhas reflexões, suscitadas por aquilo que o senhor quis me comunicar e me perguntar. Acolha-as como a resposta tentativa e provisória, mas sincera e confiante, ao convite que nelas entrevi de fazer um trecho de estrada juntos. A Igreja, acredite-me, apesar de todas as lentidões, as infidelidades, os erros e os pecados que pode ter cometido e ainda pode cometer naqueles que a compõem, não tem outro sentido e fim senão o de viver e testemunhar Jesus: Ele que foi enviado pelo Abbá "para levar aos pobres o alegre anúncio, para proclamar aos presos a libertação e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano de graça do Senhor" (Lc 4, 18-9).
Com proximidade fraterna,
Francisco
A feliz expressão de Fédor Dostoievski, «a beleza salvará o mundo», faz com que cada um chegue à percepção de que o mundo pode ser resgatado com a beleza, a beleza do gesto, da inocência, do sacrifício, do ideal, da gratuitidade.
Hoje, porém, num mundo que relegou a beleza para o campo do fútil ou do ornamental, é legítimo interrogar-se: quem salvará a beleza do risco de se tornar vazia? Na nossa modernidade, a beleza rebaixa-se, permanece uma palavra que todos pronunciam, de que não conseguem privar-se, mas está confinada a um ângulo banal e sem valor: o efémero.
Foi reduzida a pouca coisa, frente às questões econômicas, financeiras e científicas que agitam a nossa sociedade. Foi-lhe reservado um lugar entre as mil coisas inúteis da vida, ficou confinada ao decorativo, àquilo que é máscara da realidade. Marginalizada também pela teologia.

É necessário salvar a beleza do mundo (Stefano Zecchí). Ela encontra-se, hoje, perante uma encruzilhada: entre a beleza-cosmética, autorreferencial, para a qual não tem sentido a busca do bem e do verdadeiro, porque não existe verdade, e a beleza-símbolo, porta que abre para o conhecimento e para o futuro, em que o homem aperfeiçoa a sua pessoa, intensifica a pesquisa, leva a cabo contínuas aproximações ao ser.
«O bem, separado da verdade e da beleza, é apenas um sentimento indefinido, um impulso privado de força. A beleza sem bem e verdade não passa de um ídolo. A verdade é o bem; a beleza é esse mesmo bem e essa mesma verdade encarnados numa forma viva e concreta» (Vladimir Solov'êv).
A beleza, em sentido próprio, é aquela que nos faz continuar a interrogar-nos com obstinado amor sobre o que vemos. Ela traz uma memória e uma profecia: evoca o reflexo de uma justiça ou de uma harmonia originária da criação, prefigura, com a força do seu fascínio, a restituição da criação ao seu sentido.
Ao invés, desviada da sua profecia, distraída da sua memória, a beleza autorreferencial encoraja também uma extinção voraz do desejo, uma posse destrutiva, como para Narciso. Exilada do seu nómos primeiro, que é o amor, pode introduzir uma trágica anestesia diante da dor do mundo, uma indiferença aos aviltamentos da Terra. A beleza separa-se, então, da esperança do homem.
Cabe a cada um, com as suas escolhas individuais, salvar esta beleza do mundo. Preservar a beleza que conserva em nós a capacidade de êxtase e de comunhão, a possibilidade do prazer de viver e de crer. Preservar o deslumbramento matinal do mundo.
A beleza confere, então, à existência, o sentido de uma aventura inédita que, com a arte e a realidade, com as coisas e com o espírito, com os afetos e com o absoluto, se mede por uma incessante maravilha (Salvatore Natali) e com obstinado amor.
Ermes Ronchi
In Tu és beleza, ed. Paulinas-Portugal
02.09.2013
A escuta, a vigilância, a atenção são ferramentas para uma viagem humana fecunda. Os Padres do deserto diziam: «O maior dos pecados é a distração». Vivemos num mundo que nos atropela continuamente, pela quantidade e velocidade da informação. As imagens que vemos também nos obsidiam, aprisionam e devoram. Na sobreposição de discursos e factos, nem sempre somos capazes de contrariar a alienação. E depois: quantos dos nossos gestos não se tornaram, entretanto, meros automatismos! Quantas das nossas escolhas não se esvaziaram de conteúdo, cabendo-nos administrar apenas a forma! É assim que acontece que numa cultura marcada por um excesso de signos, vivamos mergulhados numa inesperada e dramática pobreza simbólica. De certa maneira, enfraqueceu-se a nossa capacidade de ver, e com isso perdemos o acesso a dimensões necessárias de profundidade. O verbo mais importante é o ver, diziam os gregos. E para ver não basta olhar, não basta deslocar a visão para o outro lado da janela. É preciso, como avisa Fernando Pessoa, «não ter filosofia nenhuma». Só uma atitude de desprendimento nos permite aceder à vigilância autêntica. E não esqueçamos: só um coração pobre vigia. Só um peregrino descobre. Só o olhar do que não tem defesas consegue colher, no instante, a verdadeira presença.

Escreve o místico Silesius:: «a rosa é sem porquê, floresce porque floresce, não cuida de si própria, não pergunta se a vemos». Quando se diz ‘a rosa é sem porquê’, ou ‘a rosa é de ninguém’, propomo-nos investir num modo de construir o real que já não passa por sermos predadores e o real ser uma presa que vamos dominar ou domesticar. Entramos num espaço não já de predadores e presas, mas de vigilantes, de contemplativos, de operadores do assombro.
Vigiar é colocar-se na disponibilidade para a surpresa, para aquilo que vem, tendo consciência que o fundamental da vida não é o que adquirimos, o que fizemos, o que de alguma maneira dominamos, mas sim a incessante prática da hospitalidade. Toda a música que ouvimos, nos preparou, no fundo, para o ato da escuta. Todos os textos que estudamos, toda a poesia que lemos nos prepararam melhor para o ato da leitura. Toda a relação em que investimos, todo o afeto que partilhamos, todo o amor com que amamos, preparam-nos para o ato simples de amar. A vigilância é isso. Não está no apego ao mapa, mas no amor pela viagem. Temos mesmo de deixar a zona de conforto dos mapas para nos tornarmos viajantes, enamorados, vigilantes, sentinelas. Dir-se-ia que a vida nos pede uma escuta que atravesse o tempo, que perfure os séculos, que transcenda a paisagem, sintonizando com aquilo que verdadeiramente temos diante de nós. E, por isso, temo-nos de perguntar muitas vezes, pela vida fora: Qual é a nossa fronteira? O que é que nos olha de frente? O que trazemos diante de nós?
José Tolentino Mendonça
Padre e poeta portugues, autor do livro "Nenhum caminho será longo" - Edições Paulinas.
Texto originalmente publicado em Diário de Notícias - Ilha da Madeira - 19.08.2011

Foram dezenas os balanços da visita do papa Francisco ao Brasil. Todos, sem exceção, destacando a mudança de rumos da Igreja Católica. Embora o próprio cardeal Bergoglio propusesse uma nova topologia política – em vez de esquerda e direita entra o par centro e periferia –, desviando da inspiração da ideologia para a do ativismo, o que se constatou foi uma aproximação destemida entre religião e política, como há muito não se via.
Temos, todos nós, ocidentais pós-iluministas, uma concepção muito restrita de religião. Tudo se passa como se a crença fosse apenas experiência individual, enraizada na sensibilidade e na intuição. Perto de ser incomunicável, ela passaria ao largo de todo o esforço da razão em buscar a verdade. Mesmo o compartilhamento de valores, na linha da comunidade de destino, teria como suporte a relação direta com o sagrado, sem necessidade de justificação de qualquer natureza. A crença não precisa ser explicada.
Como se houvesse, no processo que nos constitui como pessoas, etapas que fossem se sobrepondo. Sobrecarregados pelo mistério da vida, todos nascem religiosos, com o tempo aprendem que a fé não garante nada além do próprio sujeito e, então, abre-se o terreno para a razão, as ciências e a arte, entre outras formas de expressão do nosso caminho em direção à maturidade.
Esse tem sido um caminho convencional, que separa fé e razão, ciência e superstição, indivíduo e sociedade. Basta prestar atenção na forma como as pessoas se tornam religiosas ou têm sua concepção de Deus moldada por uma cultura infantil: o Deus do medo, que tudo vê e tudo pode, além do espaço da compreensão e do diálogo. No entanto, quando se trata da experiência racional, quanto mais maduros, mais estamos abertos ao debate com o outro. Nossa concepção de razão amadurece com o tempo, nossa concepção de Deus queda adormecida em motivos atávicos.
Os adultos sabem que não existiram Adão e Eva, compreendem que se trata de uma história simbólica, o que permite, portanto, que convivam no mesmo sujeito dimensões da religião e da ciência. No entanto, nem tudo na religião (como querem os novos profetas do ateísmo) se reduz ao embate com a racionalidade. Não somos fé ou razão, mas fé e razão. A experiência religiosa, para merecer o campo de constituição do homem maduro, precisa dar a ele uma experiência que não seria alcançada em outro terreno que não o da espiritualidade.
Por isso, na história do pensamento, encontramos grandes filósofos e cientistas que, mesmo senhores dos instrumentos da razão, não apenas mantiveram sua inserção religiosa no mundo, como fizeram questão de refletir sobre elas. É o caso de, entre outros, dos filósofos Husserl (1859 –1938), Peirce (1839 –1914), Bergson (1859 –1941), Maritain (1892 –1973), Lévinas (1906 –1995) e Ricouer (1913 –2005) e de cientistas do porte de Max Planck (1858 –1947), Werner von Braun (1912 –1977) e Einstein (1879 –1955).
O que, no projeto intelectual desses pensadores, permite que tenham se dedicado com igual empenho à razão e à religião? Sobretudo a certeza de que, no terreno da fé, estamos tratando de uma experiência pessoal, e não de um conjunto de saberes ou instrumentos. A religião – e por isso ela não é contraditória com a razão – não se encaminha para o território do conhecimento, mas da prática de vida. Ser religioso não é sustentar um conjunto de dogmas (quase sempre equivocados), mas se comportar em relação aos outros a partir da noção de compromisso. Nesse sentido, toda religião é, antes de ser dogmática, política.
É preciso, no entanto, distinguir religião de igreja. A experiência religiosa, mesmo em grande parte dos casos se manifestando a partir da convenção que emana de uma igreja, qualquer que seja ela, vai muito além da institucionalidade. Talvez por isso os cismas e as heresias sejam o terreno comum das igrejas: não é possível emparedar o impulso para a transcendência nas normas sistematizadas por uma estrutura hierárquica, marcada por disputas internas.
Uma forma de constatar essa contradição é perceber como, hoje, todas as posições radicais em termos religiosos são resultado de demandas políticas, não de verdades reveladas. Assim, judeus e palestinos disputam a mesma região ancorados em argumentos pretensamente religiosos e de precedência histórica; católicos e evangélicos batalham pelos mesmos fiéis, igualmente sustentados por argumentos fundamentalistas que são traduções de interesses políticos claros; os muçulmanos são considerados perigosos em razão de comportamentos nitidamente políticos, que ganham tradução fideísta.
Reviravolta de Francisco
A visita do papa Francisco ao Brasil foi histórica exatamente por revelar a dimensão política da experiência religiosa. Não se trata de buscar aproximação com a teologia da libertação, em sua opção preferencial pelos pobres, ou de valorizar as críticas dirigidas ao consumismo e ao modelo inviável de desenvolvimento econômico concentrador e anti-humanista. Fosse isso, o papa apenas estaria apontando uma reversão de rota, um arejamento nas posturas tomadas pela Igreja Católica nas últimas décadas.
Há uma radicalidade nas atitudes de pronunciamentos de Bergoglio que apontam para a recuperação da dimensão social e comunicativa da experiência religiosa. O papa assumiu uma posição que vira as costas para o clericalismo (uma igreja que tem como gozo a realização ritual de seus mandamentos e convenções, entre a burocracia e o autoritarismo), para a ostentação (com a desconstrução de todos os símbolos de distinção de classe que vieram da nobreza para os corredores do Vaticano) e para o solipsismo (mantido vivo pelas seitas conservadoras que valorizam apenas atitudes pessoais e, quando muito, assistencialistas e redentoras de culpas psicológicas).
Além disso, e talvez tenha sido o ponto marcante da reviravolta franciscana, o papa fez questão de juntar no mesmo projeto as dimensões da espiritualidade e da convivência social. Reconheceu erros, defendeu punições exemplares aos ladrões, fugiu de qualquer desvio corporativista no julgamento de ações tomadas no âmbito da vida social. Diferenciou pecadores – que somos todos, segundo ele – dos criminosos. Aos primeiros, o perdão; aos outros, a cadeia.
Enquanto os papas anteriores tentavam separar pedofilia de Igreja e crimes financeiros da cúria, por exemplo, o novo papa não quis dar a ações condenáveis a capa de qualquer justificação religiosa, histórica ou dogmática. Nesse sentido, lembra a atitude de João XXIII, que, ao saber de uma greve dos servidores do Vaticano, ordenou o imediato processo de negociação que resultou em aumento de salário. Quando advertido de que o dinheiro sairia de obras da Igreja, respondeu: “Primeiro a justiça, depois a caridade”.
Por fim, a nota preocupante: há preconceito violento de parte da sociedade brasileira em relação aos evangélicos. É preciso reconhecer que grande parte da mídia e dos estudiosos da religião – postura que ecoa na classe média – compreende as religiões pentecostais e neopentecostais como capitulação, um sintoma de empobrecimento espiritual.
Várias análises apresentadas na última semana faziam questão de encarar a perda de fiéis da Igreja Católica para os evangélicos como um problema que precisava ser superado, doença social carente de tratamento, nunca como opção livre dos crentes. Nação acostumada a se sentir católica (“o maior país católico do mundo”), parece haver dor de consciência pelos fiéis perdidos pelo catolicismo, dor esta que instiga pesquisadores, jornalistas e leigos a se esforçar com ideias que contribuam para a “recuperação” dos fiéis à sua origem.
Há inspiração quase higienista e discriminatória por trás dessa atitude. Não que os evangélicos façam por merecer boa vontade, é só seguir suas manifestações preconceituosas, homofóbicas e questionáveis em termos éticos, sociais e econômicos. Mas essas são atitudes das quais a Igreja Católica, por sua vez, não pode igualmente se jactar em sua longa trajetória de equívocos.
A melhor lição ficou mesmo com Francisco ao se dirigir aos jovens: “Sejam revolucionários”. É bem mais edificante que ser católico ou evangélico.
João Paulo Cunha
Coordenador do Caderno Pensar do Jornal Estado de Minas
Texto publicado em 03/08/2013 no Jornal Estado de Minas

Discurso do Papa Francisco
Encontro com os dirigentes do CELAM
DOMINGO, 28 de julho de 2013
1. Introdução
Agradeço ao Senhor por esta oportunidade de poder falar com vocês, Irmãos Bispos responsáveis do CELAM no quadriênio 2011-2015. Há 57 anos que o CELAM serve as 22 Conferências Episcopais da América Latina e do Caribe, colaborando solidária e subsidiariamente para promover, incentivar e dinamizar a colegialidade episcopal e a comunhão entre as Igrejas da Região e seus Pastores.
Como vocês, também eu sou testemunha do forte impulso do Espírito na V Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, em Aparecida no mês de maio de 2007, que continua animando os trabalhos do CELAM para a anelada renovação das Igrejas particulares. Em boa parte delas, essa renovação já está em andamento. Gostaria de centrar esta conversação no patrimônio herdado daquele encontro fraterno e que todos batizamos como Missão Continental.
2. Características peculiares de Aparecida
Existem quatro características típicas da referida V Conferência. Constituem como que quatro colunas do desenvolvimento de Aparecida que lhe dão a sua originalidade.
1) Início sem documento
Medelín, Puebla e Santo Domingo começaram os seus trabalhos com um caminho preparatório que culminou em uma espécie de Instrumentum laboris, com base no qual se desenrolou a discussão, a reflexão e a aprovação do documento final. Em vez disso, Aparecida promoveu a participação das Igrejas particulares como caminho de preparação que culminou em um documento de síntese. Este documento, embora tenha sido ponto de referência durante a V Conferência Geral, não foi assumido como documento de partida. O trabalho inicial foi pôr em comum as preocupações dos Pastores perante a mudança de época e a necessidade de recuperar a vida de discípulo e missionário com que Cristo fundou a Igreja.
2) Ambiente de oração com o Povo de Deus
É importante lembrar o ambiente de oração gerado pela partilha diária da Eucaristia e de outros momentos litúrgicos, tendo sido sempre acompanhados pelo Povo de Deus. Além disso, realizando-se os trabalhos na cripta do Santuário, a “música de fundo” que os acompanhava era constituída pelos cânticos e as orações dos fiéis.
3) Documento que se prolonga em compromisso, com a Missão Continental
Neste contexto de oração e vivência de fé, surgiu o desejo de um novo Pentecostes para a Igreja e o compromisso da Missão Continental. Aparecida não termina com um documento, mas prolonga-se na Missão Continental.
4) A presença de Nossa Senhora, Mãe da América
É a primeira Conferência do Episcopado da América Latina e do Caribe que se realiza em um Santuário mariano.
3. Dimensões da Missão Continental
A Missão Continental está projetada em duas dimensões: programática e paradigmática. A missão programática, como o próprio nome indica, consiste na realização de atos de índole missionária. A missão paradigmática, por sua vez, implica colocar em chave missionária a atividade habitual das Igrejas particulares. Em consequência disso, evidentemente, verifica-se toda uma dinâmica de reforma das estruturas eclesiais. A “mudança de estruturas” (de caducas a novas) não é fruto de um estudo de organização do organograma funcional eclesiástico, de que resultaria uma reorganização estática, mas é consequência da dinâmica da missão. O que derruba as estruturas caducas, o que leva a mudar os corações dos cristãos é justamente a missionariedade. Daqui a importância da missão paradigmática.
A Missão Continental, tanto programática como paradigmática, exige gerar a consciência de uma Igreja que se organiza para servir a todos os batizados e homens de boa vontade. O discípulo de Cristo não é uma pessoa isolada em uma espiritualidade intimista, mas uma pessoa em comunidade para se dar aos outros. Portanto, a Missão Continental implica pertença eclesial.
Uma posição como esta, que começa pelo discipulado missionário e implica entender a identidade do cristão como pertença eclesial, pede que explicitemos quais são os desafios vigentes da missionariedade discipular. Me limito a assinalar dois: a renovação interna da Igreja e o diálogo com o mundo atual.
Renovação interna da Igreja
Aparecida propôs como necessária a Conversão Pastoral. Esta conversão implica acreditar na Boa Nova, acreditar em Jesus Cristo portador do Reino de Deus, em sua irrupção no mundo, em sua presença vitoriosa sobre o mal; acreditar na assistência e guia do Espírito Santo; acreditar na Igreja, Corpo de Cristo e prolongamento do dinamismo da Encarnação.
Neste sentido, é necessário que nos interroguemos, como Pastores, sobre o andamento das Igrejas a que presidimos. Estas perguntas servem de guia para examinar o estado das dioceses quanto à adoção do espírito de Aparecida, e são perguntas que é conveniente pôr-nos, muitas vezes, como exame de consciência.
1. Procuramos que o nosso trabalho e o de nossos presbíteros seja mais pastoral que administrativo? Quem é o principal beneficiário do trabalho eclesial, a Igreja como organização ou o Povo de Deus na sua totalidade?
2. Superamos a tentação de tratar de forma reativa os problemas complexos que surgem? Criamos um hábito proativo? Promovemos espaços e ocasiões para manifestar a misericórdia de Deus? Estamos conscientes da responsabilidade de repensar as atitudes pastorais e o funcionamento das estruturas eclesiais, buscando o bem dos fiéis e da sociedade?
3. Na prática, fazemos os fiéis leigos participantes da Missão? Oferecemos a Palavra de Deus e os Sacramentos com consciência e convicção claras de que o Espírito se manifesta neles?
4. Temos como critério habitual o discernimento pastoral, servindo-nos dos Conselhos Diocesanos? Tanto estes como os Conselhos paroquiais de Pastoral e de Assuntos Econômicos são espaços reais para a participação laical na consulta, organização e planejamento pastoral? O bom funcionamento dos Conselhos é determinante. Acho que estamos muito atrasados nisso.
5. Nós, Pastores Bispos e Presbíteros, temos consciência e convicção da missão dos fiéis e lhes damos a liberdade para irem discernindo, de acordo com o seu processo de discípulos, a missão que o Senhor lhes confia? Apoiamo-los e acompanhamos, superando qualquer tentação de manipulação ou indevida submissão? Estamos sempre abertos para nos deixarmos interpelar pela busca do bem da Igreja e da sua Missão no mundo?
6. Os agentes de pastoral e os fiéis em geral sentem-se parte da Igreja, identificam-se com ela e aproximam-na dos batizados indiferentes e afastados?
Como se pode ver, aqui estão em jogo atitudes. A Conversão Pastoral diz respeito, principalmente, às atitudes e a uma reforma de vida. Uma mudança de atitudes é necessariamente dinâmica: “entra em processo” e só é possível moderá-lo acompanhando-o e discernindo-o. É importante ter sempre presente que a bússola, para não se perder nesse caminho, é a identidade católica concebida como pertença eclesial.
Diálogo com o mundo atual
Faz-nos bem lembrar estas palavras do Concílio Vaticano II: As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens do nosso tempo, sobretudo dos pobres e atribulados, são também alegrias e esperanças, tristezas e angústias dos discípulos de Cristo (cf. GS, 1). Aqui reside o fundamento do diálogo com o mundo atual.
A resposta às questões existenciais do homem de hoje, especialmente das novas gerações, atendendo à sua linguagem, entranha uma mudança fecunda que devemos realizar com a ajuda do Evangelho, do Magistério e da Doutrina Social da Igreja. Os cenários e areópagos são os mais variados. Por exemplo, em uma mesma cidade, existem vários imaginários coletivos que configuram “diferentes cidades”. Se continuarmos apenas com os parâmetros da “cultura de sempre”, fundamentalmente uma cultura de base rural, o resultado acabará anulando a força do Espírito Santo. Deus está em toda a parte: há que saber descobri-lo para poder anunciá-lo no idioma dessa cultura; e cada realidade, cada idioma tem um ritmo diferente.
4. Algumas tentações contra o discipulado missionário
A opção pela missionariedade do discípulo sofrerá tentações. É importante saber por onde entra o espírito mau, para nos ajudar no discernimento. Não se trata de sair à caça de demônios, mas simplesmente de lucidez e prudência evangélicas. Limito-me a mencionar algumas atitudes que configuram uma Igreja “tentada”. Trata-se de conhecer determinadas propostas atuais que podem mimetizar-se em a dinâmica do discipulado missionário e deter, até fazê-lo fracassar, o processo de Conversão Pastoral.
1. A ideologização da mensagem evangélica. É uma tentação que se verificou na Igreja desde o início: procurar uma hermenêutica de interpretação evangélica fora da própria mensagem do Evangelho e fora da Igreja. Um exemplo: a dado momento, Aparecida sofreu essa tentação sob a forma de assepsia. Foi usado, e está bem, o método de “ver, julgar, agir” (cf. n.º 19). A tentação se encontraria em optar por um “ver” totalmente asséptico, um “ver” neutro, o que não é viável. O ver está sempre condicionado pelo olhar. Não há uma hermenêutica asséptica. Então a pergunta era: Com que olhar vamos ver a realidade? Aparecida respondeu: Com o olhar de discípulo. Assim se entendem os números 20 a 32. Existem outras maneiras de ideologização da mensagem e, atualmente, aparecem na América Latina e no Caribe propostas desta índole. Menciono apenas algumas:
a) O reducionismo socializante. É a ideologização mais fácil de descobrir. Em alguns momentos, foi muito forte. Trata-se de uma pretensão interpretativa com base em uma hermenêutica de acordo com as ciências sociais. Engloba os campos mais variados, desde o liberalismo de mercado até à categorização marxista.
b) A ideologização psicológica. Trata-se de uma hermenêutica elitista que, em última análise, reduz o “encontro com Jesus Cristo” e seu sucessivo desenvolvimento a uma dinâmica de autoconhecimento. Costuma verificar-se principalmente em cursos de espiritualidade, retiros espirituais, etc. Acaba por resultar numa posição imanente auto-referencial. Não tem sabor de transcendência, nem portanto de missionariedade.
c) A proposta gnóstica. Muito ligada à tentação anterior. Costuma ocorrer em grupos de elites com uma proposta de espiritualidade superior, bastante desencarnada, que acaba por desembocar em posições pastorais de “quaestiones disputatae”. Foi o primeiro desvio da comunidade primitiva e reaparece, ao longo da história da Igreja, em edições corrigidas e renovadas. Vulgarmente são denominados “católicos iluminados” (por serem atualmente herdeiros do Iluminismo).
d) A proposta pelagiana. Aparece fundamentalmente sob a forma de restauracionismo. Perante os males da Igreja, busca-se uma solução apenas na disciplina, na restauração de condutas e formas superadas que, mesmo culturalmente, não possuem capacidade significativa. Na América Latina, costuma verificar-se em pequenos grupos, em algumas novas Congregações Religiosas, em tendências para a “segurança” doutrinal ou disciplinar. Fundamentalmente é estática, embora possa prometer uma dinâmica para dentro: regride. Procura “recuperar” o passado perdido.
2. O funcionalismo. A sua ação na Igreja é paralisante. Mais do que com a rota, se entusiasma com o “roteiro”. A concepção funcionalista não tolera o mistério, aposta na eficácia. Reduz a realidade da Igreja à estrutura de uma ONG. O que vale é o resultado palpável e as estatísticas. A partir disso, chega-se a todas as modalidades empresariais de Igreja. Constitui uma espécie de “teologia da prosperidade” no organograma da pastoral.
3. O clericalismo é também uma tentação muito atual na América Latina. Curiosamente, na maioria dos casos, trata-se de uma cumplicidade viciosa: o sacerdote clericaliza e o leigo lhe pede por favor que o clericalize, porque, no fundo, lhe resulta mais cômodo. O fenômeno do clericalismo explica, em grande parte, a falta de maturidade adulta e de liberdade cristã em boa parte do laicato da América Latina: ou não cresce (a maioria), ou se abriga sob coberturas de ideologizações como as indicadas, ou ainda em pertenças parciais e limitadas. Em nossas terras, existe uma forma de liberdade laical através de experiências de povo: o católico como povo. Aqui vê-se uma maior autonomia, geralmente sadia, que se expressa fundamentalmente na piedade popular. O capítulo de Aparecida sobre a piedade popular descreve, em profundidade, essa dimensão. A proposta dos grupos bíblicos, das comunidades eclesiais de base e dos Conselhos pastorais está na linha de superação do clericalismo e de um crescimento da responsabilidade laical.
Poderíamos continuar descrevendo outras tentações contra o discipulado missionário, mas acho que estas são as mais importantes e com maior força neste momento da América Latina e do Caribe.
5. Algumas orientações eclesiológicas
1. O discipulado-missionário que Aparecida propôs às Igrejas da América Latina e do Caribe é o caminho que Deus quer para “hoje”. Toda a projeção utópica (para o futuro) ou restauracionista (para o passado) não é do espírito bom. Deus é real e se manifesta no “hoje”. A sua presença, no passado, se nos oferece como “memória” da saga de salvação realizada quer em seu povo quer em cada um de nós; no futuro, se nos oferece como “promessa” e esperança. No passado, Deus esteve lá e deixou sua marca: a memória nos ajuda encontrá-lo; no futuro, é apenas promessa… e não está nos mil e um “futuríveis”. O “hoje” é o que mais se parece com a eternidade; mais ainda: o “hoje” é uma centelha de eternidade. No “hoje”, se joga a vida eterna.
O discipulado missionário é vocação: chamada e convite. Acontece em um “hoje”, mas “em tensão”. Não existe o discipulado missionário estático. O discípulo missionário não pode possuir-se a si mesmo; a sua imanência está em tensão para a transcendência do discipulado e para a transcendência da missão. Não admite a auto-referencialidade: ou refere-se a Jesus Cristo ou refere-se às pessoas a quem deve levar o anúncio dele. Sujeito que se transcende. Sujeito projetado para o encontro: o encontro com o Mestre (que nos unge discípulos) e o encontro com os homens que esperam o anúncio.
Por isso, gosto de dizer que a posição do discípulo missionário não é uma posição de centro, mas de periferias: vive em tensão para as periferias… incluindo as da eternidade no encontro com Jesus Cristo. No anúncio evangélico, falar de “periferias existenciais” descentraliza e, habitualmente, temos medo de sair do centro. O discípulo-missionário é um descentrado: o centro é Jesus Cristo, que convoca e envia. O discípulo é enviado para as periferias existenciais.
2. A Igreja é instituição, mas, quando se erige em “centro”, se funcionaliza e, pouco a pouco, se transforma em uma ONG. Então, a Igreja pretende ter luz própria e deixa de ser aquele “mysterium lunae” de que nos falavam os Santos Padres. Torna-se cada vez mais auto-referencial, e se enfraquece a sua necessidade de ser missionária. De “Instituição” se transforma em “Obra”. Deixa de ser Esposa, para acabar sendo Administradora; de Servidora se transforma em “Controladora”. Aparecida quer uma Igreja Esposa, Mãe, Servidora, facilitadora da fé e não controladora da fé.
3. Em Aparecida, verificam-se de forma relevante duas categorias pastorais, que surgem da própria originalidade do Evangelho e nos podem também servir de orientação para avaliar o modo como vivemos eclesialmente o discipulado missionário: a proximidade e o encontro. Nenhuma das duas é nova, antes configuram a maneira como Deus se revelou na história. É o “Deus próximo” do seu povo, proximidade que chega ao máximo quando Ele encarna. É o Deus que sai ao encontro do seu povo. Na América Latina e no Caribe, existem pastorais “distantes”, pastorais disciplinares que privilegiam os princípios, as condutas, os procedimentos organizacionais… obviamente sem proximidade, sem ternura, nem carinho. Ignora-se a “revolução da ternura”, que provocou a encarnação do Verbo. Há pastorais posicionadas com tal dose de distância que são incapazes de conseguir o encontro: encontro com Jesus Cristo, encontro com os irmãos. Este tipo de pastoral pode, no máximo, prometer uma dimensão de proselitismo, mas nunca chegam a conseguir inserção nem pertença eclesial. A proximidade cria comunhão e pertença, dá lugar ao encontro. A proximidade toma forma de diálogo e cria uma cultura do encontro. Uma pedra de toque para aferir a proximidade e a capacidade de encontro de uma pastoral é a homilia. Como são as nossas homilias? Estão próximas do exemplo de Nosso Senhor, que “falava como quem tem autoridade”, ou são meramente prescritivas, distantes, abstratas?
4. Quem guia a pastoral, a Missão Continental (seja programática seja paradigmática), é o Bispo. Ele deve guiar, que não é o mesmo que comandar. Além de assinalar as grandes figuras do episcopado latino-americano que todos nós conhecemos, gostaria de acrescentar aqui algumas linhas sobre o perfil do Bispo, que já disse aos Núncios na reunião que tivemos em Roma. Os Bispos devem ser Pastores, próximos das pessoas, pais e irmãos, com grande mansidão: pacientes e misericordiosos. Homens que amem a pobreza, quer a pobreza interior como liberdade diante do Senhor, quer a pobreza exterior como simplicidade e austeridade de vida. Homens que não tenham “psicologia de príncipes”. Homens que não sejam ambiciosos e que sejam esposos de uma Igreja sem viver na expectativa de outra. Homens capazes de vigiar sobre o rebanho que lhes foi confiado e cuidando de tudo aquilo que o mantém unido: vigiar sobre o seu povo, atento a eventuais perigos que o ameacem, mas sobretudo para cuidar da esperança: que haja sol e luz nos corações. Homens capazes de sustentar com amor e paciência os passos de Deus em seu povo. E o lugar onde o Bispo pode estar com o seu povo é triplo: ou à frente para indicar o caminho, ou no meio para mantê-lo unido e neutralizar as debandadas, ou então atrás para evitar que alguém se desgarre mas também, e fundamentalmente, porque o próprio rebanho tem o seu olfato para encontrar novos caminhos.
Não quero juntar mais detalhes sobre a pessoa do Bispo, mas simplesmente acrescentar, incluindo-me a mim mesmo nesta afirmação, que estamos um pouco atrasados no que a Conversão Pastoral indica. Convém que nos ajudemos um pouco mais a dar os passos que o Senhor quer que cumpramos neste “hoje” da América Latina e do Caribe. E seria bom começar por aqui.
Agradeço-lhes a paciência de me ouvirem. Desculpem a desordem do discurso e lhes peço, por favor, para tomarmos a sério a nossa vocação de servidores do povo santo e fiel de Deus, porque é nisso que se exerce e mostra a autoridade: na capacidade de serviço. Muito obrigado!
Fonte: site do Vaticano

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO
Arcebispado do Rio de Janeiro
Sábado, 27 de Julho de 2013
Queridos Irmãos!
Como é bom e agradável encontrar-me aqui com vocês, Bispos do Brasil!
Obrigado por terem vindo, e permitam que lhes fale como amigos, pelo que prefiro usar o castelhano, para poder expressar melhor aquilo que levo no coração. Peço-lhes que me perdoem!
Retiramo-nos um pouco, neste lugar preparado por nosso irmão Dom Orani, para estar sozinhos e poder falar de coração a coração como Pastores a quem Deus confiou o seu Rebanho. Nas ruas do Rio, jovens de todo o mundo e muitas outras multidões estão esperando por nós, necessitados de serem envolvidos pelo olhar misericordioso de Cristo Bom Pastor, que nós somos chamados a tornar presente. Por isso, gozemos deste momento de descanso, de partilha, de verdadeira fraternidade.
Começando pela Presidência da Conferência Episcopal e do Arcebispo do Rio de Janeiro, quero abraçar a todos e cada um, especialmente aos Bispos eméritos.
Mais do que um discurso formal, quero compartilhar algumas reflexões com vocês.
A primeira veio à minha mente, quando da outra vez visitei o Santuário de Aparecida. Lá, ao pé da imagem da Imaculada Conceição, eu rezei por vocês, por suas Igrejas, por seus presbíteros, religiosos e religiosas, por seus seminaristas, pelos leigos e as suas famílias, em particular pelos jovens e os idosos, já que ambos constituem a esperança de um povo: os jovens, porque eles carregam a força, o sonho, a esperança do futuro, e os idosos, porque eles são a memória, a sabedoria de um povo.[1]
1. Aparecida: chave de leitura para a missão da Igreja
Em Aparecida, Deus ofereceu ao Brasil a sua própria Mãe. Mas, em Aparecida, Deus deu também uma lição sobre Si mesmo, sobre o seu modo de ser e agir. Uma lição sobre a humildade que pertence a Deus como traço essencial e que está no DNA de Deus. Há algo de perene para aprender sobre Deus e sobre a Igreja, em Aparecida; um ensinamento, que nem a Igreja no Brasil nem o próprio Brasil devem esquecer.
No início do evento que é Aparecida, está a busca dos pescadores pobres. Tanta fome e poucos recursos. As pessoas sempre precisam de pão. Os homens partem sempre das suas carências, mesmo hoje.
Possuem um barco frágil, inadequado; têm redes decadentes, talvez mesmo danificadas, insuficientes.
Primeiro, há a labuta, talvez o cansaço, pela pesca, mas o resultado é escasso: um falimento, um insucesso. Apesar dos esforços, as redes estão vazias.
Depois, quando foi da vontade de Deus, comparece Ele mesmo no seu Mistério. As águas são profundas e, todavia, encerram sempre a possibilidade de Deus; e Ele chegou de surpresa, quem sabe quando já não o esperávamos. A paciência dos que esperam por Ele é sempre posta à prova. E Deus chegou de uma maneira nova, porque Deus é surpresa: uma imagem de barro frágil, escurecida pelas águas do rio, envelhecida também pelo tempo. Deus entra sempre nas vestes da pequenez.
Veem então a imagem da Imaculada Conceição. Primeiro o corpo, depois a cabeça, em seguida a unificação de corpo e cabeça: a unidade. Aquilo que estava quebrado retoma a unidade. O Brasil colonial estava dividido pelo muro vergonhoso da escravatura. Nossa Senhora Aparecida se apresenta com a face negra, primeiro dividida mas depois unida, nas mãos dos pescadores.
Há aqui um ensinamento que Deus quer nos oferecer. Sua beleza refletida na Mãe, concebida sem pecado original, emerge da obscuridade do rio. Em Aparecida, logo desde o início, Deus dá uma mensagem de recomposição do que está fraturado, de compactação do que está dividido. Muros, abismos, distâncias ainda hoje existentes estão destinados a desaparecer. A Igreja não pode descurar esta lição: ser instrumento de reconciliação.
Os pescadores não desprezam o mistério encontrado no rio, embora seja um mistério que aparece incompleto. Não jogam fora os pedaços do mistério. Esperam a plenitude. E esta não demora a chegar. Há aqui algo de sabedoria que devemos aprender. Há pedaços de um mistério, como partes de um mosaico, que vamos encontrando. Nós queremos ver muito rápido a totalidade; e Deus, pelo contrário, Se faz ver pouco a pouco. Também a Igreja deve aprender esta expectativa.
Depois, os pescadores trazem para casa o mistério. O povo simples tem sempre espaço para albergar o mistério. Talvez nós tenhamos reduzido a nossa exposição do mistério a uma explicação racional; no povo, pelo contrário, o mistério entra pelo coração. Na casa dos pobres, Deus encontra sempre lugar.
Os pescadores agasalham: revestem o mistério da Virgem pescada, como se Ela tivesse frio e precisasse ser aquecida. Deus pede para ficar abrigado na parte mais quente de nós mesmos: o coração. Depois é Deus que irradia o calor de que precisamos, mas primeiro entra com o subterfúgio de quem mendiga. Os pescadores cobrem o mistério da Virgem com o manto pobre da sua fé. Chamam os vizinhos para verem a beleza encontrada; eles se reúnem à volta dela; contam as suas penas em sua presença e lhe confiam as suas causas. Permitem assim que possam implementar-se as intenções de Deus: uma graça, depois a outra; uma graça que abre para outra; uma graça que prepara outra. Gradualmente Deus vai desdobrando a humildade misteriosa de sua força.
Há muito para aprender nessa atitude dos pescadores. Uma Igreja que dá espaço ao mistério de Deus; uma Igreja que alberga de tal modo em si mesma esse mistério, que ele possa encantar as pessoas, atraí-las. Somente a beleza de Deus pode atrair. O caminho de Deus é o encanto que atrai. Deus faz-se levar para casa. Ele desperta no homem o desejo de guardá-lo em sua própria vida, na própria casa, em seu coração. Ele desperta em nós o desejo de chamar os vizinhos, para dar-lhes a conhecer a sua beleza. A missão nasce precisamente dessa fascinação divina, dessa maravilha do encontro. Falamos de missão, de Igreja missionária. Penso nos pescadores que chamam seus vizinhos para verem o mistério da Virgem. Sem a simplicidade do seu comportamento, a nossa missão está fadada ao fracasso.
A Igreja tem sempre a necessidade urgente de não desaprender a lição de Aparecida; não a pode esquecer. As redes da Igreja são frágeis, talvez remendadas; a barca da Igreja não tem a força dos grandes transatlânticos que cruzam os oceanos. E, contudo, Deus quer se manifestar justamente através dos nossos meios, meios pobres, porque é sempre Ele que está agindo.
Queridos irmãos, o resultado do trabalho pastoral não assenta na riqueza dos recursos, mas na criatividade do amor. Fazem falta certamente a tenacidade, a fadiga, o trabalho, o planejamento, a organização, mas, antes de tudo, você deve saber que a força da Igreja não reside nela própria, mas se esconde nas águas profundas de Deus, nas quais ela é chamada a lançar as redes.
Outra lição que a Igreja deve sempre lembrar é que não pode afastar-se da simplicidade; caso contrário, desaprende a linguagem do Mistério. E não só ela fica fora da porta do Mistério, mas, obviamente, não consegue entrar naqueles que pretendem da Igreja aquilo que não podem dar-se por si mesmos: Deus. Às vezes, perdemos aqueles que não nos entendem, porque desaprendemos a simplicidade, inclusive importando de fora uma racionalidade alheia ao nosso povo. Sem a gramática da simplicidade, a Igreja se priva das condições que tornam possível «pescar» Deus nas águas profundas do seu Mistério.
Uma última lembrança: Aparecida surgiu em um lugar de cruzamento. A estrada que ligava Rio, a capital, com São Paulo, a província empreendedora que estava nascendo, e Minas Gerais, as minas muito cobiçadas pelas cortes europeias: uma encruzilhada do Brasil colonial. Deus aparece nos cruzamentos. A Igreja no Brasil não pode esquecer esta vocação inscrita em si mesma desde a sua primeira respiração: ser capaz de sístole e diástole, de recolher e divulgar.
2. Apreço pelo percurso da Igreja no Brasil
Os Bispos de Roma tiveram sempre o Brasil e sua Igreja em seu coração. Um maravilhoso percurso foi realizado. Passou-se das 12 dioceses durante o Concílio Vaticano I para as atuais 275 circunscrições. Não teve início a expansão de um aparato governamental ou de uma empresa, mas sim o dinamismo dos «cinco pães e dois peixes» – de que fala o Evangelho – que, entrando em contato com a bondade do Pai, em mãos calejadas, tornaram-se fecundos.
Hoje, queria agradecer o trabalho sem parcimônia de vocês, Pastores, em suas Igrejas. Penso nos Bispos nas florestas, subindo e descendo os rios, nas regiões semiáridas, no Pantanal, na pampa, nas selvas urbanas das megalópoles. Amem sempre, com total dedicação, o seu rebanho! Mas penso também em tantos nomes e tantas faces, que deixaram marcas indeléveis no caminho da Igreja no Brasil, fazendo palpar com a mão a grande bondade de Deus por esta Igreja[2].
Os Bispos de Roma nunca lhes deixaram sós; seguiram de perto, encorajaram, acompanharam. Nas últimas décadas, o Beato João XXIII convidou com insistência os Bispos brasileiros a prepararem o seu primeiro plano pastoral e, daquele início, cresceu uma verdadeira tradição pastoral no Brasil, que fez com que a Igreja não fosse um transatlântico à deriva, mas tivesse sempre uma bússola. O Servo de Deus Paulo VI, para além de encorajar a recepção do Concílio Vaticano II, com fidelidade mas também com traços originais (veja-se a Assembleia Geral do CELAM, em Medellín), influiu decisivamente sobre a autoconsciência da Igreja no Brasil através do Sínodo sobre a evangelização e de um texto fundamental de referência que continua atual: a Evangelii nuntiandi. O Beato João Paulo II visitou o Brasil três vezes, percorrendo-o de cabo a rabo, de norte a sul, insistindo sobre a missão pastoral da Igreja, a comunhão e participação, a preparação do Grande Jubileu, a nova evangelização. Bento XVI escolheu Aparecida para realizar a V Assembleia Geral do CELAM e isso deixou uma grande marca na Igreja de todo o Continente.
A Igreja no Brasil recebeu e aplicou com originalidade o Concílio Vaticano II e o percurso realizado, embora tenha tido de superar determinadas doenças infantis, levou a uma Igreja gradualmente mais madura, aberta, generosa, missionária.
Hoje estamos em um novo momento. Segundo a feliz expressão do Documento de Aparecida, não é uma época de mudança, mas uma mudança de época. Sendo assim, hoje é cada vez mais urgente nos perguntarmos: O que Deus pede a nós? A esta pergunta, queria tentar oferecer qualquer linha de resposta.
3. O ícone de Emaús como chave de leitura do presente e do futuro
Antes de mais nada, não devemos ceder ao medo, de que falava o Beato John Henry Newman: «O mundo cristão está gradualmente se tornando estéril, e esgota-se como uma terra profundamente explorada que se torna areia».[3] Não devemos ceder ao desencanto, ao desânimo, às lamentações. Nós trabalhamos duro e, às vezes, nos parece acabar derrotados: apodera-se de nós o sentimento de quem tem de fazer o balanço de uma estação já perdida, olhando para aqueles que nos deixam ou já não nos consideram credíveis, relevantes.
Vamos ler a esta luz, mais uma vez, o episódio de Emaús (cf. Lc 24, 13-15). Os dois discípulos escapam de Jerusalém. Eles se afastam da «nudez» de Deus. Estão escandalizados com o falimento do Messias, em quem haviam esperado e que agora aparece irremediavelmente derrotado, humilhado, mesmo após o terceiro dia (cf. vv. 17-21). O mistério difícil das pessoas que abandonam a Igreja; de pessoas que, após deixar-se iludir por outras propostas, consideram que a Igreja – a sua Jerusalém – nada mais possa lhes oferecer de significativo e importante. E assim seguem pelo caminho sozinhos, com a sua desilusão. Talvez a Igreja lhes apareça demasiado frágil, talvez demasiado longe das suas necessidades, talvez demasiado pobre para dar resposta às suas inquietações, talvez demasiado fria para com elas, talvez demasiado auto-referencial, talvez prisioneira da própria linguagem rígida, talvez lhes pareça que o mundo fez da Igreja uma relíquia do passado, insuficiente para as novas questões; talvez a Igreja tenha respostas para a infância do homem, mas não para a sua idade adulta.[4] O fato é que hoje há muitos que são como os dois discípulos de Emaús; e não apenas aqueles que buscam respostas nos novos e difusos grupos religiosos, mas também aqueles que parecem já viver sem Deus tanto em teoria como na prática.
Perante esta situação, o que fazer?
Faz falta uma Igreja que não tenha medo de entrar na noite deles. Precisamos de uma Igreja capaz de encontrá-los no seu caminho. Precisamos de uma Igreja capaz de inserir-se na sua conversa. Precisamos de uma Igreja que saiba dialogar com aqueles discípulos, que, fugindo de Jerusalém, vagam sem meta, sozinhos, com o seu próprio desencanto, com a desilusão de um cristianismo considerado hoje um terreno estéril, infecundo, incapaz de gerar sentido.
A globalização implacável e a intensa urbanização, frequentemente selvagem, prometeram muito. Muitos se enamoraram das suas potencialidades e, nelas, existe algo de verdadeiramente positivo, como, por exemplo, a diminuição das distâncias, a aproximação das pessoas à cultura, a difusão da informação e dos serviços. Mas, por outro lado, muitos vivem os seus efeitos negativos sem dar-se conta de quanto esses prejudicam a própria visão do homem e do mundo, gerando maior desorientação e um vazio que não conseguem explicar. Alguns destes efeitos são a confusão acerca do sentido da vida, a desintegração pessoal, a perda da experiência de pertencer a um «ninho», a carência de um lugar e de laços profundos.
E, como não há quem lhes faça companhia e mostre com a própria vida o caminho verdadeiro, muitos buscaram atalhos, porque se apresenta demasiado alta a «medida» da Grande Igreja. Também existem aqueles que reconhecem o ideal do homem e de vida proposto pela Igreja, mas não têm a audácia de abraçá-lo. Pensam que este ideal seja grande demais para eles, esteja fora das suas possibilidades; a meta a alcançar é inatingível. Todavia não podem viver sem ter pelo menos alguma coisa – nem que seja uma caricatura – daquilo que é parece demasiado alto e distante. Com a desilusão no coração, partem à procura de qualquer coisa que lhes iludirá uma vez mais, ou resignam-se a uma adesão parcial que, em última análise, não consegue dar plenitude à sua vida.
A grande sensação de abandono e solidão, de não pertencerem sequer a si mesmos que muitas vezes surge dessa situação, é dolorosa demais para ser silenciada. Há necessidade de desabafar, restando-lhes então a via da lamentação. Mas a própria lamentação torna-se, por sua vez, como um bumerangue que regressa e acaba aumentando a infelicidade. Ainda poucas pessoas são capazes de ouvir a dor: é preciso pelo menos anestesiá-lo.
Perante este panorama, precisamos de uma Igreja capaz de fazer companhia, de ir para além da simples escuta; uma Igreja, que acompanha o caminho pondo-se em viagem com as pessoas; uma Igreja capaz de decifrar a noite contida na fuga de tantos irmãos e irmãs de Jerusalém; uma Igreja que se dê conta de como as razões, pelas quais há pessoas que se afastam, contém já em si mesmas também as razões para um possível retorno, mas é necessário saber ler a totalidade com coragem. Jesus deu calor ao coração dos discípulos de Emaús.
Eu gostaria que hoje nos perguntássemos todos: Somos ainda uma Igreja capaz de aquecer o coração? Uma Igreja capaz de reconduzir a Jerusalém? Capaz de acompanhar de novo a casa? Em Jerusalém, residem as nossas fontes: Escritura, Catequese, Sacramentos, Comunidade, amizade do Senhor, Maria e os Apóstolos... Somos ainda capazes de contar de tal modo essas fontes, que despertem o encanto pela sua beleza?
Muitos se foram, porque lhes foi prometido algo de mais alto, algo de mais forte, algo de mais rápido.
Mas haverá algo de mais alto que o amor revelado em Jerusalém? Nada é mais alto do que o abaixamento da Cruz, porque lá se atinge verdadeiramente a altura do amor! Somos ainda capazes de mostrar esta verdade para aqueles que pensam que a verdadeira altura da vida esteja em outro lugar?
Porventura se conhece algo de mais forte que a força escondida na fragilidade do amor, do bem, da verdade, da beleza?
A busca do que é cada vez mais rápido atrai o homem de hoje: internet rápida, carros velozes, aviões rápidos, relatórios rápidos... E, todavia, se sente uma necessidade desesperada de calma, quero dizer , de lentidão. A Igreja sabe ainda ser lenta: no tempo para ouvir, na paciência para costurar novamente e reconstruir? Ou a própria Igreja já se deixa arrastar pelo frenesi da eficiência? Recuperemos, queridos Irmãos, a calma de saber sintonizar o passo com as possibilidades dos peregrinos, com os seus ritmos de caminhada, recuperemos a capacidade de estar lhes sempre perto para permitir a eles abrirem uma brecha no desencanto que existe nos corações, para que possam entrar. Eles querem esquecer Jerusalém onde residem as suas fontes, mas assim acabarão por sentir sede. Faz falta uma Igreja ainda capaz de acompanhar o regresso a Jerusalém! Uma Igreja, que seja capaz de fazer descobrir as coisas gloriosas e estupendas que se dizem de Jerusalém, de fazer entender que ela é minha Mãe, nossa Mãe, e não somos órfãos! Nela nascemos. Onde está a nossa Jerusalém em que nascemos? No Batismo, no primeiro encontro de amor, na chamada, na vocação![5] Precisamos de uma Igreja que volte a dar calor, a inflamar o coração.
Precisamos de uma Igreja capaz ainda de devolver a cidadania a muitos de seus filhos que caminham como em um êxodo.
4. Os desafios da Igreja no Brasil
À luz do que eu disse, quero sublinhar alguns desafios da amada Igreja que está no Brasil.
A prioridade da formação: Bispos, sacerdotes, religiosos, leigos
Queridos irmãos, senão formarmos ministros capazes de aquecer o coração das pessoas, de caminhar na noite com elas, de dialogarem com as suas ilusões e desilusões, de recompor as suas desintegrações, o que poderemos esperar para o caminho presente e futuro? Não é verdade que Deus se tenha obscurecido nelas. Aprendamos a olhar mais profundamente: falta quem lhes aqueça o coração, como sucedeu com os discípulos de Emaús (cf. Lc 24,32).
Por isso, é importante promover e cuidar uma formação qualificada que crie pessoas capazes de descer na noite sem ser invadidas pela escuridão e perder-se; capazes de ouvir a ilusão de muitos, sem se deixar seduzir; capazes de acolher as desilusões, sem desesperar-se nem precipitar na amargura; capazes de tocar a desintegração alheia, sem se deixar dissolver e decompor na sua própria identidade.
Precisamos de uma solidez humana, cultural, afetiva, espiritual, doutrinal.[6] Queridos Irmãos no Episcopado, é preciso ter a coragem de levar a fundo uma revisão das estruturas de formação e preparação do clero e do laicato da Igreja que está no Brasil. Não é suficiente uma vaga prioridade da formação, nem documentos ou encontros. Faz falta a sabedoria prática de levantar estruturas duradouras de preparação em âmbito local, regional, nacional e que sejam o verdadeiro coração para o Episcopado, sem poupar forças, solicitude e assistência. A situação atual exige uma formação qualificada em todos os níveis. Vocês, Bispos, não podem delegar este dever, mas devem assumi-lo como algo de fundamental para o caminho das suas Igrejas.
Colegialidade e solidariedade da Conferência Episcopal
Para a Igreja no Brasil, não basta um líder nacional; precisa de uma rede de «testemunhos» regionais, que, falando a mesma linguagem, assegurem em todos os lugares, não a unanimidade, mas a verdadeira unidade na riqueza da diversidade.
A comunhão é uma teia que deve ser tecida com paciência e perseverança, que vai gradualmente «aproximando os pontos» para permitir uma cobertura cada vez mais ampla e densa. Um cobertor só com poucos fios de lã não aquece.
É importante lembrar Aparecida, o método de congregar a diversidade; não tanto a diversidade de ideias para produzir um documento, mas a variedade de experiências de Deus para pôr em movimento uma dinâmica vital.
Os discípulos de Emaús voltaram para Jerusalém, contando a experiência que tinham feito no encontro com o Cristo Ressuscitado (cf. Lc 24, 33-35). E lá tomaram conhecimento das outras manifestações do Senhor e das experiências dos seus irmãos. A Conferência Episcopal é justamente um espaço vital para permitir tal permuta de testemunhos sobre os encontros com o Ressuscitado, no norte, no sul, no oeste... Faz falta, pois, uma progressiva valorização do elemento local e regional. Não é suficiente a burocracia central, mas é preciso fazer crescer a colegialidade e a solidariedade; será uma verdadeira riqueza para todos.[7]
Estado permanente de missão e conversão pastoral
Aparecida falou de estado permanente de missão[8] e da necessidade de uma conversão pastoral.[9] São dois resultados importantes daquela Assembleia para a Igreja inteira da região, e o caminho realizado no Brasil a propósito destes dois pontos é significativo.
Quanto à missão, há que lembrar que a urgência deriva de sua motivação interna, isto é, trata-se de transmitir uma herança, e, quanto ao método, é decisivo lembrar que uma herança sucede como na passagem do testemunho, do bastão, na corrida de estafeta: não se joga ao ar e quem consegue apanhá-lo tem sorte, e quem não consegue fica sem nada. Para transmitir a herança é preciso entregá-la pessoalmente, tocar a pessoa para quem você quer doar, transmitir essa herança.
Quanto à conversão pastoral, quero lembrar que «pastoral» nada mais é que o exercício da maternidade da Igreja. Ela gera, amamenta, faz crescer, corrige, alimenta, conduz pela mão... Por isso, faz falta uma Igreja capaz de redescobrir as entranhas maternas da misericórdia. Sem a misericórdia, poucas possibilidades temos hoje de inserir-nos em um mundo de «feridos», que têm necessidade de compreensão, de perdão, de amor.
Na missão, mesmo continental,[10] é muito importante reforçar a família, que permanece célula essencial para a sociedade e para a Igreja; os jovens, que são o rosto futuro da Igreja; as mulheres, que têm um papel fundamental na transmissão da fé e constituem uma força quotidiana que faz evoluir uma sociedade e a renova. Não reduzamos o empenho das mulheres na Igreja,; antes, pelo contrário, promovamos o seu papel ativo na comunidade eclesial. Se a Igreja perde as mulheres, na sua dimensão global e real, ela corre o risco da esterilidade. Aparecida põe em evidência também a vocação e a missão do homem na família, na Igreja e na sociedade, como pais, trabalhadores e cidadãos.[11] Tende isso em séria consideração!
A função da Igreja na sociedade
No âmbito da sociedade, há somente uma coisa que a Igreja pede com particular clareza: a liberdade de anunciar o Evangelho de modo integral, mesmo quando ele está em contraste com o mundo, mesmo quando vai contra a corrente, defendendo o tesouro de que é somente guardiã, e os valores dos quais não pode livremente dispor, mas que recebeu e deve ser-lhes fiel.
A Igreja afirma o direito de servir o homem na sua totalidade, dizendo-lhe o que Deus revelou sobre o homem e sua realização, e ela deseja tornar presente aquele patrimônio imaterial, sem o qual a sociedade se desintegra, as cidades seriam arrasadas por seus próprios muros, abismos e barreiras. A Igreja tem o direito e o dever de manter acesa a chama da liberdade e da unidade do homem.
Educação, saúde, paz social são as urgências no Brasil. A Igreja tem uma palavra a dizer sobre estes temas, porque, para responder adequadamente a esses desafios, não são suficientes soluções meramente técnicas, mas é preciso ter uma visão subjacente do homem, da sua liberdade, do seu valor, da sua abertura ao transcendente. E vocês, queridos Irmãos, não tenham medo de oferecer esta contribuição da Igreja que é para bem da sociedade inteira e de oferecer esta palavra «encarnada» também com o testemunho.
A Amazônia como teste decisivo, banco de prova para a Igreja e a sociedade brasileiras
Há um último ponto sobre o qual gostava de deter-me e que considero relevante para o caminho atual e futuro não só da Igreja no Brasil, mas também de toda a estrutura social: a Amazônia. A Igreja está na Amazônia , não como aqueles que têm as malas na mão para partir depois de terem explorado tudo o que puderam. Desde o início que a Igreja está presente na Amazônia com missionários, congregações religiosas, sacerdotes, leigos e bispos, e lá continua presente e determinante no futuro daquela área. Penso no acolhimento que a Igreja na Amazônia oferece hoje aos imigrantes haitianos depois do terrível terremoto que devastou o seu país.
Queria convidar todos a refletirem sobre o que Aparecida disse a propósito da Amazônia,[12] incluindo o forte apelo ao respeito e à salvaguarda de toda a criação que Deus confiou ao homem, não para que a explorasse rudemente, mas para que tornasse ela um jardim. No desafio pastoral que representa a Amazônia, não posso deixar de agradecer o que a Igreja no Brasil está fazendo: a Comissão Episcopal para a Amazônia, criada em 1997, já deu muitos frutos e tantas dioceses responderam pronta e generosamente ao pedido de solidariedade, enviando missionários, leigos e sacerdotes. Agradeço a Dom Jaime Chemelo, pioneiro deste trabalho, e ao Cardeal Hummes, atual presidente da Comissão. Mas eu gostava de acrescentar que deveria ser mais incentivada e relançada a obra da Igreja. Fazem falta formadores qualificados, especialmente formadores e professores de teologia, para consolidar os resultados alcançados no campo da formação de um clero autóctone, inclusive para se ter sacerdotes adaptados às condições locais e consolidar por assim dizer o «rosto amazônico» da Igreja. Nisto lhes peço, por favor, para serem corajosos, para terem parresia! No modo «porteño» [de Buenos Aires] de falar, lhes diria para serem destemidos.
Queridos Irmãos, procurei oferecer-lhes fraternalmente reflexões e linhas de ação em uma Igreja como a que está no Brasil, que é um grande mosaico de pequeninas pedras, de imagens, de formas, de problemas, de desafios, mas que por isso mesmo é uma enorme riqueza. A Igreja não é jamais uniformidade, mas diversidades que se harmonizam na unidade, e isso é válido em toda a realidade eclesial.
Que a Virgem Imaculada Aparecida seja a estrela que ilumina o compromisso e o caminho de vocês levarem Cristo, como Ela o fez, a cada homem e cada mulher de seu imenso país. Será Ele, como fez com os dois discípulos extraviados e desiludidos de Emaús, a aquecer o coração e a dar nova e segura esperança.
Fonte: site do Vaticano
[1] O Documento de Aparecida sublinha como as crianças, os jovens e os idosos constroem o futuro dos povos (cf. n. 447).
[2] Penso em tantas figuras como – somente para citar algumas – Lorscheider, Mendes de Almeida, Sales, Vital, Câmara, Macedo... juntamente com o primeiro Bispo brasileiro, Pero Fernandes Sardinha (1551/1556), assassinado por belicosas tribos locais.
[3] “Letter of 26 january 1833”, in: The letters and Diaries of John Henry Newman , vol. III, Oxford 1979, p. 204.
[4] No Documento de Aparecida, são apresentadas sinteticamente as razões de fundo deste fenómeno (cf. n. 225).
[5] Cf. também os quatro pontos indicados por Aparecida (ibid., n. 226).
[6] No Documento de Aparecida é prestada grande atenção à formação do Clero, bem como dos leigos (cf. nn. 316-325; 212).
[7] Também sobre este aspecto o Documento de Aparecida oferece directrizes importantes (cf. nn. 181-183; 189).
[8] Cf. n. 216.
[9] Cf. nn. 365-372.
[10] As conclusões da Conferência de Aparecida insistem sobre o rosto de uma Igreja que é, por sua natureza, evangelizadora; que existe para evangelizar, com audácia e liberdade, a todos os níveis (cf. nn. 547-554).
[11] Cf. nn. 459-463.
[12] Cf. em particular os nn. 83-87 e, do ponto de vista de uma pastoral unitária, o n. 475.
Excelências,
Senhoras e Senhores!
Agradeço a Deus pela possibilidade de me encontrar com tão respeitável representação dos responsáveis políticos e diplomáticos, culturais e religiosos, acadêmicos e empresariais deste Brasil imenso. Saúdo cordialmente a todos e lhes expresso o meu reconhecimento.
Queria lhes falar usando a bela língua portuguesa de vocês mas, para poder me expressar melhor manifestando o que trago no coração, prefiro falar em castelhano. Peço-vos a cortesia de me perdoar!
Agradeço as amáveis palavras de boas vindas e de apresentação de Dom Orani e do jovem Walmyr Júnior. Nas senhoras e nos senhores, vejo a memória e a esperança: a memória do caminho e da consciência da sua Pátria e a esperança que esta, sempre aberta à luz que irradia do Evangelho de Jesus Cristo, possa continuar a desenvolver-se no pleno respeito dos princípios éticos fundados na dignidade transcendente da pessoa.
Todos aqueles que possuem um papel de responsabilidade, em uma Nação, são chamados a enfrentar o futuro "com os olhos calmos de quem sabe ver a verdade", como dizia o pensador brasileiro Alceu Amoroso Lima ["Nosso tempo", in: A vida sobrenatural e o mundo moderno (Rio de Janeiro 1956), 106]. Queria considerar três aspectos deste olhar calmo, sereno e sábio: primeiro, a originalidade de uma tradição cultural; segundo, a responsabilidade solidária para construir o futuro; e terceiro, o diálogo construtivo para encarar o presente.
1. É importante, antes de tudo, valorizar a originalidade dinâmica que caracteriza a cultura brasileira, com a sua extraordinária capacidade para integrar elementos diversos. O sentir comum de um povo, as bases do seu pensamento e da sua criatividade, os princípios fundamentais da sua vida, os critérios de juízo sobre as prioridades, sobre as normas de ação, assentam numa visão integral da pessoa humana. Esta visão do homem e da vida, tal como a fez própria o povo brasileiro, muito recebeu da seiva do Evangelho através da Igreja Católica: primeiramente a fé em Jesus Cristo, no amor de Deus e a fraternidade com o próximo. Mas a riqueza desta seiva deve ser plenamente valorizada! Ela pode fecundar um processo cultural fiel à identidade brasileira e construtor de um futuro melhor para todos. Assim se expressou o amado Papa Bento XVI, no discurso de abertura da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em Aparecida.
Fazer que a humanização integral e a cultura do encontro e do relacionamento cresçam é o modo cristão de promover o bem comum, a felicidade de viver. E aqui convergem a fé e a razão, a dimensão religiosa com os diversos aspectos da cultura humana: arte, ciência, trabalho, literatura... O cristianismo une transcendência e encarnação; sempre revitaliza o pensamento e a vida, frente a desilusão e o desencanto que invadem os corações e saltam para a rua.
2. O segundo elemento que queria tocar é a responsabilidade social. Esta exige um certo tipo de paradigma cultural e, consequentemente, de política. Somos responsáveis pela formação de novas gerações, capacitadas na economia e na política, e firmes nos valores éticos. O futuro exige de nós uma visão humanista da economia e uma política que realize cada vez mais e melhor a participação das pessoas, evitando elitismos e erradicando a pobreza. Que ninguém fique privado do necessário, e que a todos sejam asseguradas dignidade, fraternidade e solidariedade: esta é a via a seguir. Já no tempo do profeta Amós era muito forte a advertência de Deus: «Eles vendem o justo por dinheiro, o indigente, por um par de sandálias; esmagam a cabeça dos fracos no pó da terra e tornam a vida dos oprimidos impossível» (Am 2, 6-7). Os gritos por justiça continuam ainda hoje.
Quem detém uma função de guia deve ter objetivos muito concretos, e buscar os meios específicos para consegui-los. Pode haver, porém, o perigo da desilusão, da amargura, da indiferença, quando as aspirações não se cumprem. A virtude dinâmica da esperança incentiva a ir sempre mais longe, a empregar todas as energias e capacidades a favor das pessoas para quem se trabalha, aceitando os resultados e criando condições para descobrir novos caminhos, dando-se mesmo sem ver resultados, mas mantendo viva a esperança.
A liderança sabe escolher a mais justa entre as opções, após tê-las considerado, partindo da própria responsabilidade e do interesse pelo bem comum; esta é a forma para chegar ao centro dos males de uma sociedade e vencê-los com a ousadia de ações corajosas e livres. No exercício da nossa responsabilidade, sempre limitada, é importante abarcar o todo da realidade, observando, medindo, avaliando, para tomar decisões na hora presente, mas estendendo o olhar para o futuro, refletindo sobre as consequências de tais decisões. Quem atua responsavelmente, submete a própria ação aos direitos dos outros e ao juízo de Deus. Este sentido ético aparece, nos nossos dias, como um desafio histórico sem precedentes. Além da racionalidade científica e técnica, na atual situação, impõe-se o vínculo moral com uma responsabilidade social e profundamente solidária.
3. Para completar o "olhar" que me propus, além do humanismo integral, que respeite a cultura original, e da responsabilidade solidária, termino indicando o que tenho como fundamental para enfrentar o presente: o diálogo construtivo. Entre a indiferença egoísta e o protesto violento, há uma opção sempre possível: o diálogo. O diálogo entre as gerações, o diálogo com o povo, a capacidade de dar e receber, permanecendo abertos à verdade. Um país cresce, quando dialogam de modo construtivo as suas diversas riquezas culturais: cultura popular, cultura universitária, cultura juvenil, cultura artística e tecnológica, cultura econômica e cultura familiar e cultura da mídia. É impossível imaginar um futuro para a sociedade, sem uma vigorosa contribuição das energias morais numa democracia que evite o risco de ficar fechada na pura lógica da representação dos interesses constituídos. Será fundamental a contribuição das grandes tradições religiosas, que desempenham um papel fecundo de fermento da vida social e de animação da democracia. Favorável à pacífica convivência entre religiões diversas é a laicidade do Estado que, sem assumir como própria qualquer posição confessional, respeita e valoriza a presença do fator religioso na sociedade, favorecendo as suas expressões concretas.
Quando os líderes dos diferentes setores me pedem um conselho, a minha resposta é sempre a mesma: diálogo, diálogo, diálogo. A única maneira para uma pessoa, uma família, uma sociedade crescer, a única maneira para fazer avançar a vida dos povos é a cultura do encontro; uma cultura segundo a qual todos têm algo de bom para dar, e todos podem receber em troca algo de bom. O outro tem sempre algo para nos dar, desde que saibamos nos aproximar dele com uma atitude aberta e disponível, sem preconceitos. Só assim pode crescer o bom entendimento entre as culturas e as religiões, a estima de umas pelas outras livre de suposições gratuitas e no respeito pelos direitos de cada uma. Hoje, ou se aposta na cultura do encontro, ou todos perdem; percorrer a estrada justa torna o caminho fecundo e seguro.
Excelências,
Senhoras e Senhores!
Agradeço-lhes pela atenção. Acolham estas palavras como expressão da minha solicitude de Pastor da Igreja e do amor que nutro pelo povo brasileiro. A fraternidade entre os homens e a colaboração para construir uma sociedade mais justa não constituem uma utopia, mas são o resultado de um esforço harmônico de todos em favor do bem comum. Encorajo os senhores no seu empenho em favor do bem comum, que exige da parte de todos sabedoria, prudência e generosidade.
Confio-lhes ao Pai do Céu, pedindo-lhe, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que cumule de seus dons a cada um dos presentes, suas respectivas famílias e comunidades humanas de trabalho e, de coração, a todos concedo a minha Bênção.
fonte: assessoria de imprensa da Santa Sé

Praia de Copacabana
Sexta-feira, 26 de julho de 2013
Queridos jovens,
Viemos hoje acompanhar Jesus no seu caminho de dor e de amor, o caminho da Cruz, que é um dos momentos fortes da Jornada Mundial da Juventude. No final do Ano Santo da Redenção, o Bem-aventurado João Paulo II quis confiá-la a vocês, jovens, dizendo-lhes: «Levai-a pelo mundo, como sinal do amor de Jesus pela humanidade e anunciai a todos que só em Cristo morto e ressuscitado há salvação e redenção» (Palavras aos jovens [22 de abril de 1984]: Insegnamenti VII,1(1984), 1105). A partir de então a Cruz percorreu todos os continentes e atravessou os mais variados mundos da existência humana, ficando quase que impregnada com as situações de vida de tantos jovens que a viram e carregaram. Ninguém pode tocar a Cruz de Jesus sem deixar algo de si mesmo nela e sem trazer algo da Cruz de Jesus para sua própria vida. Nesta tarde, acompanhando o Senhor, queria que ressoassem três perguntas nos seus corações: O que vocês terão deixado na Cruz, queridos jovens brasileiros, nestes dois anos em que ela atravessou seu imenso País? E o que terá deixado a Cruz de Jesus em cada um de vocês? E, finalmente, o que esta Cruz ensina para a nossa vida?
1. Uma antiga tradição da Igreja de Roma conta que o Apóstolo Pedro, saindo da cidade para fugir da perseguição do Imperador Nero, viu que Jesus caminhava na direção oposta e, admirado, lhe perguntou: «Para onde vais, Senhor?». E a resposta de Jesus foi: «Vou a Roma para ser crucificado outra vez». Naquele momento, Pedro entendeu que devia seguir o Senhor com coragem até o fim, mas entendeu sobretudo que nunca estava sozinho no caminho; com ele, sempre estava aquele Jesus que o amara até o ponto de morrer na Cruz. Pois bem, Jesus com a sua cruz atravessa os nossos caminhos para carregar os nossos medos, os nossos problemas, os nossos sofrimentos, mesmo os mais profundos. Com a Cruz, Jesus se une ao silêncio das vítimas da violência, que já não podem clamar, sobretudo os inocentes e indefesos; nela Jesus se une às famílias que passam por dificuldades, que choram a perda de seus filhos, ou que sofrem vendo-os presas de paraísos artificiais como a droga; nela Jesus se une a todas as pessoas que passam fome, num mundo que todos os dias joga fora toneladas de comida; nela Jesus se une a quem é perseguido pela religião, pelas ideias, ou simplesmente pela cor da pele; nela Jesus se une a tantos jovens que perderam a confiança nas instituições políticas, por verem egoísmo e corrupção, ou que perderam a fé na Igreja, e até mesmo em Deus, pela incoerência de cristãos e de ministros do Evangelho. Na Cruz de Cristo, está o sofrimento, o pecado do homem, o nosso também, e Ele acolhe tudo com seus braços abertos, carrega nas suas costas as nossas cruzes e nos diz: Coragem! Você não está sozinho a levá-la! Eu a levo com você. Eu venci a morte e vim para lhe dar esperança, dar-lhe vida (cf. Jo 3,16).
2. E assim podemos responder à segunda pergunta: o que foi que a Cruz deixou naqueles que a viram, naqueles que a tocaram? O que deixa em cada um de nós? Deixa um bem que ninguém mais pode nos dar: a certeza do amor inabalável de Deus por nós. Um amor tão grande que entra no nosso pecado e o perdoa, entra no nosso sofrimento e nos dá a força para poder levá-lo, entra também na morte para derrotá-la e nos salvar. Na Cruz de Cristo, está todo o amor de Deus, a sua imensa misericórdia. E este é um amor em que podemos confiar, em que podemos crer. Queridos jovens, confiemos em Jesus, abandonemo-nos totalmente a Ele (cf. Carta enc. Lumen fidei, 16)! Só em Cristo morto e ressuscitado encontramos salvação e redenção. Com Ele, o mal, o sofrimento e a morte não têm a última palavra, porque Ele nos dá a esperança e a vida: transformou a Cruz, de instrumento de ódio, de derrota, de morte, em sinal de amor, de vitória e de vida. O primeiro nome dado ao Brasil foi justamente o de «Terra de Santa Cruz». A Cruz de Cristo foi plantada não só na praia, há mais de cinco séculos, mas também na história, no coração e na vida do povo brasileiro e não só: o Cristo sofredor, sentimo-lo próximo, como um de nós que compartilha o nosso caminho até o final. Não há cruz, pequena ou grande, da nossa vida que o Senhor não venha compartilhar conosco.
3. Mas a Cruz de Cristo também nos convida a deixar-nos contagiar por este amor; ensina-nos, pois, a olhar sempre para o outro com misericórdia e amor, sobretudo quem sofre, quem tem necessidade de ajuda, quem espera uma palavra, um gesto; ensina-nos a sair de nós mesmos para ir ao encontro destas pessoas e lhes estender a mão. Tantos rostos acompanharam Jesus no seu caminho até a Cruz: Pilatos, o Cireneu, Maria, as mulheres… Também nós diante dos demais podemos ser como Pilatos que não teve a coragem de ir contra a corrente para salvar a vida de Jesus, lavando-se as mãos. Queridos amigos, a Cruz de Cristo nos ensina a ser como o Cireneu, que ajuda Jesus levar aquele madeiro pesado, como Maria e as outras mulheres, que não tiveram medo de acompanhar Jesus até o final, com amor, com ternura. E você como é? Como Pilatos, como o Cireneu, como Maria? Queridos jovens, levamos as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, os nossos fracassos para a Cruz de Cristo; encontraremos um Coração aberto que nos compreende, perdoa, ama e pede para levar este mesmo amor para a nossa vida, para amar cada irmão e irmã com este mesmo amor. Assim seja!
fonte: assessoria de imprensa da Santa Sé
Santuário Nacional de Aparecida
Quarta-feira, 24 de julho de 2013
Venerados irmãos no episcopado e no sacerdócio,
Queridos irmãos e irmãs!
Quanta alegria me dá vir à casa da Mãe de cada brasileiro, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. No dia seguinte à minha eleição como Bispo de Roma fui visitar a Basílica de Santa Maria Maior, para confiar a Nossa Senhora o meu ministério de Sucessor de Pedro. Hoje, eu quis vir aqui para suplicar à Maria, nossa Mãe, o bom êxito da Jornada Mundial da Juventude e colocar aos seus pés a vida do povo latinoamericano.

Queria dizer-lhes, primeiramente, uma coisa. Neste Santuário, seis anos atrás, quando aqui se realizou a V Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, pude dar-me conta pessoalmente de um fato belíssimo: ver como os Bispos – que trabalharam sobre o tema do encontro com Cristo, discipulado e missão – eram animados, acompanhados e, em certo sentido, inspirados pelos milhares de peregrinos que vinham diariamente confiar a sua vida a Nossa Senhora: aquela Conferência foi um grande momento de vida de Igreja. E, de fato, pode-se dizer que o Documento de Aparecida nasceu justamente deste encontro entre os trabalhos dos Pastores e a fé simples dos romeiros, sob a proteção maternal de Maria. A Igreja, quando busca Cristo, bate sempre à casa da Mãe e pede: “Mostrai-nos Jesus”. É de Maria que se aprende o verdadeiro discipulado. E, por isso, a Igreja sai em missão sempre na esteira de Maria.
Assim, de cara à Jornada Mundial da Juventude que me trouxe até o Brasil, também eu venho hoje bater à porta da casa de Maria, que amou e educou Jesus, para que ajude a todos nós, os Pastores do Povo de Deus, aos pais e aos educadores, a transmitir aos nossos jovens os valores que farão deles construtores de um País e de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Para tal, gostaria de chamar à atenção para três simples posturas: Conservar a esperança; deixar-se surpreender por Deus; viver na alegria.
1. Conservar a esperança. A segunda leitura da Missa apresenta uma cena dramática: uma mulher – figura de Maria e da Igreja – sendo perseguida por um Dragão – o diabo – que quer lhe devorar o filho. A cena, porém, não é de morte, mas de vida, porque Deus intervém e coloca o filho a salvo (cfr. Ap 12,13a.15-16a). Quantas dificuldades na vida de cada um, no nosso povo, nas nossas comunidades, mas, por maiores que possam parecer, Deus nunca deixa que sejamos submergidos. Frente ao desânimo que poderia aparecer na vida, em quem trabalha na evangelização ou em quem se esforça por viver a fé como pai e mãe de família, quero dizer com força: Tenham sempre no coração esta certeza! Deus caminha a seu lado, nunca lhes deixa desamparados! Nunca percamos a esperança! Nunca deixemos que ela se apague nos nossos corações! O “dragão”, o mal, faz-se presente na nossa história, mas ele não é o mais forte. Deus é o mais forte, e Deus é a nossa esperança! É verdade que hoje, mais ou menos todas as pessoas, e também os nossos jovens, experimentam o fascínio de tantos ídolos que se colocam no lugar de Deus e parecem dar esperança: o dinheiro, o poder, o sucesso, o prazer. Frequentemente, uma sensação de solidão e de vazio entra no coração de muitos e conduz à busca de compensações, destes ídolos passageiros. Queridos irmãos e irmãs, sejamos luzeiros de esperança! Tenhamos uma visão positiva sobre a realidade. Encorajemos a generosidade que caracteriza os jovens, acompanhando-lhes no processo de se tornarem protagonistas da construção de um mundo melhor: eles são um motor potente para a Igreja e para a sociedade. Eles não precisam só de coisas, precisam sobretudo que lhes sejam propostos aqueles valores imateriais que são o coração espiritual de um povo, a memória de um povo. Neste Santuário, que faz parte da memória do Brasil, podemos quase que apalpá-los: espiritualidade, generosidade, solidariedade, perseverança, fraternidade, alegria; trata-se de valores que encontram a sua raiz mais profunda na fé cristã.
2. A segunda postura: Deixar-se surpreender por Deus. Quem é homem e mulher de esperança – a grande esperança que a fé nos dá – sabe que, mesmo em meio às dificuldades, Deus atua e nos surpreende. A história deste Santuário serve de exemplo: três pescadores, depois de um dia sem conseguir apanhar peixes, nas águas do Rio Parnaíba, encontram algo inesperado: uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Quem poderia imaginar que o lugar de uma pesca infrutífera, tornar-se-ia o lugar onde todos os brasileiros podem se sentir filhos de uma mesma Mãe? Deus sempre surpreende, como o vinho novo, no Evangelho que ouvimos. Deus sempre nos reserva o melhor. Mas pede que nos deixemos surpreender pelo seu amor, que acolhamos as suas surpresas. Confiemos em Deus! Longe d’Ele, o vinho da alegria, o vinho da esperança, se esgota. Se nos aproximamos d’Ele, se permanecemos com Ele, aquilo que parece água fria, aquilo que é dificuldade, aquilo que é pecado, se transforma em vinho novo de amizade com Ele.
3. A terceira postura: Viver na alegria. Queridos amigos, se caminhamos na esperança, deixando-nos surpreender pelo vinho novo que Jesus nos oferece, há alegria no nosso coração e não podemos deixar de ser testemunhas dessa alegria. O cristão é alegre, nunca está triste. Deus nos acompanha. Temos uma Mãe que sempre intercede pela vida dos seus filhos, por nós, como a rainha Ester na primeira leitura (cf. Est 5, 3). Jesus nos mostrou que a face de Deus é a de um Pai que nos ama. O pecado e a morte foram derrotados. O cristão não pode ser pessimista! Não pode ter uma cara de quem parece num constante estado de luto. Se estivermos verdadeiramente enamorados de Cristo e sentirmos o quanto Ele nos ama, o nosso coração se “incendiará” de tal alegria que contagiará quem estiver ao nosso lado. Como dizia Bento XVI: «O discípulo sabe que sem Cristo não há luz, não há esperança, não há amor, não há futuro” (Discurso inaugural da Conferência de Aparecida [13 de maio de 2007]: Insegnamenti III/1 [2007], 861).
Queridos amigos, viemos bater à porta da casa de Maria. Ela abriu-nos, fez-nos entrar e nos aponta o seu Filho. Agora Ela nos pede: «Fazei o que Ele vos disser» (Jo 2,5). Sim, Mãe nossa, nos comprometemos a fazer o que Jesus nos disser! E o faremos com esperança, confiantes nas surpresas de Deus e cheios de alegria. Assim seja.
Fonte: Boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé
O Hipopótamo de Deus
Um dos passos mais intrigantes da Bíblia tem a ver com um hipopótamo. E não é propriamente um divertimento teológico, pois surge numa obra que explora muito seriamente os limites da responsabilidade humana perante a experiência devastadora do Mal. Falo do Livro de Jó, claro. O que primeiro surge ali é o protesto de Jó contra o Mal que se abate inexplicavelmente sobre a sua história, protesto que se estende até Deus, já que, afinal, Ele não isenta os justos das tribulações. Mas depois vem o momento em que Deus se propõe interrogá-lo. E nesse diálogo assombroso, desenvolve-se um raciocínio que não pode ser mais desconcertante. Jó só consegue pensar nas suas aflições, nas razões e desrazões com as quais, inutilmente, esgrime. Deus, porém, desafia-o a olhar de frente para... um hipopótamo. “Vê o hipopótamo que criei como a ti... Ele levanta a sua cauda como um cedro; os tendões das suas coxas estão entrelaçados. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua estrutura é semelhante a prachas de ferro. É a obra-prima de Deus..., ninguém se atreve a provocá-lo”.
O método de Deus neste singular encontro com Jó é trabalhar a medida do olhar humano, rasgá-lo imensamente para que ele vislumbre o incomensurável, tudo o que não tem resposta, mostrando-lhe que se o Mal é um enigma que nos cala, o Bem é um mistério ainda maior. A maravilhosa criação também não tem resposta. Porque pretender a todo o custo uma solução para o Mal, se o Bem é igualmente uma pergunta, e uma pergunta ainda mais funda, vasta e silenciosa?

“Olha de frente tudo o que é grande” – é o desafio que Deus lança a Jó. E, perante isto, Jó responde ao Senhor: “Os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora viram-te meus próprios olhos, por isso retrato-me e faço penitência no pó e na cinza”. Ele tinha apenas ouvido, mas agora viu, fixou-se na grandeza, reparou de frente na imensidão. Jó queria desvendar a dobra do Mal e esquecia que é o Bem o gigantesco segredo, o inesperado desígnio que mais nos visita.
José Tolentino Mendonça
Padre e poeta português
In: O Hipopotamo de Deus e outros textos. Assírio & Alvim Editora.
Os protestos... Admiro que não aconteceram antes. Havia tanto buraco no asfalto que cedo ou tarde o carro teria de parar. Mas qual foi precisamente a causa?
No curso ginasial aprendemos a distinguir entre causa e ocasião. Os protestos que hoje tomam a rua têm sua ocasião, aliás, bem escolhida: o Brasil está na vitrine graças ao amado e odiado futebol. Ademais, as eleições se aproximam... Isso não é mera coincidência.
Mas as causas, quais são? Não é só por R$ 0,20. Embora façam diferença, para muita gente, esses vinte centavos (diversas vezes multiplicados por causa de transportes não integrados)!
Protesta-se contra a desproporção entre o custo da infraestrutura e organização da Copa e os parcos investimentos em outros serviços públicos, bem mais  essenciais. Está certo, nada a comentar.
essenciais. Está certo, nada a comentar.
Outra causa é a saúde. Faltam milhares de médicos nas regiões periféricas, e importá-los também não resolve tudo, pois em muitos municípios a infraestrutura se restringe a uma ambulância para levar os pacientes até a próxima cidade maior. Precisa-se antes de motorista do que de médico...
Uma causa profunda é o problema da educação. A falta de percepção penetrante e de responsabilidade assumida —a meta da educação— manifesta-se, não tanto no banditismo, que quase inevitavelmente acompanha protestos sem firme liderança, mas na classe dirigente, que tratou com extrema leviandade as prioridades do povo, desde os dias em que a redemocratização fez nascer esperanças nunca realizadas. Isto é, durante uma geração inteira. Geração que, em vez de educação sólida e profunda, recebeu smartphones que permitem convocar manifestações instantâneas.
Parece que agora está havendo alguma percepção. Os manifestantes estão percebendo alguma coisa, ainda que seja difícil distinguir o quê. E os destinatários do protesto, que não estavam percebendo nada senão seu poder —seu próprio mundo, alienado daquilo que o povo percebe sem poder expressá-lo—, parece que de repente ficaram capazes de tomar, no atropelo, decisões que há muito deveriam ter tomado.
A educação não se restringe à escola, mas esta é, sobretudo diante da atual desintegração da família e do tecido comunitário, a última esperança da educação. Ora, os profissionais das escolas públicas descrevem o lugar onde trabalham como depósitos de crianças, sem estrutura pedagógica nem programas adequados para ensinar realmente alguma coisa. Um exemplo de como as coisas evoluem: em Betim-MG, município grande e comparativamente rico, a Secretaria de Educação decide substituir os pedagogos na escola por professores, já que, destes, muitos vão sobrar com o remanejamento que prevê 35 alunos por turma no ensino básico e 40 no médio (com ‘inclusão’ dos casos problemáticos). Escolas menores são fechadas, bibliotecário/as reduzidos à metade, eliminado o atendimento nos intervalos, quando as crianças poderiam aproveitar a biblioteca. E daí em diante.
Além disso, o discurso em torno da educação só fala em qualificação (para o mercado), nunca em formação humana integral para a vida. Neste sentido, os protestos e até o vandalismo que os acompanha são reveladores... Lula ficaria satisfeito, declarou, se todos os brasileiros tivessem três refeições por dia. Não precisa algo a mais?
Há também fatores mais submersos, fatores socioculturais que não foram levados em consideração. A frustração da não participação: jovens despolitizados, alheios e indiferentes em relação ao sistema político vigente. Mas isso não quer dizer que não percebem nada. Pode até ser que a aparente despolitização seja a sua verdadeira posição política. O governo não soube dialogar em tempo. Mas quais seriam os canais do diálogo? Os partidos? Os sindicatos? Os movimentos populares? Além de esvaziados, correspondem a outras épocas. A juventude não se comunica através de organizações, mas através do instantâneo. Será que as estruturas de nossa vida política correspondem à mutação sociocultural causada pelas novas tecnologias e os correspondentes novos comportamentos?
Finalmente, vejo uma causa mais profunda ainda: uma estrutura de natureza cultural. Uma estrutura é um conjunto de relações permanentes e autorreprodutoras; está aí para funcionar e se reproduzir. Ora, na cultura brasileira existe uma estrutura, talvez consequência da enorme presença da escravidão, que reproduz no povo um medo quase incompreensível. Assembleias votam manifestos que depois ninguém tem coragem de entregar. O jeitinho, o medo do confronto. Os coronéis mudaram de nome e de roupa, tornaram se SA e Cia Ltda, mas continuam mandando.
Só espero que não organizem alguma ‘marcha da família’ para pôr em segurança uma estrutura que está corroendo a família junto com a sociedade toda.
Pe.Johan Konings
Publicado no site Dom Total em 28.06.2013
Tem gente que pensa que essa “onda verde” de preocupações ecológicas, sustentabilidade, consumo consciente, é coisa dos tempos modernos. Nem tanto. O que mudou, e muito, foi a intensidade e competência do marketing que hoje se faz em torno de ações que, antes, eram naturais.
Quando eu era menino, ou seja, ainda dentro do nosso tempo histórico, meu e do caro leitor, as garrafas de leite, de refrigerante e cerveja eram de vidro e deviam ser devolvidas na hora da compra de outra unidade. A loja mandava os “cascos” vazios de volta às fábricas onde eram lavados e esterilizados, podendo, assim, ser reutilizados inúmeras vezes.
A vida se concentrava nos bairros, mas se precisássemos ir ao centro da cidade para uma consulta médica ou ir ao dentista, por exemplo, em geral subíamos escadas, porque não havia escadas rolantes nos edifícios, lojas e escritórios. Lembro-me quando foram inauguradas as primeiras escadas rolantes de BH, na Galeria do Ouvidor. A gente ia lá para conhecer e passear na novidade. Vejam só o programa de sábado; passear em escada rolante...
De volta pra casa, caminhávamos até o armazém da esquina para fazer compras na caderneta. Para quem não sabe, a caderneta era usada em estabelecimentos comerciais tipo padarias, farmácias, vendas e assemelhados. O balconista entregava o produto e anotava o valor a lápis, na página onde havia o nome do freguês. No final do mês era só ir lá, somar e acertar. Simples como a vida.
Não havia super nem hiper-mercados, com estacionamentos caros e lotados de carros de 300 cavalos de potência usados para andar dois quarteirões. A polêmica sobre o uso das sacolinhas plásticas nem passava pela cabeça dos consumidores que levavam, de casa, uma sacola de pano ou de lona listrada que era usada quantas vezes fosse necessário. Isso quando a montanha, ou melhor, o produto não chegava a Maomé através de um ecológico delivery: de bicicleta, vinham a nós o verdureiro, o padeiro, o peixeiro, o leiteiro e outros vendedores a quem conhecíamos pelo nome e pela qualidade dos produtos oferecidos.

As fraldas dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Aliás, a palavra ‘descartável’ era uma ilustre desconhecida. Para secar as fraldas de pano, energia eólica e solar, ou seja, o varal. Nada de turbinadas e barulhentas máquinas de lavar e secar. E lá em casa, com a escadinha de seis filhos, o varal era sempre uma festa onde “nossas roupas comuns, dependuradas na corda, qual bandeiras agitadas, pareciam um estranho festival...” E as roupas eram mesmo “em comum”. Eu, sendo o mais velho daquela penca de seis irmãos, tinha o privilégio de inaugurar a camisa do uniforme escolar. Os irmãos menores iam “herdando” as roupas que tinham sido dos irmãos mais velhos, que eram usadas, cerzidas, ajustadas até a exaustão. E a gente achava essa reciclagem a coisa mais natural do mundo.
Havia só uma tomada em cada quarto, e não um quadro de tomadas em cada parede para alimentar uma dúzia de aparelhos. E nós não precisávamos de um GPS para receber sinais de satélites a milhas de distância no espaço, só para encontrar a pizzaria mais próxima. A pizza era feita em casa mesmo.
Naquela tomada ligava-se uma única TV, uma só pra todo mundo da casa, e não uma TV em cada quarto. Sem controle remoto, ligar e desligar, mudar de canal, ajustar o som e mexer na antena exigiam constantes exercícios abdominais no senta e levanta do sofá. Mas nem precisava de TV, pois havia um cinema “Paradiso” em cada bairro e a gente ia a pé para a matinê.
Naquela era pré-McDonalds, terminado o filme, voltávamos correndo pra casa para curtir o lanche. Nada de Hambuguer, X-Burguer, X-Tudo. Sem praça de alimentação, sem as geringonças elétricas e eletrônicas que fazem tudo por nós, minha mãe, avó e tias colocavam a mão na massa no preparo de roscas e biscoitos caseiros, bolos fantásticos, doces inesquecíveis. E cada uma tinha sua especialidade.
Ninguém fazia empadinhas como Dinhaía, caçarola italiana como tia Elza, biscoitos de polvilho torcidinhos como vovó Nega, capa de canudinho (que a gente recheava de doce de leite na hora) como tia Célia, bolo como tia Délia, broa de fubá como dona Tutu e outros quitutes cuja lembrança dos sabores fazem minha memória salivar.
E mesmo com essas delícias nada diets à mesa, éramos magros e atléticos (com perdão da palavra), sem necessidade de dietas mágicas, sibutraminas e moderadores de apetite. Exercitar-se era comum no dia a dia, sem precisar ir a uma academia (que nem existiam) ou usar esteiras que também funcionam a eletricidade e hoje viram varais na área de serviço dos nossos modernos “apertamentos”.
Naqueles tempos não se usava um motor a gasolina para aparar a grama. Utilizava-se um tesourão ou um cortador que exigiam músculos. Mas isso foi num tempo em que havia quintais e gramados. Hoje, em tempos de playgrounds de cimento e campos de grama sintética...
Sem playgrounds, nossa diversão era o futebol no campinho, as brincadeiras – bente-altas, pique-esconde, mãe-da-rua, garrafão e outras molecagens, sempre na rua, num tempo em que ser moleque e estar na rua eram as coisas mais naturais e saudáveis do mundo.
Bebíamos água da bilha ou do filtro de barro, em canecas de alumínio que faziam com que a água parecesse ter saído diretamente da fonte. Nada de copos descartáveis ou garrafas pet que tornam-se lixo por séculos e séculos amém.
A caneta tinteiro Parker 51 do meu pai era recarregável. Para fazer a barba, ele amolava sua própria navalha, ao invés de jogar fora todos os aparelhos 'descartáveis' quando a lâmina fica sem corte.
Ninguém gastava horas de estresse e litros de combustível para ir e voltar do trabalho. As pessoas tomavam o bonde ou ônibus sem atropelos, sem congestionamentos, sem hora do rush. Íamos à escola a pé ou de bicicleta, ao invés de usar a mãe como serviço de táxi 24 horas.
É verdade que éramos bem menos e vivíamos menos assustados, pois não havia os Datenas para nos aterrorizar. No Estádio Independência, na era pré-Mineirão, o máximo de agressão entre cruzeirenses e atleticanos eram as torcidas, sentadas lado a lado, sem divisão, gritando “cachorrada!” e a outra respondendo, “refrigerados!”.
Na verdade, já éramos ecológicos e tínhamos uma vida absolutamente sustentável.
Bons tempos, em que a gente era verde e não sabia...
Eduardo Machado
12/06/2013
Para a Elodie e o Marco Miranda
Tenho tido nestes anos, como padre, a gratíssima alegria de casar dezenas de amigos. Sei por eles, e da forma mais pura, a verdade daquele verso de Dante que diz: «o amor move o sol e as outras estrelas». Ao olhar para o interior das suas vidas, para dentro dos seus sonhos e até dos seus temores é esse incomparável mistério que se detecta: o modo como o amor, como a frágil força do amor é capaz de mover, de transfigurar e de unir, até ao fim, cada fragmento do corpo e cada filamento da alma.
Um outro autor italiano escreveu: «Somos anjos de uma asa apenas. Só permanecendo abraçados podemos voar». O casamento é a serena e criativa conjugação destes dois sentimentos que, fora dele, pareciam destinados a existir unicamente em contraste: a solidão e a comunhão. O amor agudiza a consciência de sermos um; descobre, aos nossos próprios olhos, a irresolúvel incompletude que individualmente nos caracteriza, a nossa insuperável carência; e ensina-nos o sabor de uma, até aí desconhecida, solidão: aquela que se sente por estar privados do ser amado. No bíblico livro de Rute isso vem assim explicitado: «a vida tratar-me-á com duros rigores se outra coisa, a não ser a morte, me impedir de olhar diariamente o teu rosto» (Rt 1,17). A solidão incandescente com que o amor fere os que se amam é, porém, o que faz dele uma prática de desejo e de caminho, um exercício de mendicância (na verdade, o amor é sempre uma conversa entre mendigos) e de busca, uma forma de entrega e de súplica. Por alguma razão a experiência religiosa da mística recorre a uma linguagem próxima desta amorosa. Os enamorados percebem o estado dos grandes orantes e vice-versa, creio.

Mas o amor é sobretudo milagre da comunhão. Uma comunhão construída também com esforço, é claro, conquistada continuamente ao território muito defendido do egoísmo, traduzida em decisões quotidianas e vigilantes. Porém, não é propriamente de uma conquista que se trata, mas do arrebatamento comum pelo dom, do espanto inesgotável, de uma hospitalidade radical. «Se me tapares os olhos: ainda poderei ver-te. Se me tapares os ouvidos: ainda poderei ouvir-te. E mesmo sem pés poderei ir para ti. E mesmo sem boca poderei invocar-te». O fundamental é vislumbrado e servido em completa dádiva, acontece sem porquês, no âmbito de uma gratuidade infatigável, numa geografia sem condições nem reservas. O amor não se explica: implica-se. É uma voluntária hipoteca, um sigilo de sangue, entrelaçamento vital. Os enamorados conspiram com o milagre e, por isso, tornam-se, de forma tão íntima, cúmplices de Deus.
Compreendo o aviso meio irónico que Auden faz contra as festas de casamento. Ele diz que os noivos deviam ser humildes e não fazer logo no primeiro do seu casamento uma festa colossal, quando, no fundo, está ainda tudo por construir. Mas também acho impossível não celebrar a alegria do casamento, e fazê-lo com uma simbólica desmesura. Poucos momentos dão a ver assim a vida na sua transparência.
Pe. José Tolentino Mendonça
padre e poeta português
Dias atrás, Gabriel Prehn Britto, do blog Gabriel quer viajar, tuitou a seguinte frase: “Precisamos redefinir, com urgência, o significado de URGENTE”. (Caixa alta, na internet, é grito.) “Parece que as pessoas perderam a noção do sentido da palavra”, comentou, quando perguntei por que tinha postado esse protesto/desabafo no Twitter. “Urgente não é mais urgente. Não tem mais significado nenhum.” Ele se referia tanto ao urgente usado para anunciar notícias nada urgentes nos sites e nas redes sociais, quanto ao urgente que invade nosso cotidiano, na forma de demanda tanto da vida pessoal quanto da profissional. Depois disso, Gabriel passou a postar uns “tuítes” provocativos, do tipo: “Urgente! Acordei” ou “Urgente: hoje é sexta-feira”.
A provocação é muito precisa. Se há algo que se perdeu nessa época em que a tecnologia tornou possível a todos alcançarem todos, a qualquer tempo, é o conceito de urgência. Vivemos ao mesmo tempo o privilégio e a maldição de experimentarmos uma transformação radical e muito, muito rápida em nosso ser/estar no mundo, com grande impacto na nossa relação com todos os outros. Como tudo o que é novo, é previsível que nos atrapalhemos. E nos lambuzemos um pouco, ou até bastante. Nessa nova configuração, parece necessário resgatarmos alguns conceitos, para que o nosso tempo não seja devorado por banalidades como se fosse matéria ordinária. E talvez o mais urgente desses conceitos seja mesmo o da urgência.
Estamos vivendo como se tudo fosse urgente. Urgente o suficiente para acessar alguém. E para exigir desse alguém uma resposta imediata. Como se o tempo do “outro” fosse, por direito, também o “meu” tempo. E até como se o corpo do outro fosse o meu corpo, já que posso invadi-lo, simbolicamente, a qualquer momento. Como se os limites entre os corpos tivessem ficado tão fluidos e indefinidos quanto a comunicação ampliada e potencializada pela tecnologia. Esse se apossar do tempo/corpo do outro pode ser compreendido como uma violência. Mas até certo ponto consensual, na medida em que este que é alcançado se abre/oferece para ser invadido. Torna-se, ao se colocar no modo “online”, um corpo/tempo à disposição. Mas exige o mesmo do outro – e retribui a possessão. Olho por olho, dente por dente. Tempo por tempo.

Como muitos, tenho tentado descobrir qual é a minha medida e quais são os meus limites nessa nova configuração. E passo a contar aqui um pouco desse percurso no cotidiano, assim como do trilhado por outras pessoas, para que o questionamento fique mais claro. Descobri logo que, para mim, o celular é insuportável. Não é possível ser alcançada por qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. Estou lendo um livro e, de repente, o mundo me invade, em geral com irrelevâncias, quando não com telemarketing. Estou escrevendo e alguém liga para me perguntar algo que poderia ter descoberto sozinho no Google, mas achou mais fácil me ligar, já que bastava apertar uma tecla do próprio celular. Trabalhei como uma camela e, no meu momento de folga, alguém resolve me acessar para falar de trabalho, obedecendo às suas próprias necessidades, sem dar a mínima para as minhas. Não, mas não mesmo. Não há chance de eu estar acessível – e disponível – 24 horas por sete dias, semana após semana.
Me bani do mundo dos celulares, fechei essa janela no meu corpo. Mantenho meu aparelho, mas ele fica desligado, com uma gravação de “não uso celular, por favor, mande um e-mail”. Carrego-o comigo quando saio e quase sempre que viajo. Se precisar chamar um táxi em algum momento ou tiver uma urgência real, ligo o celular e faço uma chamada. Foi o jeito que encontrei de usar a tecnologia sem ser usada por ela.
Minha decisão não foi bem recebida pelas pessoas do mundo do trabalho, em geral, nem mesmo pela maior parte dos amigos e da família. Descobri que, ao não me colocar 24 horas disponível, as pessoas se sentiam pessoalmente rejeitadas. Mas não apenas isso: elas sentiam-se lesadas no seu suposto direito a tomar o meu tempo na hora que bem entendessem, com ou sem necessidade, como se não devesse existir nenhum limite ao seu desejo. Algumas declararam-se ofendidas. Como assim eu não posso falar com você na hora que eu quiser? Como assim o seu tempo não é um pouco meu? E se eu precisar falar com você com urgência? Se for urgência real – e quase nunca é – há outras formas de me alcançar.
Percebi também que, em geral, as pessoas sentem não só uma obrigação de estar disponíveis, mas também um gozo. Talvez mais gozo do que obrigação. É o que explica a cena corriqueira de ver as pessoas atendendo o celular nos lugares mais absurdos (inclusive no banheiro...). Nem vou falar de cinema, que aí deveria ser caso de polícia. Mas em aulas de todos os tipos, em restaurantes e bares, em encontros íntimos ou mesmo profissionais. É o gozo de se considerar imprescindível. Como se o mundo e todos os outros não conseguissem viver sem sua onipresença. Se não atenderem o celular, se não forem encontradas de imediato, se não derem uma resposta imediata, catástrofes poderão acontecer.
O celular ligado funciona como uma autoafirmação de importância. Tipo: o mundo (a empresa/a família/ o namorado/ o filho/ a esposa/ a empregada/ o patrão/os funcionários etc) não sobrevive sem mim. A pessoa se estressa, reclama do assédio, mas não desliga o celular por nada. Desligar o celular e descobrir que o planeta continua girando pode ser um risco maior. Nesse sentido, e sem nenhuma ironia, é comovente.
Por outro lado, é um tanto egoísta, já que a pessoa não se coloca por inteiro onde está, numa aula ou no trabalho ou mesmo em casa – nem se dedica por inteiro àquele com quem escolheu estar, num encontro íntimo ou profissional. Está lá – mas apenas parcialmente. Não há como não ter efeito sobre o momento – e sobre o resultado. A pessoa está parcialmente com alguém ou naquela atividade específica, mas também está parcialmente consigo mesma. Ao manter o celular ligado, você pertence ao mundo, a todo mundo e a qualquer um – mas talvez não a si mesmo.
Me parece descortês alguém estar comigo num restaurante, por exemplo, e interromper a conversa e a comida para atender o celular. Assim como me parece abusivo ser obrigada a aturar os celulares das pessoas ao redor tocando em todas as modalidades e volumes, invadindo o espaço de todos os outros sem nenhuma consideração. Ou ainda estar em um lugar público e ter de ouvir a narração de uma vida privada, uma que não conheço nem quero conhecer. Será que isso é realmente necessário? Será que uma pessoa não pode se ausentar, ficar incomunicável, por algumas horas? Será que temos o direito de invadir o corpo/tempo dos outros direta ou indiretamente? Será que há tantas urgências assim? Como é que trabalhávamos e amávamos antes, então?
Bem, eu não sou imprescindível a todo mundo e tenho certeza de que os dias nascem e morrem sem mim. As emergências reais são poucas, ainda bem, e para estas há forma de me encontrar. Logo, posso ficar sem celular. Mas tive de me esforçar para que as pessoas entendessem que não é uma rejeição ou uma modalidade de misantropia, apenas uma escolha. Para mim, é uma maneira de definir as fronteiras simbólicas do meu corpo, de territorializar o que sou eu e o que é o outro, e de estabelecer limites – o que me parece fundamental em qualquer vida.
Tentei manter um telefone fixo, com o número restrito às pessoas fundamentais no campo dos afetos e também no profissional. Mas o telemarketing não permitiu. É impressionante como as empresas de todo o tipo – e agora até os candidatos numa eleição – acham que têm o direito de nos invadir a qualquer hora. Considero uma violência receber uma ligação ou gravação dessas dentro de casa, à minha revelia. E parece que sempre encontram um jeito de burlar nossas tentativas de barrar esse tipo de assédio. Assim, também botei uma gravação no telefone fixo – e ele virou um telefone só para recados, porque foi o único jeito que encontrei de impedir o abuso do mercado.
Minha principal forma de comunicação é hoje o e-mail, porque sou eu que escolho a hora de acessá-lo. E, ao procurar alguém, seja por motivo profissional ou pessoal, tenho certeza de não estar invadindo seu cotidiano em hora imprópria. É assim que combino encontros e entrevistas ao vivo, que são os que eu prefiro. Ou marco horário para conversas por Skype com quem está em outra cidade ou país. E quando viajo ou preciso desaparecer do mundo, para ficar só comigo mesma, ou me dedicar a um outro por completo, ou à escrita de um livro, basta deixar uma mensagem automática. Tento me disciplinar para acessar o Twitter, que para mim é hoje uma ferramenta fundamental para dar, receber e principalmente compartilhar informações, em horários específicos. E desligo o computador antes de dormir, como gesto simbólico que diz: fechei a porta.
Uma amiga foi assaltada por uma insônia persistente. Ao despertar, na madrugada, tinha a sensação de que o mundo se movia em ritmo veloz enquanto ela dormia. Parecia que estava perdendo algo importante, que ficaria para trás. E parecia até que estava morta para o mundo, “offline”. Às vezes não resistia e saía da cama para caminhar até o escritório, onde ficava o computador, e entrar no Facebook e no Twitter, dar uma circulada nos sites de notícias, manter-se desperta, presente e alinhada ao mundo que não parava, correndo atrás dele. Depois, passou a deixar o notebook ao lado da cama e já acessava a internet dali mesmo, apesar dos protestos do marido.
Quando a insônia já estava comprometendo seriamente os seus dias, ela procurou um psiquiatra em busca de remédio. O médico perguntou bastante sobre seus hábitos, e ela descobriu que o pesadelo que a deixava insone era aquele computador ligado, com o mundo acontecendo dentro dele num ritmo que ela não podia acompanhar nem mesmo se mantendo acordada por 24 horas. Bastou desligar o computador a cada noite para que passasse a despertar menos vezes e menos sobressaltada nas madrugadas. Aos poucos, voltou a dormir bem. O mundo estava onde devia estar – e ela também, na cama. Estava offline, mas viva.
Conheço pessoas que botam fita adesiva sobre a câmera do computador. Foi o meio encontrado para se protegerem da sensação de que estavam sendo espiadas/monitoradas 24 horas por dia por algum tipo de Big Brother – no sentido do 1984, do George Orwell (não no do reality show da TV Globo). A câmera tinha se tornado uma espécie de olho do mundo, que podia abrir as pálpebras mesmo à revelia, como nas histórias fantásticas e nos filmes de terror.
Conto minhas (des)venturas, assim como as de outros, apenas porque acho que não somos os únicos a ter esse tipo de inquietação. É um momento histórico bem estratégico de redefinição de limites, de territórios e também de conceitos. Que tipo de efeito terá sobre as novas gerações a ideia de que não há limites para alcançar, ocupar e consumir o tempo/corpo dos pais e amigos e mesmo de desconhecidos? Assim como não há limites para ter o próprio tempo/corpo alcançado, ocupado e consumido?
Ainda acho que o gozo de ser imprescindível a quase todos os outros – no sentido de não poder se ausentar ou se calar – e também de ser onipotente – no sentido de alcançar, a qualquer hora, o corpo de todos os outros – é maior do que o incômodo. Mas talvez só aparentemente, na medida em que é possível que não estejamos conseguindo avaliar o estrago que esses corpos/tempos violáveis e violados possam estar causando na nossa subjetividade – e mesmo na nossa capacidade criativa e criadora.
A grande perda é que, ao se considerar tudo urgente, nada mais é urgente. Perde-se o sentido do que é prioritário em todas as dimensões do cotidiano. E viver é, de certo modo, um constante interrogar-se sobre o que é importante para cada um. Ou, dito de outro modo, uma constante interrogação sobre para quem e para o quê damos nosso tempo, já que tempo não é dinheiro, mas algo tremendamente mais valioso. Como disse o professor Antonio Candido, “tempo é o tecido das nossas vidas”.
Essa oferta 24 X 7 do nosso corpo simbólico para todos os outros – e às vezes para qualquer um – pode ter um efeito bem devastador sobre a nossa existência. Um que sequer é escutado, dado o tanto de barulho que há. Falamos e ouvimos muito, mas de fato não sabemos se dizemos algo e se escutamos algo. Ou se é apenas ruído para preencher um vazio que não pode ser preenchido dessa maneira.
Será que não é este o nosso mal-estar?
Viver no tempo do outro – de todos e de qualquer um – é uma tragédia contemporânea.
Eliane Brum
In: site da Revista Época – 29.04.2013
Affonso Romano de Santana
"Mas você sabe que a pessoa pode encalhar numa palavra e perder anos de vida?" Clarice Lispector
Vejam só: encalhar numa palavra. A pessoa lá vai no seu barquinho vida adentro e, de repente, encalha numa palavra. Pode ser “marxismo”, “Deus”, “pai”, “vanguarda”, “revolução”, “Paris”, “aposentadoria”. As palavras são paralisantes. O Brasil, por exemplo, no princípio do século estava encalhado na “febre amarela”. Nos últimos anos reencalhou na “ditadura” e na “censura”. Tem hora que encalha na “inflação”. Agora encalhou no “desemprego”. E está difícil desencalhar da “reforma agrária”, da “corrupção” e do “subdesenvolvimento”. (...)

Quem leu O nome da rosa se lembra que havia lá na biblioteca medieval um texto impossível, envenenado, como o fruto interditado no meio do jardim. É que as palavras, com essa coisa de se plantarem em nossa vida, nos alimentam e nos matam, são remédio e veneno, e, como os produtos de uma farmácia, são drogas que podem sarar ou curar.
Aurélio Buarque de Hollanda, enfatizando o lado positivo das palavras, me disse um dia: “nós temos que dar oportunidade às palavras”. Entendi isto como uma sugestão para a gente se desencalhar e ir desfrutando palavras novas, como o amante que com um novo amor renasce vida afora.
Em algumas culturas, certas palavras não podem sequer ser pronunciadas, pois trazem desgraças. Mas em algumas narrativas, certos vocábulos abrem grutas, cofres e corações. Sim, algumas palavras ajudam o barco a flutuar: “esperança”, “amanhã”, “utopia”. Pode-se também passar uma estação com algumas delas, como se pode passar uma temporada num determinado lugar, num certo corpo, num certo amor. Certas palavras são como hotéis: nelas fazemos pernoite, mas outras demandam moradia maior, são grutas ou catedrais que exigem contemplação.
Com as palavras a gente tem que tomar cuidado, pois no primeiro encontro nos libertam, depois nos aprisionam. Há palavras tão duras e montanhosas, que nem com trator, só dinamitando. E o fato é que um simples “bom dia” ou “alô” pode salvar uma vida. A psicanálise pretende ser o método da “cura pela fala”, mas também pode se tratar pelo ouvido. As palavras ouvidas também curam. Vejam a mãe soprando o dedinho do filho dizendo: “já passou o dodói, pronto”.
Viver também é a arte de lidar com as palavras. E como já disse alguém - as palavras são caminhos para encontrar as coisas perdidas.
(Adaptação. In: http://midiaeopiniao.blogspot.com - acessado em 06/10/2010)
Equipe do Centro Loyola
30.04.2013
Página 20 de 22