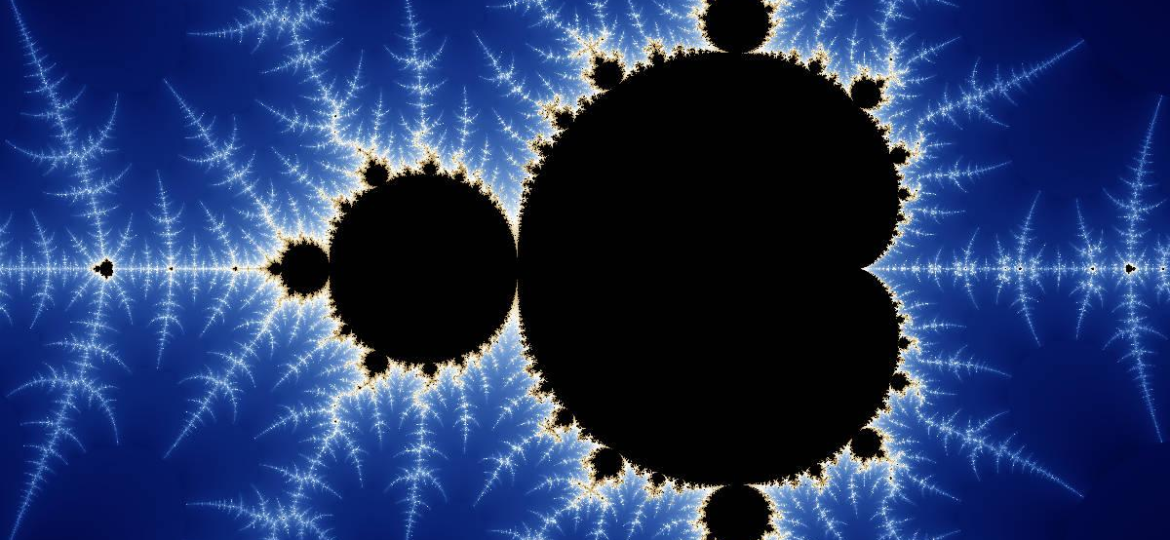Affonso Romano de Santana
"Mas você sabe que a pessoa pode encalhar numa palavra e perder anos de vida?" Clarice Lispector
Vejam só: encalhar numa palavra. A pessoa lá vai no seu barquinho vida adentro e, de repente, encalha numa palavra. Pode ser “marxismo”, “Deus”, “pai”, “vanguarda”, “revolução”, “Paris”, “aposentadoria”. As palavras são paralisantes. O Brasil, por exemplo, no princípio do século estava encalhado na “febre amarela”. Nos últimos anos reencalhou na “ditadura” e na “censura”. Tem hora que encalha na “inflação”. Agora encalhou no “desemprego”. E está difícil desencalhar da “reforma agrária”, da “corrupção” e do “subdesenvolvimento”. (...)

Quem leu O nome da rosa se lembra que havia lá na biblioteca medieval um texto impossível, envenenado, como o fruto interditado no meio do jardim. É que as palavras, com essa coisa de se plantarem em nossa vida, nos alimentam e nos matam, são remédio e veneno, e, como os produtos de uma farmácia, são drogas que podem sarar ou curar.
Aurélio Buarque de Hollanda, enfatizando o lado positivo das palavras, me disse um dia: “nós temos que dar oportunidade às palavras”. Entendi isto como uma sugestão para a gente se desencalhar e ir desfrutando palavras novas, como o amante que com um novo amor renasce vida afora.
Em algumas culturas, certas palavras não podem sequer ser pronunciadas, pois trazem desgraças. Mas em algumas narrativas, certos vocábulos abrem grutas, cofres e corações. Sim, algumas palavras ajudam o barco a flutuar: “esperança”, “amanhã”, “utopia”. Pode-se também passar uma estação com algumas delas, como se pode passar uma temporada num determinado lugar, num certo corpo, num certo amor. Certas palavras são como hotéis: nelas fazemos pernoite, mas outras demandam moradia maior, são grutas ou catedrais que exigem contemplação.
Com as palavras a gente tem que tomar cuidado, pois no primeiro encontro nos libertam, depois nos aprisionam. Há palavras tão duras e montanhosas, que nem com trator, só dinamitando. E o fato é que um simples “bom dia” ou “alô” pode salvar uma vida. A psicanálise pretende ser o método da “cura pela fala”, mas também pode se tratar pelo ouvido. As palavras ouvidas também curam. Vejam a mãe soprando o dedinho do filho dizendo: “já passou o dodói, pronto”.
Viver também é a arte de lidar com as palavras. E como já disse alguém - as palavras são caminhos para encontrar as coisas perdidas.
(Adaptação. In: http://midiaeopiniao.blogspot.com - acessado em 06/10/2010)
Equipe do Centro Loyola
30.04.2013
“Não é um acaso que os mitos de sucesso de hoje apelem para pessoas que deixaram a escola de lado”
As pessoas não gostam de pensar. Dá trabalho. Sobretudo quando a exigência de reflexão parece jogar contra tudo que se convencionou considerar como valor: o sucesso, o dinheiro e o poder. Por isso os pensadores estão em baixa, o estudo deixou de ser um bem, a ideia de preparação apenas um atraso à chegada ao mundo das mercadorias e do prazer imediato e com preço na etiqueta.
O sociólogo polonês Zygmunt Bauman vem, nas últimas décadas, alertando para esse tipo de cenário, a modernidade líquida (que substituiu a modernidade sólida), e para o tipo de homem funcional nesse contexto. Sua extensa obra é um alerta que, embora fundamentado na melhor ciência social, parte sempre do cotidiano e de experiências presentes na vida de todos: o medo que paralisa e nos entope de ansiedade, a fragilidade dos laços amorosos, transformação do homem em mercadoria pela sanha do consumo, o desprestígio da política, a aceitação da injustiça social como um mero dano colateral da globalização.
Com 30 livros já lançados no Brasil, Bauman vive na Inglaterra desde 1971 e, a cada estudo, parece operar um poderoso do-in em nossas fragilidades. Com a capacidade de ir no ponto certo, sua massagem intelectual faz circular energias necessárias para quem ainda se dispõe não apenas a compreender nossos descaminhos, como a atuar para modificar seu rumo. O que Bauman mostra não é um panorama de depressão e tristeza. Ele sabe que a modernidade líquida, ainda que ansiogênica em sua natureza, se alimenta da cota de prazer que promete em termos de consumo e felicidade imediata. A modernidade líquida não é um descaminho, mas um projeto.
 Por isso, o mais recente livro do sociólogo, Sobre educação e juventude (Editora Zahar), é tão interessante. Dado o diagnóstico, Bauman se preocupa em mostrar o projeto de formação educacional que está por trás de um mundo sem futuro. Mesmo a mais liberal das ideologias sempre via na educação um momento necessário para renovação das elites culturais e políticas. Estava na educação o bastão que se transmitia de uma geração a outra, em termos de valores e conhecimentos fundamentais. Na sociedade líquida, na cultura de cassino, na expressão de George Steiner, esquecer é melhor que lembrar. O consumo é ponto de partida e de chegada.
Por isso, o mais recente livro do sociólogo, Sobre educação e juventude (Editora Zahar), é tão interessante. Dado o diagnóstico, Bauman se preocupa em mostrar o projeto de formação educacional que está por trás de um mundo sem futuro. Mesmo a mais liberal das ideologias sempre via na educação um momento necessário para renovação das elites culturais e políticas. Estava na educação o bastão que se transmitia de uma geração a outra, em termos de valores e conhecimentos fundamentais. Na sociedade líquida, na cultura de cassino, na expressão de George Steiner, esquecer é melhor que lembrar. O consumo é ponto de partida e de chegada.
Não é um acaso que os jovens, hoje, se sintam desnorteados e raivosos quando percebem que a promessa de um emprego se frustra numa sociedade que não valoriza o conhecimento (há algumas décadas se falava orgulhosamente em sociedade do conhecimento, hoje se defende que devemos ser formados para esquecer o que aprendemos ontem sob o risco da obsolescência). Há vários sinais desse desprestígio: a corrida para os concursos (a estabilidade acima do desafio de criar e mudar o mundo), o excesso de relações virtuais, o abuso de drogas, o comportamento violento, o consumismo. Não é um acaso que os mitos de sucesso de hoje apelem tanto para pessoas que deixaram a escola de lado, como Steve Jobs, Jack Dorsey e David Karp, todos da área de informática: no mundo do sucesso imediato, a educação é um atraso de vida.
Em Sobre educação e juventude, o sociólogo, em diálogo com o italiano Ricardo Mazzeo, enfrenta os desafios da educação na sociedade contemporânea. Não se trata apenas de uma defesa genérica que costuma ser traduzida em termos de busca de mais recursos, ampliação da jornada, valorização dos professores e primazia do conhecimento, como se todos os males se devessem a um déficit no setor. Na verdade, o projeto de educação para o consumo é funcional e vitorioso, não sinal de uma derrota. Mudar a educação é um passo importante para a transformação da sociedade. Não se pode querer menos que isso.
Bauman começa lembrando a contribuição do antropólogo Gregory Bateson e sua distinção entre níveis de educação. No primeiro patamar, o mais baixo, há apenas a transferência de informação a ser memorizada. No segundo, se busca a formação de uma estrutura cognitiva que permita, no futuro, que outras informações possam ser absorvidas e incorporadas, criando um patrimônio de saber e habilidades. O terceiro nível se refere à capacidade de desfazer a estrutura anterior, sem deixar no lugar um elemento substituto. O que pode, em momentos muito especiais, ser a abertura para novo paradigmas (é importante lembrar que quebrar paradigmas é algo mais profundo que mudar de ideia), na maioria das vezes tem efeito paralisador sobre o conhecimento.
Na educação contemporânea, o primeiro nível deixou de ser importante, já que a mera informação foi transferida para a memória das máquinas, e o que era potencialmente um câncer se tornou um valor. Hoje, em alguns contextos, esquecer é mais importante que manter viva a memória. A tradução dessa operação, por exemplo, no mundo do trabalho, se dá na desvalorização de carreiras longas, de aprendizagens cumulativas, de patrimônios de experiência plasmados no tempo. Em muitas áreas de prestígio, vale mais ter tido muitos empregos dispersos e até conflitantes do que uma trajetória coerente de construção de um saber e de um saber fazer. A liquidez moderna exige desprendimento, volatilidade, mudança. Como os personagens de Lewis Carrol em Alice no País das Maravilhas, é preciso ir rápido para ficar no mesmo lugar e correr duas vezes mais rápido para sair de onde está.
Alimentar o ódio
A juventude atual vive um cenário de decréscimo de expectativas como não se via há muito tempo. Ter um diploma não é mais garantia de nada. Na geração de seus pais, não havia esforço mais amoroso que investir na educação do filho. Hoje, sobretudo na Europa, a ausência de perspectivas dos jovens, que se vêm forçados a aceitar ocupações abaixo de sua formação, domina as consciências infelizes. O resultado, ao lado de uma saudável revolta, contudo, muitas vezes se transforma em ódio geracional (como se a previdência fosse culpada de tudo) ou mixofobia, traduzida em comportamentos racistas e xenófobos, como se os estrangeiros fossem responsáveis pelo desequilíbrio de um capitalismo que não vê fronteiras na hora de expandir e quer criar barreiras no momento da distribuição.
Os alertas e propostas de Zygmunt Bauman não se voltam para a nostalgia de um passado de ouro. Há novos desafios no mundo. O que suas reflexões sobre a educação parecem trazer são alguns pressupostos que não podem ser deixados de lado quando se pensa, hoje, em soluções amplas para temas sociais e políticos.
O diagnóstico parece conter em si a terapia: somos herdeiros de uma era de diferenças, as questões globais só são pensáveis no terreno dos temas locais, a assimilação à cultura dominante não é mais um destino, o capitalismo gera mais problemas do que é capaz de resolver com seus próprios instrumentos, a tecnologia não vai dar conta de nosso impasse ecológico, a conquista dos ideais modernos foi interrompida, o mercado de consumo não vai obturar nossas faltas enquanto indivíduos e cidadãos.
Sobre educação e juventude é um livro para todos, já que, mesmo não sendo mais jovens, precisamos voltar à humilde disposição para aprender. Somos responsáveis pela mixórdia em que nos metemos. Mas é sempre mais cômodo colocar a culpa nos outros e apostar numa genérica saída “pela educação”. Qual educação? Como afirmou Paulo Freire, “o educador precisa ser educado”. O que era um acicate contra o conservadorismo talvez mereça hoje ser tomado como uma tarefa saneadora de nossas arrogâncias e certezas combalidas.
João Paulo Cunha
Editor de Cultura do Jornal Estado de Minas
15.04.2013

Francisco, o Papa Bergoglio é primeiro em muitas coisas. Primeiro Papa latino-americano, primeiro Papa argentino, primeiro Papa com nome de Francisco. É também e não menos o primeiro Papa jesuíta. A ordem fundada por Inácio de Loyola nunca havia dado um Papa à Igreja. Em parte por ser uma Ordem relativamente nova, com menos de 500 anos de existência. Também por ser uma Ordem numerosa e poderosa, que granjeou pelo mundo afora muitas simpatias, mas também muitos inimigos. Estes últimos tinham medo de que um Papa jesuíta pudesse fazer crescer exponencialmente a força da Companhia de Jesus.
Porém chegou o dia. Francisco, como escolheu chamar-se o cardeal Jorge Mario Bergoglio ao ser eleito Papa, é jesuíta. Entrou jovem na Companhia, recebeu sua formação na Argentina e no Chile. Ocupou todos os cargos importantes na Companhia de Jesus na Argentina: mestre de noviços, provincial, reitor do Colégio Máximo, antes de ser bispo e depois arcebispo de Buenos Aires.
Tudo isso demonstra quão profundamente o novo Papa está marcado em sua espiritualidade e seu modo de ser pelos Exercícios Espirituais de Santo Inácio. Espiritualidade cristocêntrica e essencialmente missionária, tem no discernimento dos espíritos para buscar e encontrar a vontade de Deus a fim de colocá-la em prática na vida de cada dia. Espiritualidade que move os afetos e a vontade na direção do querer de Deus, ensina a tomar decisões em plena liberdade sem ser pressionada pelas afeições desordenadas. Espiritualidade que acredita que o espírito deve exercitar-se assim como o corpo a fim de encontrar agilidade e flexibilidade em responder aos convites divinos, faz apelo à liberdade para que esta se deixe mover em direção ao que mais conduz ao louvor e ao serviço de Deus Nosso Senhor.
O novo Papa encontrará pela frente inumeráveis desafios. Alguns deles são administrativos e emergiram com mais força no final do pontificado anterior. Dizem respeito à transparência na comunicação interna da cúria, às finanças do Vaticano, etc. Outros tocam na própria imagem da Igreja como tal que se encontra arranhada pelos terríveis escândalos da pedofilia. A todos esses deverá responder com a indiferença – nome inaciano para a liberdade interior – que lhe permitirá enfrentar os conflitos e dores que o processo como um todo certamente lhe acarretará.
A espiritualidade inaciana pretende converter aquele que passa pela experiência dos Exercícios Espirituais em outro Cristo que possa andar pelo mundo com as atitudes, os gestos do próprio Jesus, pobre e humilde, que passou pela vida fazendo o bem a todos, sobretudo aos mais oprimidos e necessitados. Para isso expõe o exercitante à contemplação incessante desse Jesus, nos mistérios de sua infância, vida oculta, vida pública, paixão e morte e ressurreição. O desejo de Inácio é que o exercitante fique totalmente embebido e configurado pela pessoa de Jesus a fim de que todos os seus sentimentos, ações e decisões sejam imbuídos pelo espírito do mesmo Jesus, em seguimento obediente de sua pessoa, fazendo a vontade do Pai.
A espiritualidade inaciana ensina também aquele que a vive a pensar grande, desejar grande, ter grandes sonhos tendo como fim a glória de Deus. Por isso na hora de assumir uma missão ou um trabalho pastoral o critério tem que ser se isso conduz ao MAGIS, ou seja, ao bem mais universal que é necessariamente mais divino. Ao mesmo tempo deve colocar-se diante deste MAGIS com absoluta liberdade, não desejando outra coisa senão que se faça a vontade de Deus e que seu Reino cresça neste mundo.
Esta é a espiritualidade que vive o novo Papa e compreende-se que tenha aceitado a missão que lhe foi dada pela eleição de seus irmãos cardeais como uma oportunidade de ajudar a Igreja neste momento difícil a realizar o bem mais universal e mais divino. Compreende-se igualmente seu estilo de vida: pobre, simples, com uma cruz peitoral de ferro e sem outro revestimento a não ser a veste branca própria dos Papas. Entende-se e é motivo de alegria que tenha feito sua primeira comunicação aos fiéis reunidos na Praça São Pedro com tamanha simplicidade e despojamento.
Mais ainda: sente-se em sua pessoa e em seu discurso a sólida formação teológica que recebeu da Companhia de Jesus. Apresentou-se como bispo de Roma que é o que vem em primeiro lugar para aquele eleito pelo conclave para sentar-se na cadeira de São João de Latrão. Seu magistério ordinário é ser bispo de Roma e pastor dos católicos que ali vivem. E continuou: “E agora iniciamos este caminho, Bispo e povo... este caminho da Igreja de Roma, que é aquela que preside a todas as Igrejas na caridade.” Aí explicou o sentido de seu múnus universal como Papa.
Inclinando a cabeça pediu a oração do povo por sua pessoa e seu ministério. Foi um gesto típico de alguém formado na escola de Inácio de Loyola, cuja maior aspiração é seguir e servir o Cristo pobre e humilde. Esperemos que a fidelidade do novo Papa Francisco aos Exercícios que o formaram o ajude a ser um Papa segundo o coração de Deus: pobre, humilde, mas também cheio de ardentes desejos de pastorear a Igreja sempre mais em direção à vontade de Deus e à implantação de seu Reino de amor e justiça. Este será seu segredo e também e sobretudo, sua força.
Maria Clara Bingemer
teóloga, professora da PUC-Rio
(texto enviado pela internet - 24.03.2013)

O teólogo alegra-se com a escolha do nome do Papa. Cada nome de algum Papa do passado carrega o peso da história do antecessor. O nome Francisco rompe com tal tradição. Gesto original, simbólico. Sem especificação, o pensamento dirige-se primeiro ao santo de Assis. Lá o novo Papa busca inspiração para a vida de pontífice, confirmando teor de vida simples que já vinha levando como bispo e cardeal de Buenos Aires.
Esse nome faz-nos esperar que ele cumprirá a missão de fazer a Igreja Católica mais parecida com o santo de Assis que, por sua vez, na simplicidade e pobreza, seguia a Jesus Cristo, o pobre de Nazaré. Na linha da simplicidade e pobreza pessoal de vida, ele exprime desejo de renovação na Igreja. Mais:esse teor de vida o aproximou dos pobres em Buenos Aires. Aquilo que começou lá como arcebispo tem, agora, chance de prosseguir em nível amplo de toda Igreja. A proximidade com os pobres possui força enorme de conversão. João XXIII sonhou que o Concílio Vaticano II encarrilhasse a Igreja na direção dos pobres. E conseguiu.
Agora surgiu a ocasião do Papa Francisco realizar os desejos de João XXIII. Não passou despercebido outro gesto simbólico no momento em que apareceu diante da multidão na Praça de São Pedro. Inclinou-se, pediu que rezassem por ele e que o abençoassem. E só depois ele mesmo abençoou o povo. A primeira bênção que recebeu veio da multidão dos fiéis, que em noite de chuva, ali esperava para vê-lo e saudá-lo.
Os gestos simbólicos lançaram luzes de esperança. E no momento do início de pontificado, não cabe vasculhar o passado atrás de sombras e deitá-las sobre a imagem do Papa, mas antes acreditar na confissão de amor, como no caso do primeiro Papa Pedro.
Certamente soa no coração de Francisco as frases do apóstolo: Senhor, tu sabes que eu te amo! Esse amor por Jesus histórico no seguimento, cerne da espiritualidade inaciana, marcou-o desde o noviciado. Nos Exercícios Espirituais, Santo Inácio faz girar a vida espiritual em torno do seguimento de Jesus. Isso ele terá assimilado nos longos anos que viveu na Companhia de Jesus, antes de ser nomeado bispo e depois cardeal arcebispo de Buenos Aires.
Havia no ar o desejo de que viesse alguém de cunho profundamente pastoral, depois de termos tido um Papa teólogo, intelectual, acadêmico de Universidade alemã com rigor de pensamento. E o fato de ter vivido na Argentina dos dias de hoje ter-lhe-á proporcionado a experiência de ver como um país, que antes vivia uma realidade estilo classe média, decai grandemente e gera massas de pobres a amontoarem-se nas periferias por obra do sistema capitalista neoliberal.
Conheceu de perto a triste figura das grandes cidades latino-americanas e assim adquiriu conhecimento e compreensão do mundo dos pobres. Falar-se-á dele não por informação acadêmica, mas a partir da experiência vivida no cotidiano. Não lhe cabem adjetivos de conservador ou de tradicional. Vale mais dizer que lhe habitam o coração vivências que o aproximam dos pobres. E daí refletirão luzes e força pela presença do Espírito, para ajudar a Igreja no caminho em direção aos pobres.
Pe. João Batista Libanio
jesuíta, teólogo e professor da Faculdade Jesuíta de Teologia e Filosofia (FAJE).
In: Opinião e notícias - arquidiocese de BH - 15.03.2013
Nas redes sociais havia anunciado que o futuro Papa iria se chamar Francisco. E não me enganei. Por que Francisco? Porque São Francisco começou sua conversão ao ouvir o Crucifixo da capelinha de São Damião lhe dizer:”Francisco, vai e restaura a minha casa; olhe que ela está em ruinas”(S.Boaventura, Legenda Maior II,1).
Francisco tomou ao pé da letra estas palavras e reconstruíu a igrejinha da Porciúncula que existe ainda em Assis dentro de uma imensa catedral. Depois entendeu que se tratava de algo espiritual: restaurar a “Igreja que Cristo resgatara com seu sangue”(op.cit). Foi então que começou seu movimento de renovação da Igreja que era presidida pelo Papa mais poderoso da história, Inocêncio III. Começou morando com os hansenianos e de braço com um deles ia pelos caminhos pregando o evangelho em língua popular e não em latim.

É bom que se saiba que Francisco nunca foi padre mas apenas leigo. Só no final da vida, quando os Papas proibiram que os leigos pregassem, aceitou ser diácono à condição de não receber nenhuma remuneração pelo cargo.
Por que o Card. Jorge Mario Bergoglio escolheu o nome de Francisco? A meu ver foi exatamente porque se deu conta de que a Igreja, está em ruinas pela desmoralização dos vários escândalos que atingiram o que ela tinha de mais precioso: a moralidade e a credibilidade.
Francisco não é um nome. É um projeto de Igreja, pobre, simples, evangélica e destituída de todo o poder. É uma Igreja que anda pelos caminhos, junto com os últimos; que cria as primeiras comunidades de irmãos que rezam o breviário debaixo de árvores junto com os passarinhos. É uma Igreja ecológica que chama a todos os seres com a doce palavra de “irmãos e irmãs”. Francisco se mostrou obediente à Igreja dos Papas e, ao mesmo tempo, seguiu seu próprio caminho com o evangelho da pobreza na mão. Escreveu o então teólogo Joseph Ratzinger: ”O não de Francisco àquele tipo imperial de Igreja não poderia ser mais radical, é o que chamaríamos de protesto profético”(em Zeit Jesu, Herder 1970, 269). Ele não fala, simplesmente inaugura o novo.
Creio que o Papa Francisco tem em mente uma Igreja assim, fora dos palácios e dossímbolos do poder. Mostrou-o ao aparecer em público. Normalmente os Papas eRatizinger principalmente punham sobre os ombros a mozeta aquela capinha, cheia de brocados e ouro que só os imperadores podiam usar. O Papa Francisco veio simplesmente vestido de branco. Três pontos são de ressaltar em sua fala inaugural e são de grande significação simbólica.
A primeira: disse que quer “presidir na caridade”. Isso desde a Reforma e nos melhores teólogos do ecumenismo era pedido. O Papa não deve presidir com como um monarca absoluto, revestido de poder sagrado como o prevê o direito canônico. Segundo Jesus, deve presidir no amor e fortalecer a fé dos irmãos e irmãs.
A segunda: deu centralidade ao Povo de Deus, tão realçada pelo Vaticano II e posta de lado pelos dois Papas anteriores em favor da Hierarquia. O Papa Francisco, humildemente, pede que o Povo de Deus reze por ele e o abençoe. Somente depois, ele abençoará o Povo de Deus. Isto significa: ele está ai para servir e não par ser servido. Pede que o ajudem a construir um caminho juntos. E clama por fraternidade para toda a humanidade onde os seres humanos são se reconhecem como irmãos e irmãs mas atados às forças da economia.
Por fim, evitou toda a espetacularização da figura do Papa. Não estendeu os braços para saudar o povo. Ficou parado, imóvel, sério e sóbrio, diria, quase assustado. Apenas se via a figura branca que olhava com carinho para a multidão. Mas irradiava paz e confiança. Usou de humor falando sem uma retórica oficialista. Como um pastor fala aos seus fiéis.
Cabe por último ressaltar que é um Papa que vem do Grande Sul, onde estão os pobres da Humanidade e onde vivem 60% dos católicos. Com sua experiência de pastor, com uma nova visão das coisas, a partir de baixo, poderá reformar a Cúria, descentralizar a administração e conferir um rosto novo e crível à Igreja.
Leonardo Boff
A velhice sofreu uma cirurgia plástica na linguagem
Na semana passada, sugeri a uma pessoa próxima que trocasse a palavra “idosas” por “velhas” em um texto. E fui informada de que era impossível, porque as pessoas sobre as quais ela escrevia se recusavam a ser chamadas de “velhas”: só aceitavam ser “idosas”. Pensei: “roubaram a velhice”. As palavras escolhidas – e mais ainda as que escapam – dizem muito, como Freud já nos alertou há mais de um século. Se testemunhamos uma epidemia de cirurgias plásticas na tentativa da juventude para sempre (até a morte), é óbvio esperar que a língua seja atingida pela mesma ânsia. Acho que “idoso” é uma palavra “fotoshopada” – ou talvez um lifting completo na palavra “velho”. E saio aqui em defesa do “velho” – a palavra e o ser/estar de um tempo que, se tivermos sorte, chegará para todos.
Desde que a juventude virou não mais uma fase da vida, mas uma vida inteira, temos convivido com essas tentativas de tungar a velhice também no idioma. Vale tudo. Asilo virou casa de repouso, como se isso mudasse o significado do que é estar apartado do mundo. Velhice virou terceira idade e, a pior de todas, “melhor idade”. Tenho anunciado a amigos e familiares que, se alguém me disser, em um futuro não tão distante, que estou na “melhor idade”, vou romper meu pacto pessoal de não violência. O mesmo vale para o primeiro que ousar falar comigo no diminutivo, como se eu tivesse voltado a ser criança. Insuportável.
A velhice é o que é. É o que é para cada um, mas é o que é para todos, também. Ser velho é estar perto da morte. E essa é uma experiência dura, duríssima até, mas também profunda. Negá-la é não só inútil como uma escolha que nos rouba alguma coisa de vital. Semanas atrás, em um programa de TV, o entrevistador me perguntou sobre a morte. E eu disse que queria viver a minha morte. Ele talvez não tenha entendido, porque afirmou: “Você não quer morrer”. E eu insisti na resposta: “Eu quero viver a minha morte”.
Na adolescência, eu acalentava a sincera esperança de que algum vampiro achasse o meu pescoço interessante o suficiente para me garantir a imortalidade. Mas acabei aceitando que vampiros não existem, embora circulem muitos chupadores de sangue por aí. Isso só para dizer que é claro que, se pudesse escolher, eu não morreria. Mas essa é uma obviedade que não nos leva a lugar algum. Que ninguém quer morrer, todo mundo sabe. Mas negar o inevitável serve apenas para engordar o nosso medo sem que aprendamos nada que valha a pena.
A morte tem sido roubada de nós. E tenho tomado providências para que a minha não seja apartada de mim. A vida é incontrolável e posso morrer de repente. Mas há uma chance razoável de que eu morra numa cama e, nesse caso, tudo o que eu espero da medicina é que amenize a minha dor. Cada um sabe do tamanho de sua tragédia, então esse é apenas o meu querer, sem a pretensão de que a minha escolha seja melhor que a dos outros. Mas eu gostaria de estar consciente, sem dor e sem tubos, porque o morrer será minha última experiência vivida. Acharia frustrante perder esse derradeiro conhecimento sobre a existência humana. Minha última chance de ser curiosa.
Há uma bela expressão que precisamos resgatar, cujo autor não consegui localizar: “A morte não é o contrário da vida. A morte é o contrário do nascimento. A vida não tem contrários”. A vida, portanto, inclui a morte. Por que falo da morte aqui nesse texto? Porque a mesma lógica que nos roubou a morte sequestrou a velhice. A velhice nos lembra da proximidade do fim, portanto acharam por bem eliminá-la. Numa sociedade em que a juventude é não uma fase da vida, mas um valor, envelhecer é perder valor. Os eufemismos são a expressão dessa desvalorização na linguagem.
 Não, eu não sou velho. Sou idoso. Não, eu não moro num asilo. Mas numa casa de repouso. Não, eu não estou na velhice. Faço parte da melhor idade. Tenho muito medo dos eufemismos, porque eles soam bem intencionados. São os bonitinhos mas ordinários da língua. O que fazem é arrancar o conteúdo das letras que expressam a nossa vida. Justo quando as pessoas têm mais experiências e mais o que dizer, a sociedade tenta confiná-las e esvaziá-las também no idioma.
Não, eu não sou velho. Sou idoso. Não, eu não moro num asilo. Mas numa casa de repouso. Não, eu não estou na velhice. Faço parte da melhor idade. Tenho muito medo dos eufemismos, porque eles soam bem intencionados. São os bonitinhos mas ordinários da língua. O que fazem é arrancar o conteúdo das letras que expressam a nossa vida. Justo quando as pessoas têm mais experiências e mais o que dizer, a sociedade tenta confiná-las e esvaziá-las também no idioma.
Chamar de idoso aquele que viveu mais é arrancar seus dentes na linguagem. Velho é uma palavra com caninos afiados – idoso é uma palavra banguela. Velho é letra forte. Idoso é fisicamente débil, palavra que diz de um corpo, não de um espírito. Idoso fala de uma condição efêmera, velho reivindica memória acumulada. Idoso pode ser apenas “ido”, aquele que já foi. Velho é – e está. Alguém vê um Boris Schnaiderman, uma Fernanda Montenegro e até um Fernando Henrique Cardoso como idosos? Ou um Clint Eastwood? Não. Eles são velhos.
Idoso e palavras afins representam a domesticação da velhice pela língua, a domesticação que já se dá no lugar destinado a eles numa sociedade em que, como disse alguém, “nasce-se adolescente e morre-se adolescente”, mesmo que com 90 anos. Idosos são incômodos porque usam fraldas ou precisam de ajuda para andar. Velhos incomodam com suas ideias, mesmo que usem fraldas e precisem de ajuda para andar. Acredita-se que idosos necessitam de recreacionistas. Acredito que velhos desejam as recreacionistas. Idosos morrem de desistência, velhos morrem porque não desistiram de viver.
Basta evocar a literatura para perceber a diferença. Alguém leria um livro chamado “O idoso e o mar”? Não. Como idoso o pescador não lutaria com aquele peixe. Imagine então essa obra-prima de Guimarães Rosa, do conto “Fita Verde no Cabelo”, submetida ao termo “idoso”: “Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam...”.
Velho é uma conquista. Idoso é uma rendição.
Como em 2012 passei a estar mais perto dos 50 do que dos 40, já começo a ouvir sobre mim mesma um outro tipo de bobagem. O tal do “espírito jovem”. Envelhecer não é fácil. Longe disso. Ainda estou me acostumando a ser chamada de senhora sem olhar para os lados para descobrir com quem estão falando. Mas se existe algo bom em envelhecer, como já disse em uma coluna anterior, é o “espírito velho”. Esse é grande.
Vem com toda a trajetória e é cumulativo. Sei muito mais do que sabia antes, o que significa que sei muito menos do que achava que sabia aos 20 e aos 30. Sou consciente de que tudo – fama ou fracasso – é efêmero. Me apavoro bem menos. Não embarco em qualquer papinho mole. Me estatelei de cara no chão um número de vezes suficiente para saber que acabo me levantando. Tento conviver bem com as minhas marcas. Conheço cada vez mais os meus limites e tenho me batido para aceitá-los. Continua doendo bastante, mas consigo lidar melhor com as minhas perdas. Troco com mais frequência o drama pelo humor nos comezinhos do cotidiano. Mantenho as memórias que me importam e jogo os entulhos fora. Torço para que as pessoas que amo envelheçam porque elas ficam menos vaidosas e mais divertidas. E espero que tenha tempo para envelhecer muito mais o meu espírito, porque ainda sofro à toa e tenho umas cracas grudadas à minha alma das quais preciso me livrar porque não me pertencem. Espero chegar aos 80 mais interessante, intensa e engraçada do que sou hoje.
Envelhecer o espírito é engrandecê-lo. Alargá-lo com experiências. Apalpar o tamanho cada vez maior do que não sabemos. Só somos sábios na juventude. Como disse Oscar Wilde, “não sou jovem o suficiente para saber tudo”. Na velhice havemos de ser ignorantes, fascinados pelas dimensões cada vez mais superlativas do que desconhecemos e queremos buscar. É essa a conquista. Espírito jovem? Nem tentem.
Acho que devíamos nos rebelar. E não permitir que nos roubem nem a velhice nem a morte, não deixar que nos reduzam a palavras bobas, à cosmética da linguagem. Nem consentir que calem o que temos a dizer e a viver nessa fase da vida que, se não chegou, ainda chegará. Pode parecer uma besteira, mas eu cometo minha pequena subversão jamais escrevendo a palavra “idoso”, “terceira idade” e afins. Exceto, claro, se for para arrancar seus laços de fita e revelar sua indigência.
Quando chegar a minha hora, por favor, me chamem de velha. Me sentirei honrada com o reconhecimento da minha força. Sei que estou envelhecendo, testemunho essa passagem no meu corpo e, para o futuro, espero contar com um espírito cada vez mais velho para ter a coragem de encerrar minha travessia com a graça de um espanto.
ELIANE BRUM
texto publicado em Época - 20.02.2013
Não é difícil perceber como as manchetes das revistas do último fim de semana se referem à tragédia humana da boate Kiss de Santa Maria: "Quando o Brasil vai aprender?", "A asfixia não acabou", "Tão jovens, tão rápido e tão absurdo" e "Futuro roubado". É também uma tragédia que pode ser associada às escolas de todo o Brasil. É como se a boate de Santa Maria fosse uma metáfora da escola brasileira. Na primeira delas, os jovens perderam a vida por inalar um gás venenoso; na outra as crianças perdem o futuro por não inalarem o oxigênio do conhecimento. A imprevidência de proprietários, músicos e fiscais levou à morte por falta de ar; a de políticos, pais e eleitores leva a uma vida incompleta por falta de educação. A tragédia despertou para os riscos que correm nossos jovens em seus fins de semana em boates, mas ainda não despertou para o que perdem nossas crianças e jovens no dia a dia de suas escolas. Estamos fechando boates sem sistemas de segurança, mas ainda deixamos abertas escolas sem qualidade. Os pais começaram a não deixar seus filhos irem a boates inseguras, mas levam confiantemente suas crianças a escolas que não asseguram o futuro delas. Exigimos que as boates tenham portas de emergência, mas não exigimos que as escolas sejam a porta para o futuro das crianças.

A tragédia de Santa Maria provoca a percepção imediata da fragilidade vergonhosa na segurança de boates, mas a tragédia de nossa educação, apesar de suas vítimas, não é percebida. Isto porque ela é uma tragédia à qual nos acostumamos e nos embrutece, ou porque são crianças invisíveis pela pobreza, ou ainda porque somos um povo sem gosto pela antecipação, só ouvimos o grito de fogo e vemos a fumaça depois que matam. Por isso fechamos os olhos à tragédia da educação que hoje devasta a economia, a política e o tecido social do Brasil. O abandono de nossas escolas não mata diretamente, mas dificulta o futuro de cada criança que não estuda. Se as escolas fossem de qualidade para todos, teríamos menos violência urbana, maior produtividade, mais avanços no mundo das invenções de novas tecnologias e um país melhor. Por isso, ao mesmo tempo em que choramos as trágicas mortes dos jovens de Santa Maria, choremos também pelo futuro das crianças que não vão receber a educação necessária para enfrentar o mundo. Choremos pelos que perderam a vida na boate ao respirar o ar venenoso, e pelos que não vão receber nas escolas o ar puro do conhecimento. Não vamos recuperar as vidas eliminadas na boate Kiss, podemos apenas chorar e nos envergonhar. Mas podemos evitar o desperdício das vidas que estão hoje nas "Escolas Kiss": metáfora que une boate e escola, sobretudo, quando lembramos que a boate se chamava Kiss, nome que também deveríamos dar às nossas escolas de hoje: beijo do desprezo. Desprezo pelas vidas de jovens ou pelo futuro de nossas crianças.
Cristovam Buarque
In: O Globo, 09/02/2012.
Morri em Santa Maria hoje. Quem não morreu? Morri na Rua dos Andradas, 1925. Numa ladeira encrespada de fumaça.
A fumaça nunca foi tão negra no Rio Grande do Sul. Nunca uma nuvem foi tão nefasta.
Nem as tempestades mais mórbidas e elétricas desejam sua companhia. Seguirá sozinha, avulsa, página arrancada de um mapa.
A fumaça corrompeu o céu para sempre. O azul é cinza, anoitecemos em 27 de janeiro de 2013.
As chamas se acalmaram às 5h30, mas a morte nunca mais será controlada.
Morri porque tenho uma filha adolescente que demora a voltar para casa.

Morri porque já entrei em uma boate pensando como sairia dali em caso de incêndio.
Morri porque prefiro ficar perto do palco para ouvir melhor a banda.
Morri porque já confundi a porta de banheiro com a de emergência.
Morri porque jamais o fogo pede desculpas quando passa.
Morri porque já fui de algum jeito todos que morreram.
Morri sufocado de excesso de morte; como acordar de novo?
O prédio não aterrissou da manhã, como um avião desgovernado na pista.
A saída era uma só e o medo vinha de todos os lados.
Os adolescentes não vão acordar na hora do almoço. Não vão se lembrar de nada. Ou entender como se distanciaram de repente do futuro.
Mais de duzentos e quarenta jovens sem o último beijo da mãe, do pai, dos irmãos.
Os telefones ainda tocam no peito das vítimas estendidas no Ginásio Municipal.
As famílias ainda procuram suas crianças. As crianças universitárias estão eternamente no silencioso.
Ninguém tem coragem de atender e avisar o que aconteceu.
As palavras perderam o sentido.
Fabrício Carpinejar
In: http://carpinejar.blogspot.com.br/ (27.01.2013)
Equipe do site
01.02.2013
Para a maioria das pessoas, a palavra gentileza significa uma postura elegante, refinada, coisa de elite. A gentileza seria a prática corrente do gentil-homem, um termo antigo para designar aristocrata, e tão exclusivo que nem permitia uma versão feminina: alguém aí já ouviu falar de gentil-mulher?
Prefiro pensar em gentileza de forma diversa. Prefiro pensar em gentileza como coisa de gente. Gente, no sentido mais elevado do termo. Aquele sentido que usamos quando dizemos: "Fulano é gente". Ser gente é importante. Ser gente é viver a condição humana com generosidade, com altruísmo, com elegância. E a decorrência lógica deste modo de vida é a gentileza.

Mas do que falamos quando estamos falando em gentileza? Estamos falando, em primeiro lugar, de coisas simples, de pequenos gestos. Exemplo clássico: dar lugar no ônibus. Para uma pessoa idosa, para uma grávida, para uma mulher. Aparentemente é fácil de fazer. Aparentemente deveria ser uma iniciativa espontânea. Não é. Os ônibus têm um aviso lembrando que alguns assentos estão destinados preferencialmente a essas pessoas. Mas nem todos os passageiros dão bola para o aviso. Nem todos os passageiros são gentis. Gentileza, ao contrário da taxa de juros, é algo que está em baixa. E por que está em baixa?
Em primeiro lugar, porque gentileza se traduz exatamente em coisas como esta, em abrir mão de uma situação de vantagem, em dar o lugar. E dar o lugar, qualquer que seja este lugar, é uma iniciativa que poucos tomam.
Compreensivelmente, porque a regra em nosso mundo é ocupar lugar, não dar lugar; a regra é a pessoa conseguir o seu próprio espaço, é abrir caminho usando os cotovelos, se for o caso. Ou seja, a lei da selva adaptada ao convívio urbano - ironicamente, porque urbanidade implica gentileza.
Mas há uma atitude pior: negar a gentileza em nome de uma pretensa igualdade. As mulheres não queriam ser iguais aos homens? Então, que fiquem de pé nos ônibus. Como os homens.
É um raciocínio ao qual não falta uma certa lógica. O que falta a este raciocínio é outra coisa. É serenidade (substituída, não raro, por um mal disfarçado rancor). É generosidade. E as pessoas não renunciam à serenidade e à generosidade sem pagar um preço elevado.
Quando deixamos de dar o lugar, deixamos de dar. De novo, isto pode ser encarado com cinismo. As palavras de São Francisco, "é dando que se recebe", são usadas, sobretudo na política brasileira, como sinônimo de arreglo, de barganha, de toma-lá-dá-cá. É o princípio que preside ao loteamento de cargos. Cargos, como se sabe, representam lugares privilegiados, pelos quais muita gente luta encarniçadamente.
Isto é o raciocínio primário. A pessoa que ultrapassa esse raciocínio sabe que dar o lugar beneficia enormemente aquele que vai ficar de pé. Porque, ficando de pé, ele se torna gente. Ele cresce, figurativamente falando. Ele se destaca entre os demais. O cara que dá o lugar no ônibus é olhado pelos outros. É olhado com respeito, quando não com inveja. A gentileza fala do que existe de melhor na espécie humana. E o que existe de melhor na espécie humana é fácil de conseguir. Com a gentileza, acreditem, a gente fica gente.
Moacyr Scliar
(texto que circulou pela internet)

Todos foram à vila, para missa-do-galo e Natal, deixando na fazenda Tio Bola, por achaques de velhice, com o terreireiro Anjão, imbecil, e a cardíaca cozinheira Nhota. Tio Bola aceitara ficar, de boa graça, dando visíveis sinais de paciência. Tão magro, tão fraco: nem piolhos tinha mais. Tudo cabendo no possível, teve uma idéia.
Não de primeira e súbita invenção.
Apreciara antes a ausência de meninos e adultos, que o atormentavam, tratando-o de menos; dos outros convém é a gente se livrar. Logo, porém, casa vazia, os parentes figuravam ainda mais hostis e próximos. A gente precisa também da importunação dos outros. Tio Bola, desestimado, cumpria mazelas diversas, seus oitentas anos; mas afobado e azafamoso. Quis ver visões.
Seu espírito pulou tão quanto à vila, a Natal e missa, aquela merafusa. Topava era tristeza – isto é, falta de continuação. Por que é que a gente necessita, de todo jeito, dos outros? Velho sacode facilmente a cabeça. A idéia lhe chegou então, fantasia, passo de extravagância.
- “Mecê não mije na cama!” -intimara a Nhota, quando, comido o leite com farinha, ele fingia recolher-se. Não cabia no quarto. Natal era noite nova de antiguidade. Tomou o aviso e voltou-se: estafermado, no corredor, o Anjão fazia-lhe pelas costas gesto obsceno. Ordenou-lhe então - trouxesse ao curral um boi, qualquer!
Saiu o Anjão a obedecer, gostava do que parecesse feitiço ou maldade. E no pequeno cercado estava já o burro chumbo, de que os outros não tinham carecido. Sem excogitamento, o burrinho dera a Tio Bola o remate da ideia.
Lá tora o escuro fechava. O Anjão no pátio acendera fogo, acocorava-se ante chama e brasa. Esse se ria do sossego. Também botara milho e sal no cocho, mandado.
Natal era animação para surpresas, tintins tilintos, laldas e loas! O burro e o boi - à manjedoura - como quando os bichos falavam e os homens se calavam.
Nhota, em seus cantos, rezava para tomar ar, não baixando minuto, e tudo condenava. Tio Bola esperava que o Anjão se fosse, que Nhota não tossisse mas adormecesse.
Estava de alpercatas, de camisolão e sem carapuça, esticando à janela pescoço e nariz, muito compridos. Os currais todos ermos, menos aquele… Tremia de verdade.
Veio, enfim, à sorrelfa; a horas. Pelas dez horas. Queria ver. Devagar descera, com Deus, a escada. Burro e boi diferençavam-se, puxados da sombra, quase claros. Paz. Sem brusquidão nem bulir: de longe o reconheciam.
Os olhos oferecidos lustravam. Guarani, boi de carro, severo brando. Jacatirão, prezado burrinho de sela. Tio Bola tateou o cocho: limpo, úmido de línguas.
Empinou olhar: a umas estrelas miudinhas. Espiou o redor -caruca- que nem o esquecido, em vivido. Tio Bola devia distrair saudades, a velhice entristecía-o só um pouco. Riu do que não sentiu; riu e não cuspiu. Estava ali a não imaginar o mundo.
Por um tempo, acostumava a vista.
Nhota dormia, agora, decerto; até o Anjão. Os outros, no Natal, na vila, semelhavam sempre fugidos… Quem vinha rebater-lhe o ato, fazer-lhe irrisão? De anos, só isto, hoje somente, tinha ele resolvido e em seu poder: a Noite, o curralete, cheiro de estercos, céu aberto, os dois dredemente -gado e cavalgadura. Boi grosso, baixo, tostado, quase rapé. Burro cor de rato. Tão com ele, no meio espaço, de-junto. Caduco de maluco não estava. Não embargando que em espírito da gente ninguém intruje. Apoiou-se no topo do cocho. Bicho não é limpo nem sujo. Ia demorar lá um tanto. Só o viço da noite -o som confuso?
O Anjão, rondava. Nhota, também, com luz em castiçal, corria a casa; não chamava alto, porque lá a doença não lhe dava fôlego. Turro, o boi ainda não se deitara, como eles fazem -havia de sentir falta do Guaraná, par seu de junta. Burro não deita: come sempre, ou pára em pé, as horas todas. A gente podia esperar, assim como eles, ocultado num ponto do curral. Tudo era prazo.
Deitava-se no cocho? Não como o Menino, na pura nueza… O vôo de serafins, a sumidez daquilo. Mas, pecador, numa solidão sem sala. E um tiquinho de claro-escuro.
Teve para si que podia -não era indino- até o vir da aurora. Que o achassem sem tino perfeito, com algum desarranjo do juizo!
Tão gordo fora; e, assim, como era, tinha só de deixar de fora seus rústicos cotovelos. Agora, o comichar, uma coceira seca. Viu o boi deitar-se também -riscando primeiro com a pata uma cruz no chão, e ajoelhando-se- como eles procedem. O mundo perdeu seu tique-taque. Tombou no quiquiri de um cochilo. Relentava. Ouviu. O Anjão estava ali, no segundo curral, havia coisa de um instante. Que se aquietasse, pelo prazo de três credos.
Manteve-se. A hora dobrou de escura. Meia-noite já bateu? Abriu olhos de caçador. Dessurdo, escutou, já atilando. Um abecê, o reportório. Essas estrelas prosseguiam o caminhar, levantadas de um peso. Fazia futuro. O contrário do aqui não é ali… -achou. O boi -testo lento, olhos redondos. O burrinho, orelhas, fofas ventas. Da noite era um brotar, de plantação, do fundo. A noite era o dia ainda não gastado. Vez de espertar-se, viver, esta vida aos átimos… Soporava. Dormiu reto. Dormindo de pés postos.
Acordou, no tremeclarear. Orvalhava. A Nhota dormia também, ali sentada no chão, sem um rezungo. O Anjão, agachado, acendera um foguinho. Conchegados, com o boi amarelão e o burro rato, permaneciam; tão tanto ouvindo se passarinhos em incerta entonação.
A estrela-d’alva se tirou. Já mais clareava. As pretas árvores nos azulados… O Anjão se riu para o sol. Nhota entoava o Bendito, não tinha morrido. Cantando o galo, em arrebato: a última estrelinha se pingou para dentro.
Tio Bola levantou-se -o corpo todo tinha dor-decabeça. Deu ordens, de manhã, dia: o Anjão soltasse burro e boi aos campos, a Nhota indo coar café. Os outros vinham voltar, da vila, de Natal e missa-do-galo. Tio Bola subiu a escada, de camisolão e alpercatas, sarabambo, repetia:
- Amém, Jesus!
João Guimarães Rosa
In: Tutaméia: terceiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.

FELIZ POR NADA
Geralmente, quando uma pessoa exclama “Estou tão feliz!”, é porque engatou um novo amor, conseguiu uma promoção, ganhou uma bolsa de estudos, perdeu os quilos que precisava ou algo do tipo. Há sempre um porquê. Eu costumo torcer para que essa felicidade dure um bom tempo, mas sei que as novidades envelhecem e que não é seguro se sentir feliz apenas por atingimento de metas. Muito melhor é ser feliz por nada.
Digamos: feliz porque maio recém começou e temos longos oito meses para fazer de 2010 um ano memorável. Feliz por estar com as dívidas pagas. Feliz porque alguém o elogiou. Feliz porque existe uma perspectiva de viagem daqui a alguns meses. Feliz porque você não magoou ninguém hoje. Feliz porque daqui a pouco será hora de dormir e não há lugar no mundo mais acolhedor do que sua cama.
Esquece. Mesmo sendo motivos prosaicos, isso ainda é ser feliz por muito.
Feliz por nada, nada mesmo?
Talvez passe pela total despreocupação com essa busca. Essa tal de felicidade inferniza. “Faça isso, faça aquilo”. A troco? Quem garante que todos chegam lá pelo mesmo caminho?
Particularmente, gosto de quem tem compromisso com a alegria, que procura relativizar as chatices diárias e se concentrar no que importa pra valer, e assim alivia o seu cotidiano e não atormenta o dos outros. Mas não estando alegre, é possível ser feliz também. Não estando “realizado”, também. Estando triste, felicíssimo igual. Porque felicidade é calma. Consciência. É ter talento para aturar o inevitável, é tirar algum proveito do imprevisto, é ficar debochadamente assombrado consigo próprio: como é que eu me meti nessa, como é que foi acontecer comigo? Pois é, são os efeitos colaterais de se estar vivo.
Benditos os que conseguem se deixar em paz. Os que não se cobram por não terem cumprido suas resoluções, que não se culpam por terem falhado, não se torturam por terem sido contraditórios, não se punem por não terem sido perfeitos. Apenas fazem o melhor que podem.
Se é para ser mestre em alguma coisa, então que sejamos mestres em nos libertar da patrulha do pensamento de querer se adequar à sociedade e ao mesmo tempo ser livre. Adequação e liberdade simultaneamente? É uma senhora ambição. Demanda a energia de uma usina. Para que se consumir tanto?
A vida não é um questionário de Proust. Você não precisa ter que responder ao mundo quais são suas qualidades, sua cor preferida, seu prato favorito, que bicho seria. Que mania de se autoconhecer. Chega de se autoconhecer.
Você é o que é, um imperfeito bem-intencionado e que muda de opinião sem a menor culpa.
Ser feliz por nada talvez seja isso.
Martha Medeiros
In: Jornal “Zero Hora” nº. 16323, 2/5/2010

Eis a primeira direção que seguiremos. Quem diz espírito diz, antes de tudo, consciência. Mas o que é a consciência? É claro que não vou definir algo tão concreto, tão constantemente presente à experiência de cada um de nós. Mas sem dar da consciência uma definição que seria menos clara do que ela própria posso caracteriza-la pelo seu traço mais aparente: consciência significa primeiramente memória. À memória pode faltar amplitude; ela pode abarcar apenas uma parte ínfima do passado; ela pode reter apenas o que acaba de acontecer; mas a memória existe, ou então não existe consciência. Uma consciência que não conservasse nada de seu passado, que se esquecesse sem cessar de si própria, pereceria e renasceria a cada instante; como definir de outra forma a inconsciência? Quando Leibniz dizia que a matéria é “um espírito instantâneo”, não a declarava, bem ou mal, insensível? Toda consciência é, pois, memória – conservação e acumulação do passado no presente.
Mas toda consciência é antecipação do futuro. Consideremos a direção de nosso espírito a qualquer momento: veremos que ele se ocupa do que ele é, mas sobretudo em vista do que ele vai ser. A atenção é uma expectativa, e não há consciência sem uma certa atenção à vida. O futuro lá está: ele nos chama, ou melhor, ele nos puxa: esta tração ininterrupta, que nos faz avançar na rota do tempo, é também a causa de que ajamos continuadamente. Toda ação é um penetrar no futuro.
Reter o que já não é, antecipar o que ainda não é, eis a primeira função da consciência. Não haveria para ela o presente se este se reduzisse ao instante matemático. Este instante é apenas o limite, puramente teórico, que separa o passado do futuro; ele pode a rigor ser concebido, não é jamais percebido; quando cremos surpreende-lo, ele já está longe de nós. O que percebemos de fato é uma certa espessura de duração que se compõe de duas partes: nosso passado imediato e nosso futuro iminente. Sobre este passado nos apoiamos, sobre este futuro nos debruçamos; apoiar-se e debruçar-se desta maneira é o que é próprio de um ser consciente. Digamos, pois, que a consciência é o traço de união entre o que foi e o que será, uma ponte entre o passado e o futuro.
(Henri Bergson, A consciência e a vida.
São Paulo, Abril Cultural, 1974)

Sei que você passa longas horas no computador navegando a bordo de todas as ferramentas disponíveis. Não lhe invejo a adolescência. Na sua idade, eu me iniciava na militância estudantil e injetava utopia na veia. Já tinha lido todo o Monteiro Lobato e me adentrava pelas obras de Jorge Amado guiado pelos “Capitães de areia”.
A TV não me atraía e, após o jantar, eu me juntava à turma de rua, entregue às emoções de flertes juvenis ou sentar com meus amigos à mesa de uma lanchonete para falar de Cinema Novo, bossa nova – porque tudo era novo – ou das obras de Jean Paul Sartre.
Sei que a internet é uma imensa janela para o mundo e a história, e costumo parafrasear que o Google é meu pastor, nada me há de faltar...
O que me preocupa em você é a falta de síntese cognitiva. Ao se postar diante do computador, você recebe uma avalanche de informações e imagens, como as lavas de um vulcão se precipitam sobre uma aldeia. Sem clareza do que realmente suscita o seu interesse, você não consegue transformar informação em conhecimento e entretenimento em cultura. Você borboleteia por inúmeros nichos, enquanto sua mente navega à deriva qual bote sem remos jogado ao sabor das ondas.
Quanto tempo você perde percorrendo nichos de conversa fiada? Sim, é bom trocar mensagens com os amigos. Mas, no mínimo, convém ter o que dizer e perguntar. É excitante enveredar-se pelos corredores virtuais de pessoas anônimas acostumadas ao jogo do esconde-esconde. Cuidado! Aquela garota que o fascina com tanto palavreado picante talvez não passe de um velho pedófilo que, acobertado pelo anonimato, se fantasia de beldade.
Desconfie de quem não tem o que fazer, exceto entrincheirar-se horas seguidas na digitação compulsiva à caça de incautos que se deixam ludibriar por mensagens eróticas.
Faça bom uso da internet. Use-a como ferramenta de pesquisa para aprofundar seus estudos; visite os nichos que emitem cultura; conheça a biografia de pessoas que você admira; saiba a história de seu time preferido; veja as incríveis imagens do Universo captadas pelo telescópio Hubble; ouça sinfonias e música pop.
Mas fique alerta à saúde! O uso prolongado do computador pode causar-lhe, nas mãos, lesão por esforço repetitivo (ler) e torná-lo sedentário, obeso, sobretudo se, ao lado do teclado, você mantém uma garrafa de refrigerante e um pacote de batatas fritas...
Cuide de sua vista, aumente o corpo das letras, deixe seus olhos se distraírem periodicamente em alguma paisagem que não seja a que o monitor exibe.
E preste atenção: não existe almoço grátis. Não se iluda com a ideia de que o computador lhe custa apenas a taxa de consumo de energia elétrica, as mensalidades do provedor e do acesso à internet. O que mantém em funcionamento esta máquina na qual redijo este artigo é a publicidade. Repare como há anúncios por todos os cantos! São eles que bancam o Google, as notícias, a wikipédia etc. É a poluição consumista mordiscando o nosso inconsciente.
Não se deixe escravizar pelo computador. Não permita que ele roube seu tempo de lazer, de ler um bom livro (de papel, e não virtual), de convivência com a família e os amigos. Submeta-o à sua qualidade de vida. Saiba fazê-lo funcionar apenas em determinadas horas do dia. Vença a compulsão que ele provoca em muitas pessoas.
E não se deixe iludir. Jamais a máquina será mais inteligente que o ser humano. Ela contém milhares de informações, mas nada sabe. Ela é capaz de vencê-lo no xadrez – porque alguém semelhante a você e a mim a programou para jogar. Ela exibe os melhores filmes e nos permite escutar as mais emocionantes músicas, mas nunca se deliciará com o amplo cardápio que nos oferece.
Se você prefere a máquina às pessoas e a usa como refúgio de sua aversão à sociabilidade, trate de procurar um médico. Porque sua autoestima está lá embaixo e o computador não haverá de encará-lo como se fosse um verme. Ou sua autoestima atingiu os píncaros e você acredita que não existem pessoas à sua altura, melhor ficar sozinho.
Nas duas hipóteses você está sendo canibalizado pelo computador. E, aos poucos, se transformará num ser meramente virtual. O que não é uma virtude. Antes, é a comprovação de que já sofre de uma doença grave: a síndrome do onanismo eletrônico.
Frei Betto
escritor, autor do livro de contos “Aquário Negro” (Agir), entre outras obras.
1) É habitual que, na infância e na adolescência, um jovem sonhe com vitórias e aplausos, sem pensar nos esforços necessários para merecê-los.
Nestes dias, deparo-me com crianças ninadas por devaneios de glória olímpica. Sem querer, corto seu barato, explicando o que é indispensável fazer para que esses sonhos se transformem numa chance real de chegar lá.
As crianças respondem que elas não têm a intenção de realizar o tal sonho: apenas querem o prazer de devanear em paz. Até aqui, tudo bem, mas os pais me acusam de estragar, além dos sonhos, o futuro dos filhos, os quais, segundo eles, para triunfar na vida, precisariam confiar cegamente em seus dotes.
O problema é que os elogios incondicionais dos pais e dos adultos não produzem "autoconfiança", mas dependência: os filhos se tornam cronicamente dependentes da aprovação dos pais e, mais tarde, dos outros. "Treinados" dessa forma, eles passam a vida se esforçando, não para alcançar o que desejam, mas para ganhar um aplauso.
Claro, muitos pais gostam que assim seja, pois adoram se sentir indispensáveis (no cinema, uma mãe enfia a cara embaixo de seu próprio assento para atender o telefone que vibrou no meio do filme e sussurrar um importantíssimo: sim, pode tomar refrigerante).

2) Meu irmão, aos dez anos, quis que todos escutássemos uma música que ele acabava de "compor". Movimentando ao acaso os dedos sobre o teclado (não tínhamos a menor educação musical), ele cantou uma letra que começava assim: sou bonito e eu o sei. Minha mãe escutou, constrangida, e, no fim, declarou que a letra era uma besteira, e a música, inexistente. Mas, se meu irmão quisesse, ele poderia estudar piano --à condição que se engajasse a se exercitar uma hora por dia. Meu irmão (desafinado como eu) desistiu disso e se tornou um médico excelente.
3) Os pais dos meus pais davam, no máximo, um beijo na testa de seus filhos. Já meus pais nos beijavam e abraçavam. Mesmo assim, não éramos o centro da vida deles, enquanto nossos filhos são facilmente o centro da nossa.
Para a geração de meus avós e de meus pais, a vida dos adultos não devia ser decidida em função do interesse das crianças, até porque o principal interesse das crianças era sua transformação em adulto (criança tem um defeito, foi-me dito uma vez por um tio: o de ser ainda só uma criança).
Lá pelos meus oito anos, eu tinha passado o domingo com meus pais, visitando parentes. A noite chegou, e eu não tinha nem começado meu dever de casa. Pedi uma nota assinada que me desculpasse. Meu pai disse: esta criança está com sono e deve trabalhar, façam um café para ele. Detestei, mas também gostei de aprender que, mesmo na infância, há coisas mais importantes do que sono e bem-estar.
4) Na pré-estreia do último "Batman", em Aurora, Colorado, um atirador feriu 58 pessoas e matou 12. Um comentador da TV norte-americana (não sei mais qual canal) disse, de uma menina assassinada, que ela era "uma vítima inocente".
Se só a menina era inocente, quer dizer que os outros 11, por serem adultos, eram culpados e mereciam os tiros?
Tudo bem, estou sendo de má-fé: o comentador queria nos enternecer e supunha, com razão, que, para a gente, perder um adulto fosse menos grave do que perder uma criança, que tem sua vida pela frente e, como se diz, ainda é "um anjo". No entanto, eu não acredito em anjos e ainda menos acredito que crianças sejam anjos. Também não sei o que é mais grave perder: a esperança de um futuro ou o patrimônio das experiências acumuladas de uma vida? Você trocaria seus bens atuais por um bilhete da Mega-Sena de sábado que vem?
5) Cuidado, não sonho com uma impossível volta ao passado. Essas notas servem para propor uma mudança preliminar na maneira de contabilizar as falhas que podem atrapalhar a vida de nossos rebentos. Explico.
A partir do fim do século 18, no Ocidente, as crianças adquiriram um valor novo e especial. Únicas continuadoras de nossas vidas, elas foram encarregadas de compensar nossos fracassos por seu sucesso e sua felicidade.
Desde essa época, em que as crianças começaram a ser amadas e cuidadas extraordinariamente, nós nos preocupamos com os efeitos nelas de uma eventual falta de amor. Agora, começo a pensar que nossa preocupação com os estragos produzidos pela falta de amor sirva, sobretudo, para evitar de encarar os estragos produzidos pelos excessos de nosso amor pelas crianças.
Contardo Calligaris
Psicanalista e escritor
Texto publicado na Folha de São Paulo em 09.08.2012

Mesmo o mais corajoso entre nós só raramente tem coragem para aquilo que ele realmente conhece", observou Nietzsche. É o meu caso. Muitos pensamentos meus, eu guardei em segredo. Por medo. Alberto Camus, leitor de Nietzsche, acrescentou um detalhe acerca da hora em que a coragem chega:"Só tardiamente ganhamos a coragem de assumir aquilo que sabemos". Tardiamente. Na velhice. Como estou velho, ganhei coragem.Vou dizer aquilo sobre o que me calei: "O povo unido jamais será vencido", é disso que eu tenho medo. Em tempos passados, invocava-se o nome de Deus como fundamento da ordem política. Mas Deus foi exilado e o "povo" tomou o seu lugar: a democracia é o governo do povo. Não sei se foi bom negócio; o fato é que a vontade do povo, além de não ser confiável, é de uma imensa mediocridade. Basta ver os programas de TV que o povo prefere. A Teologia da Libertação sacralizou o povo como instrumento de libertação histórica. Nada mais distante dos textos bíblicos. Na Bíblia, o povo e Deus andam sempre em direções opostas. Bastou que Moisés, líder, se distraísse na montanha para que o povo, na planície, se intregasse à adoração de um bezerro de ouro. Voltando das alturas, Moisés ficou tão furioso que quebrou as tábuas com os Dez Mandamentos .E a história do profeta Oséias, homem apaixonado! Seu coração se derretia ao contemplar o rosto da mulher que amava! Mas ela tinha outras idéias. Amava a prostituição. Pulava de amante e amante enquanto o amor de Oséias pulava de perdão a perdão. Até que ela o abandonou. Passado muito tempo, Oséias perambulava solitário pelo mercado de escravos. E o que foi que viu? Viu a sua amada sendo vendida como escrava. Oséias não teve dúvidas. Comprou-a e disse: "Agora você será minha para sempre." Pois o profeta transformou a sua desdita amorosa numa parábola do amor de Deus. Deus era o amante apaixonado. O povo era a prostituta. Ele amava a prostituta, mas sabia que ela não era confiável. O povo preferia os falsos profetas aos verdadeiros, porque os falsos profetas lhe contavam mentiras. As mentiras são doces; a verdade é amarga. Os políticos romanos sabiam que o povo se enrola com pão e circo. No tempo dos romanos, o circo eram os cristãos sendo devorados pelos leões. E como o povo gostava de ver o sangue e ouvir os gritos! As coisas mudaram. Os cristãos, de comida para os leões, se transformaram em donos do circo. O circo cristão era diferente: judeus, bruxas e hereges sendo queimados em praças públicas. As praças ficavam apinhadas com o povo em festa, se alegrando com o cheiro de churrasco e os gritos. Reinhold Niebuhr, teólogo moral protestante, no seu livro "O Homem Moral e a Sociedade Imoral" observa que os indivíduos, isolados, têm consciência. São seres morais. Sentem-se "responsáveis" por aquilo que fazem. Mas quando passam a pertencer a um grupo, a razão é silenciada pelas emoções coletivas. Indivíduos que, isoladamente, são incapazes de fazer mal a uma borboleta, se incorporados a um grupo tornam-se capazes dos atos mais cruéis. Participam de linchamentos, são capazes de pôr fogo num índio adormecido e de jogar uma bomba no meio da torcida do time rival. Indivíduos são seres morais. Mas o povo não é moral. O povo é uma prostituta que se vende a preço baixo. Seria maravilhoso se o povo agisse de forma racional, segundo a verdade e segundo os interesses da coletividade. É sobre esse pressuposto que se constrói a democracia. Mas uma das características do povo é a facilidade com que ele é enganado. O povo é movido pelo poder das imagens e não pelo poder da razão. Quem decide as eleições e a democracia são os produtores de imagens. Os votos, nas eleições, dizem quem é o artista que produz as imagens mais sedutoras. O povo não pensa. Somente os indivíduos pensam. Mas o povo detesta os indivíduos que se recusam a ser assimilados à coletividade. Uma coisa é a massa de manobra sobre a qual os espertos trabalham. Nem Freud, nem Nietzsche e nem Jesus Cristo confiavam no povo. Jesus foi crucificado pelo voto popular, que elegeu Barrabás. Durante a revolução cultural, na China de Mao-Tse-Tung, o povo queimava violinos em nome da verdade proletária. Não sei que outras coisas o povo é capaz de queimar. O nazismo era um movimento popular. O povo alemão amava o Führer.
O povo, unido, jamais será vencido! Tenho vários gostos que não são populares. Alguns já me acusaram de gostos aristocráticos. Mas, que posso fazer? Gosto de Bach, de Brahms, de Fernando Pessoa, de Nietzsche, de Saramago, de silêncio; não gosto de churrasco, não gosto de rock, não gosto de música sertaneja, não gosto de futebol. Tenho medo de que, num eventual triunfo do gosto do povo, eu venha a ser obrigado a queimar os meus gostos e a engolir sapos e a brincar de "boca-de-forno", à semelhança do que aconteceu na China. De vez em quando, raramente, o povo fica bonito. Mas, para que esse acontecimento raro aconteça, é preciso que um poeta entoe uma canção e o povo escute: "Caminhando e cantando e seguindo a canção.". Isso é tarefa para os artistas e educadores. O povo que amo não é uma realidade, é uma esperança.
Rubem Alves
Texto publicado na Folha de São Paulo
01.10.2012
A trilogia Cinquenta tons de cinza, de E. L. James, nem chegou por aqui e já está gerando discussões. O romance, que vem representando 25% do mercado americano de ficção adulta (segundo dados da editora), conta a história de uma mulher adulta e seus relacionamentos sexuais. Anastasia Steele é uma jovem que é desafiada a ir até seus limites. O que se segue é a receita do sadomasoquismo clássico (contratos, algemas, humilhações), adaptado aos nossos dias. Os livros vão chegar ao cinema e vêm frequentando os programas de TV e revistas semanais dos EUA e do Brasil. O romance está em pré-venda no país e ganha as livrariasna semana que vem. O que chama atenção não é o sucesso de um livro sobre sexo, afinal sexo sempre vai ocupar lugar de destaque na nossa vida. O que espanta é que um olhar que carrega todos os elementos mais banais da sexualidade e de sua transgressão tenha o poder de criar tanto interesse. Não se trata de um fenômeno literário nem erótico. Os livros não são obras-primas (e obras-primas não costumam parar o trânsito) nem revelam segredos eróticos capazes de mudar a vida de ninguém. O fato de se inscreverem no circuito “sensualidade chique” e se destinar especialmente às mulheres descoladas mostra como a repressão está mais viva do que se imaginava. Num mundo em que a pornografia corre solta, em que a internet liberou todas as fantasias possíveis, fica difícil compreender por que um livro, ainda mais um romance convencional, ganha atributos de revolução comportamental, como vem sendo dito. Em outra escala, o caso lembra as liberalidades de Madonna, que ao mostrar o seio ou simular um coito parecia transgredir limites estritos da moralidade oficial, quando na verdade apenas transportava comportamentos de um lugar social para outro. Da sarjeta para o palco. A pornografia soft de Madonna e sua teorização por Camile Paglia são o arremedo de liberdade possível num cenário de proibições e fetichismo. Não vende porque funciona, funciona porque é vendável. Os últimos séculos tentaram – e quase conseguiram –transformar o sexo em atributo da biologia. No campo da ciência natural, tudo é explicável, normatizável, passível de um discurso da verdade. O sexo, assim, foi sendo engolido pelo conhecimento do corpo. Os comportamentos ganharam classificação, diagnóstico e terapias. Há o sexo certo e o sexo errado. Há uma terapêutica do sexo,uma normatização do gozo, uma higienização dos afetos.Tudo serve a um programa biológico que enquadra do prazer à proibição.
Michel Foucault foi quem melhor explicou esse engano, jogando por terra a ideiade que o problema era a repressão. O filósofo mostrou que o sexo, no mundo moderno, não emerge “contra” as proibições. Ele se relaciona não como uma transgressão ao poder, mas como um jeito de reafirmá-lo. A sociedade contemporânea não é mais a que proíbe, reprime e massacra a individualidade, mas a que obriga a fazer tudo de uma determinada forma, que confirma seus próprios valores. O que Foucault desvelou aos olhos assustados de pessoas que se julgam livres, é que o sexo na era moderna não é mais domado pela repressão, mas pelo discurso da ciência. Sexo é assunto do direito, da psicologia, da medicina. Existe o jeito certo e errado. A sexualidade passa a ser dominada pela pretensão à verdade. Frente a uma situação como essa, toda forma de transgressão soa como crime, doença ou desvio. E é por causa dessa normatização absurda que a indústria cultural passa a oferecer pequenos escapes autorizados, que dão uma aliviada na barra, mas não se contrapõem à norma. O erotismo e a pornografia light estão previstos nas regras dos comportamentos classificados como normais. Por isso os livros vendem muito, as revistas de mulher pelada são comentadas abertamente, Michael Jackson alisava a genitália e as coreografias de Madonna permitem mostrar o peitinho de vez em quando. Em caso de descaminho, é só chamar o terapeuta.

LOUCO AMOR
O que o autor de História de sexualidade mostrou de forma arguta foi que nossas experiências com o sexo são sempre resultado de convenções sociais. Sexo não é biologia, é política. Considerar que a sexualidade, por exemplo, está relacionada como saúde mental é algo só concebível em nosso tempo. Do mesmo modo que a ligação com a noção de pecado só é pensável num contexto marcado pela interpretação teológica do mundo. A cada época, um conjunto de normas conforma nossa experiência. Nosso tempo deu a essas normas o nome de ciência e à sua transgressão o apodo de crime ou doença. Foucault vai adiante, cria o conceito de biopoder. A ideia é fina. Para o pensador, num contexto em que o poder deixa de ser a capacidade de reprimir para se tornar uma forma de obrigar a determinados repertórios de atuação, tudo está focado na saúde, nos corpos individuais. O biopoder é o grande instrumento de controle social, a mais eficaz ferramenta para conseguir obediência a valores sociais conservadores, no sentido estrito da palavra. O ideal é que a vida continue, que o corpo não adoeça, que a sociedade não seja transformada. Tudo parado. Morte é vida. Por meio do biopoder, a sociedade se reproduz e as pessoas se mantêm produtivas. Na estratégia do biopoder, o sexo ganha funcionalidade como elemento físico de acomodação e instrumento moral de contenção. Sem se queimar com repressão e proibições, todos se sentem saudáveis e livres. No entanto, a capacidade de tomar decisões sobre a vida e o corpo (e, claro, o sexo) já foi transferida para os valores socialmente validados como operativos, normais e higiênicos. O biopoder medicaliza a sociedade e a política. A única tarefa passa a ser a sobrevivência. Quando o jogador Sócrates morreu, ainda jovem, em razão de suas escolhas de vida, muitos o condenaram como se houvesse praticado um crime contra si mesmo, e não exercido conscientemente sua liberdade. Na via contrária, a cada dia encontramos com pessoas que fazem de sua existência um exercício devotado para manter a vida. São pessoas que guardam exames como tesouros, vão ao médico o tempo todo, atrapalham a vida de parentes e falam de seus achaques como se interessassem a todos. Para viver mais, deixam de viver de verdade. Sua obra parece ser o obituário: “Depois de um calvário…”.
ARTE DE VIVER
Foucault era homossexual e morreu em decorrência da Aids. Mesmo sem ser um militante da causa gay – para um intelectual tão ousado foi relativamente discreto sobre suas intimidades – deixou algumas reflexões que estão na base do melhor ativismo político sobre questões referentes à sexualidade. O principal, para ele, é que tanto a identidade homossexual como heterossexual não são naturais, mas criadas culturalmente. As chamadas opções não existem como um fato “real”, mas como um processo constituído socialmente. Por isso, a ideia de que a libertação se dá quando uma pessoa se “assume” é uma bobagem, já que não há identidade a ser alcançada, mas a expressão simbólica e variável de vontade de viver melhor. O filósofo defende que a política nessa questão não se dá como uma forma de afirmação ou tomada de poder. Na realidade, a estratégia política verdadeiramente libertária não é a que defende um poder, mas a que questiona todos eles. O desafio é compreender como a sexualidade se constitui e como as relações de poder se organizam em torno dela. A homofobia é filha do biopoder de uma sociedade sexista e binária. O que os homossexuais mostraram foi a importância da invenção de novos modos e estratégias de resistência. O movimento gay deixou de lado a ciência pela afirmação da arte de viver. Inventar a própria vida é a maior realização. Ética e estética se encontram no projeto de suplantar o biopoder, o sexismo, a homofobia e o erotismo de butique. Como escreveu Foucault: “O sexo não é uma fatalidade: é uma possibilidade para uma vida criativa”.
João Paulo Cunha
Diretor do Caderno Pensar / Jornal Estado de Minas
Publicado em 28 de julho de 2012.
Equipe do Site
15.09.2012
Para mim não existe vida fora da palavra escrita. Passei quatro dias ouvindo, pensando e por último falando sobre literatura em conversas na Casa de Cultura da Flip (Festa Literária Internacional), em Paraty. Promovida pelo Itaú Cultural, esta programação era gratuita. O debate me carregou para uma reflexão sobre as minhas marcas. E penso que as marcas se inscrevem em nós primeiro como algo indizível. E depois as transformamos em outra coisa que nos dá a possibilidade de viver. Em mim, elas viram texto. Percebo então que palavras são marcas por escrito. E lamento as vidas que não querem ser assinaladas pela vida.
Vivemos numa época que não quer ser marcada. A maioria de nós tenta escapar das rugas, estas cicatrizes do rosto, de todas as formas – algumas delas bem violentas. Os sinais da idade, da vida vivida, são interpretados como algo alienígena, estranho a nós. Estão ali, mas não deveriam estar. É quase uma traição. Urge então apagá-las.
É tamanho o nosso medo da velhice e da morte, que as marcas da vida vivida são decodificadas como feias, quase repugnantes. Tanto que estamos diante de uma novidade – as primeiras gerações de seres humanos envelhecendo e morrendo com os sinais não da idade, mas das cirurgias plásticas. Sim, porque estas também são cicatrizes. Não há jeito de morrer sem marcas porque não há como viver sem ser marcado pela vida. Mesmo os bebês, que por alguma razão morrem ao nascer, já trazem no corpo a marca fundadora – o corte do cordão umbilical que lhes arrancou de dentro da mãe. O umbigo é nossa primeira cicatriz, aquela que nos unifica.
Se a tecnologia conseguir inventar um ser humano sem marcas é porque desinventou o ser humano. Podemos talvez um dia apagar todas as marcas visíveis, tatuadas no corpo. Mas nunca haverá uma cirurgia capaz de eliminar as marcas da alma. E esta é também uma tentativa que temos empreendido com muito empenho. Por um excesso de psicologês, uma leitura transtornada do pensamento de Freud, passamos a achar que tudo é terrivelmente traumático. Qualquer contrariedade ou vivência não programada supostamente estigmatizaria nossos filhos e aniquilaria seu futuro. Qualquer derrapada no script de nossos dias nos assinala como catástrofe. Parece que viver se tornou uma experiência por demais traumática para quase todos – e, se assim é, a única solução seria não viver. Mas a questão não é o trauma – e sim o que cada um faz com ele.
Há algumas semanas participei de um debate com psicanalistas no Instituto Sedes Sapientiae, em São Paulo, sobre o excelente documentário de Miriam Chnaiderman e Reinaldo Pinheiro, Sobreviventes, sobre o qual já escrevi uma coluna quando foi lançado. Em minha fala, sugeri que não existem sobreviventes. Só é possível ser vivente. A palavra sobre-vivente contém a ideia de viver apesar do vivido. E eu acredito que só é possível viver por causa do vivido.
Em mais de 20 anos contando histórias de pessoas – e também minha própria história –, percebo que as pessoas morrem e renascem muitas vezes numa vida só. Cada existência é uma sucessão de pequenas mortes e renascimentos desde este primeiro corte que nos separa de nossas mães e dá início à nossa existência como indivíduo. Fico só imaginando nesta época onde tudo vira trauma insuperável, o que aconteceria se as pessoas pudessem se lembrar dessa expulsão do paraíso uterino. Haveria uma legião de homens e mulheres incapazes de lidar com acontecimento tão terrível. Sem perceber que é só por ele, afinal, que começamos a viver. Até então, somos todos apenas uma continuidade, um apêndice, do corpo materno.

É verdade que, compreendendo o trauma como algo que nos marca, que nos mata simbolicamente para que possamos renascer de outro jeito, nossa vida é cheia deles. O que questiono aqui é a crença de que não deveria ser assim, a ilusão de que é possível – e o pior, que é desejável – ter uma vida sem marcas no corpo e na alma.
É claro que alguns acontecimentos são devastadores – e lutamos para que não voltem a se repetir com ninguém. Mas, mesmo nestes casos, me parece que a vida só é possível não apagando o que é inapagável, mas fazendo algo novo com esta marca. Transformando-a em algo que possa viver.
Recentemente, causou grande polêmica um vídeo no YouTube, onde Adolek Kohn, de 89 anos, “sobrevivente” do holocausto judeu, dança com sua filha e netos a música “I will survive” (“Eu sobreviverei”), de Gloria Gaynor, em campos de concentração como o de Auschwitz. Quem não tiver assistido, pode encontrá-lo facilmente na internet. Muita gente achou desrespeitoso com o sofrimento das vítimas do holocausto. A mim pareceu emocionante. Concordo com a filha, a artista australiana Jane Korman, quando diz: “Esta dança é um tributo à tenacidade do espírito humano e uma celebração da vida”.
Poder dançar no palco em que quase foi assassinado – e onde milhões de pessoas foram exterminadas – é fazer algo vivo em vez de fazer algo mórbido. Especialmente poder dançar com a continuidade de você – na companhia de todos aqueles que quase não existiram, uma descendência inteira quase aniquilada pela morte de um. Afinal, ele dança sobre suas antigas e brutais lembranças amparado por uma nova memória, representada pelos seus descendentes, por aqueles que vão recordá-lo e produzir outras histórias e sentidos para a trama das gerações. É mais do que uma magistral vingança – é uma dança.
Isso não significa que este (sobre)vivente tenha lidado melhor com seu trauma que todos os outros. Cada um encontra seu caminho – e a maioria dos caminhos não aparece no You Tube. Mas acho uma prepotência “ser contra” ou ridicularizar a tentativa de um outro de lidar com suas marcas, dar um novo sentido àquilo que o constitui. Transformar em algo mais que a dor o que era só dor. Pode não ser o seu caminho, mas isso não o impede de olhar para a saída encontrada pelo outro com o profundo respeito que ela merece.
Quando as pessoas me contam suas histórias, começam a contar pelos seus renascimentos. Pelo momento em que morreram de um jeito, por causa de um trauma, e renasceram de outro. É ali que identificam seu início – ou reinício. Uma nova vida só é possível quando contém a anterior e a sua quebra. O que atravanca nossa existência é ficar fixado no trauma – enxergar a marca como uma morte que não renasce, como um corte que não vira cicatriz. Por isso a palavra “sobrevivente” – e o sentido que ela tem no senso comum – me incomoda. É como se vida fosse o que havia antes, algo que não pudesse se quebrar, e o que temos agora fosse algo menor que a vida, uma mera sobre-vida. Me parece, ao contrário, que a matéria da vida é justamente esta sucessão de quebras – e viver é dar sentido a elas.
Esta ideia vendida e consumida exaustivamente, de que a vida não pode ser marcada nem no corpo nem na alma, tem causado enorme sofrimento às pessoas. Não o sofrimento que nos leva a criar uma vida, mas aquele que nos leva a anestesiar uma vida. Este equívoco tem transformado gente que poderia viver em meros sobreviventes. Porque se não podemos ser marcados, se cada marca for vivida como algo mórbido e não como parte do vivido, fixamo-nos na morte. Viramos uma ladainha que repete sempre o momento mortífero e não consegue seguir adiante.
Ser – é ser em pedaços. O que nos impede de viver não é o trauma, mas a ideia de que exista uma vida que possa prescindir deles. E o que nos humaniza é a capacidade de criar algo vivo com nossas marcas de morte. Palavra escrita, literatura, como tanto se discutiu na festa literária de Paraty. Dança, como o (sobre)vivente do holocausto. Jardins, bordados, doces, móveis, dribles de futebol.
Como poderia dizer a poeta Adélia Prado, “uso todos os meus cacos para fazer um vitral”. Cada vida humana é um vitral feito com as marcas de todas as nossas mortes. Sem os cacos, nada há.
Eliane Brum
Jornalista, escritora e documentarista.
Texto originalmente publicado na Revista Época 9.8.2010
O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por duas horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde: "Estou fazendo. Estou pensando."
Ser bobo, às vezes oferece um mundo de saída porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza, e o bobo tem originalidade, espontaneamente lhe vem a idéia.
O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não vêem. Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos, e estes os vêem como simples pessoas humanas. O bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o bobo é um Dostoievski.

Há desvantagem, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a compra de um ar refrigerado de segunda mão: ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso porque se mudara para a Gávea onde é fresco. Vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resultado: não funciona. Chamado um técnico, a opinião deste era de que o aparelho estava tão estragado que o conserto seria caríssimo: mais valia comprar outro. Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa-fé, não desconfiar, e portanto estar tranqüilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado. O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo não percebe que venceu.
Aviso: não confundir bobos com burros. Desvantagem: pode receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a célebre frase: "Até tu, Brutus?"
Bobo não reclama. Em compensação, como exclama!
Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto não teria morrido na cruz.
O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade e, como toda criação, é difícil. Por isso é que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham dos outros. Em compensação os bobos ganham a vida. Bem-aventurados os bobos porque sabem sem que ninguém desconfie. Aliás não se importam que saibam que eles sabem.
Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas (não confundir bobo com burro, com tolo, com fútil). Minas Gerais, por exemplo, facilita ser bobo. Ah, quantos perdem por não nascer em Minas!
Bobo é Chagall, que põe vaca no espaço, voando por cima das casas. É quase impossível evitar excesso de amor que o bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo.
Clarice Lispector
No atual modus vivendi, é indispensável o questionar, que se faz necessário para a evolução do ser humano e para a fundamentação do seu pensamento, pois foi somente questionando que a humanidade conseguiu e ainda hoje consegue descobrir e, com isso, evoluir em todos os sentidos e dimensões.
Essa evolução que se dá por meio dos questionamentos pode ser de forma direcionada ou não. O questionar com fundamento leva ao crescimento intelectual e social, ao passo que o questionar por questionar não contribui para a solidez da opinião. Assim sendo, por que questionar? O que questionar? Como questionar? E, por fim, qual o caminho desse questionar?
Toda forma de conhecimento advém pela dúvida, que, diante do espanto da novidade, se expressa via questionamento. Na história da humanidade, nada pode ser evidenciado se antes não houver ocorrido uma dúvida. O filósofo René Descartes diz: “Se duvido, penso; se penso, logo existo”. O que quis dizer o filósofo com essa frase tão complexa? Constato que o filósofo direciona essa afirmação e busca explicar que a existência humana pura e simplesmente só pode se realizar por meio da dúvida e, diante dessa dúvida, o ser humano se percebe em constante crescimento.
A dúvida tem na vida do ser humano um papel fundamental. Uma questão se apresenta: quais as principais formas de questionamento existentes hoje? Acredito que as formas de expressão dos mais variados grupos representam hoje uma forma intrínseca de questionamento dos padrões de pensamento, comportamento e até mesmo de sociedade proposta para se viver. Em contrapartida, a maioria das pessoas está acomodada em seu mundo e não tem mais o interesse por aquilo que é de todos.
O que percebo hoje é uma apatia frente à vontade de questionar. A humanidade, em especial a juventude, está, a cada dia, mais acomodada em um consumismo sem sentido, em um radicalismo infundado. O erro não está em consumir ou em ser radical, mas em não haver sentido para tais ações. Não se tem objetivo, e muito menos finalidade, para as ações concretas no cotidiano.

Todo ser humano tem dentro de si a capacidade de criar, entender, saber, buscar, dominar, apreciar e questionar. O que falta é justamente à vontade, o incentivo para tais práticas. Ouvi inúmeras vezes, pessoas dizerem: “antigamente, vivia-se mais intensamente, pois a necessidade era maior e urgente”. E, hoje? Não tenho necessidade? Não há mais intensidade em meu viver? Ou melhor, nosso viver não tem mais sentido ou intensidade? Mais uma vez, o questionar se apresenta como porta de saída, como válvula de escape, como remédio para uma onda de comodismo que invade a sociedade.
O que seria mais fácil: aceitar tudo ou comprometer-se com o novo que questiona as antigas estruturas? Estruturas essas que certamente nos dão um conforto social. Questionar não é simplesmente entrar em um austero embate de ideias, mas ir além e propor algo novo, buscar novas formas, inovar sem perder a essência. Novos comportamentos pedem espaço em nosso cotidiano. Eles querem propor uma nova ordem de pensamento, um novo modelo de ideias, em que falar simplesmente não surte mais efeito.
Portanto, o questionar continua a ser o único meio possível de evolução, seja ela qual for. Logo, o questionamento benfeito, com objetivos claros, com fins previamente estabelecidos, provavelmente levará a humanidade a uma nova consciência, a uma nova forma de vida saudável, sustentável e harmoniosa. O questionamento é a arma mais poderosa à disposição da sociedade, podendo tornar reais as mudanças tão esperadas. “Se duvido, penso; se penso, logo existo; e, se existo, questiono”.
Lucas Fortunato Carneiro
Educador, graduado em filosofia pela PUC Minas e graduando em Teologia
01.08.2012
"O bóson de Higgs era a peça que faltava no chamado Modelo Padrão, que descreve tudo sobre as partículas que conhecemos no Universo. Achá-lo significa completar esse modelo com enorme sucesso", escreve Marcelo Gleiser, professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA), em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, 08-07-2012.
Segundo ele, "na física de partículas, uma 'descoberta' é um evento tão raro que a chance de surgir outra nova explicação é de uma em 3,5 milhões". E continua: "O interessante é o que está por vir. Sabemos que a partícula é um bóson. Mas não sabemos se corresponde à previsão mais simples do Modelo Padrão ou se é algo mais exótico. Todos torcem pelo exótico, pois terão abertas portas para uma nova física. Depois de 45 anos, seria uma pena encontrar só o Higgs".
Eis o artigo.
Como não poderia deixar de ser, nesta semana escrevo sobre a descoberta sensacional do bóson de Higgs, anunciada na última quarta feira, 4 de julho, pelos cientistas do laboratório Cern, em Genebra, na Suíça. Começo repetindo a história de como o bóson de Higgs ficou conhecido como "partícula de Deus".
Obviamente, uma partícula elementar não tem nada a ver com Deus. O apelido vem do título do livro de Leon Lederman, o prêmio Nobel que durante anos caçou a partícula (a busca pelo bóson de Higgs durou ao todo 45 anos!).
Lederman conta que originalmente queria dar ao livro o título em inglês "The Goddamn Particle" ("A partícula Amaldiçoada por Deus" ou simplesmente "A Desgraçada da Partícula"). A ideia era demonstrar sua frustração em não tê-la encontrado. Porém, o editor do livro achou que, com a exclusão de "desgraçada" do título, o livro venderia bem mais. A coisa vingou - para o livro de Lederman e para a partícula.
Mas por que tanta empolgação com o bóson de Higgs, que inclui bilhões de dólares gastos na busca por uma mera partícula?
Essencialmente, o bóson de Higgs era a peça que faltava no chamado Modelo Padrão, que descreve tudo sobre as partículas que conhecemos no Universo. Achá-lo significa completar esse modelo com enorme sucesso.
O papel do Higgs é único entre as partículas: ele é responsável por "dar massa" a todas as outras. Vale lembrar que, na física moderna, as entidades essenciais são os campos. Partículas são excitações desses campos, como pequenas ondas na superfície de um lago. O campo de Higgs estaria por toda a parte, como o ar na nossa atmosfera. Ele interage com os campos de outras partículas: por exemplo, o campo dos elétrons ou o dos fótons (o campo eletromagnético), as partículas de luz. Essa interação tem uma intensidade que varia de campo para campo. É essa intensidade variável que determina a massa das partículas e as suas diferenças.
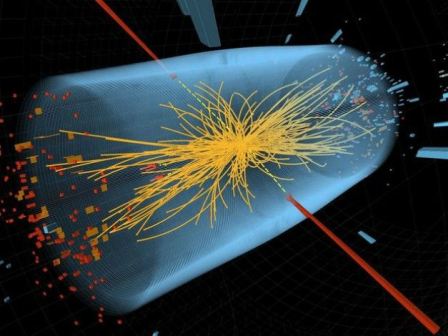
Por que, então, o nome de "bóson"? As partículas que conhecemos podem ser divididas em dois grupos, chamados genericamente de bósons e férmions. "Bóson" homenageia o físico indiano Jagadish Chandra Bose, que desenvolveu, junto com Einstein, as propriedades dessas partículas. Elas gostam de existir em grupos com muitas delas. O Higgs e os fótons são bósons.
Já os férmions (em homenagem ao físico italiano Enrico Fermi) são mais exclusivos e no máximo aparecem em pares. Os elétrons e os prótons são férmions.
Ninguém "viu" um bóson de Higgs, pois eles se desintegram em outras partículas em minúsculas frações de segundo. O que se "observa" são os vários produtos dessas desintegrações. Os resultados são estatísticos, devido aos bilhões de colisões e desintegrações que ocorrem. Na física de partículas, uma "descoberta" é um evento tão raro que a chance de surgir outra nova explicação é de uma em 3,5 milhões.
O interessante é o que está por vir. Sabemos que a partícula é um bóson. Mas não sabemos se corresponde à previsão mais simples do Modelo Padrão ou se é algo mais exótico. Todos torcem pelo exótico, pois terão abertas portas para uma nova física. Depois de 45 anos, seria uma pena encontrar só o Higgs.
Marcelo Gleiser
Artigo publicado na Folha de São Paulo 08.07.2012

Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escritor quem disse. Essa idéia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida, de quem não crê que a vida continua, não admira que o Hemingway tenha acabado como acabou.
Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio.
Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer.
Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima idéia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa, cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, não vemos.
Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia-a-dia, opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença.
Otto Lara Resende
In: Jornal “Folha de S. Paulo”, 23/02/1992.
Página 21 de 22