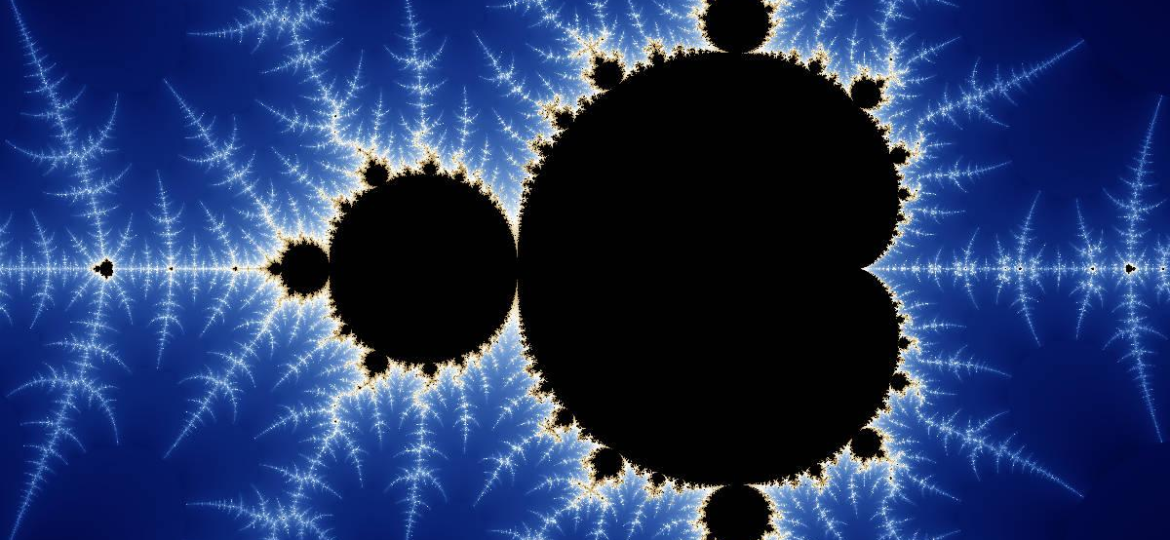Foi no mês de junho que O vi pela primeira vez.
Ele caminhava pelo trigal quando passei por perto com minhas damas de companhia, e Ele estava sozinho.
O ritmo do Seu andar era diferente do andar dos outros homens, e o movimento do Seu corpo não se assemelhava a nada que eu já tivesse visto.
Os homens não caminham sobre a terra daquela maneira.
E, mesmo agora, não sei se Ele andava depressa, ou devagar.
Minhas companheiras apontaram o dedo para Ele e conversaram umas com as outras num sussurro acanhado. Parei meu passo por um momento, e levantei a mão para saudá-Lo. Mas Ele não voltou a face, e não me olhou. E eu odiei-O. Senti-me impelida para dentro de mim mesma, e tinha frio como se tivesse estado num banho de neve. E tremia.
Naquela noite, vi-O em meu sonho; e disseram-me depois que eu gritava dormindo e me agitava no leito.
Foi no mês de agosto que O vi novamente, através da minha janela.
Estava à sombra do cipreste, em meu jardim, e estava imóvel como se tivesse sido talhado na pedra como as estátuas de Antioquia e das outras cidades do País do Norte.
E minha escrava, a egípcia, veio até mim e disse: “Aquele homem está novamente aqui. Está sentado ali, em vosso jardim.”
E olhei para Ele, e minha alma estremeceu dentro de mim, pois Ele era belo.
Seu corpo era perfeitamente coordenado, e cada parte parecia amar cada outra parte.
Então, vesti-me com vestidos de Damasco, deixei minha casa e dirigi-me para Ele.
Seria a minha solidão, ou seria Sua fragrância, que me impelia para Ele? Era uma fome em meus olhos que desejava a beleza ou era Sua beleza que buscava a luz dos meus olhos?
Ainda hoje não o sei.
Caminhei para Ele com meus vestidos perfumados e minhas sandálias douradas, as sandálias que o capitão romano me deu, sim, estas mesmas sandálias. Quando O alcancei, disse-Lhe: “Bom dia para vós.”
E Ele disse: “Bom dia para ti, Miriam.”
E olhou para mim, e Seus olhos-de-noite me viram como nenhum outro homem jamais me tinha visto. E subitamente senti-me como se estivesse despida, e fiquei envergonhada.
Entretanto, Ele apenas dissera: “Bom dia para ti, Miriam.”
E então eu Lhe disse: “Não quereis entrar em minha casa?”
E Ele disse: “Já não estou em tua casa?”
Eu não sabia o que Ele queria dizer com isso. Mas, agora eu sei.
E eu disse: “Não quereis servir-vos de pão e vinho comigo?”
E Ele disse: “Sim, Miriam, mas não agora.”
Não agora, não agora, disse Ele. E a voz do mar estava nestas duas palavras, e a voz dos ventos e das árvores. E quando Ele mas disse, a vida falou à morte.
Pois ninguém imagina, meu amigo, eu estava morta. Era uma mulher que se tinha divorciado de sua alma. Estava vivendo à parte deste Eu que agora estás vendo. Pertencia a todos os homens, e a nenhum. Chamavam-me prostituta e uma mulher possuída por sete demônios. eu era amaldiçoada, e era invejada.
Mas, quando Seus olhos-de-aurora olharam dentro dos meus olhos, todas as estrelas de minha noite desvaneceram-se e tornei-me Miriam, somente Miriam, uma mulher perdida para a terra que tinha conhecido, e reencontrando-se em novos lugares.
E eu Lhe disse: “Entrai em minha casa e partilhai comigo o pão e o vinho.”
E Ele disse: ”Por que me convidas para ser teu hóspede?”
E eu disse: ”Rogo-vos que entreis em minha casa.” E era tudo o que era terra em mim e tudo o que era céu em mim chamando por Ele.
Então, Ele olhou-me, e o meio-dia dos Seus olhos estava sobre mim, e Ele disse:
”Tu tens muitos amantes; entretanto só eu te amo. Os outros homens amam a si mesmos quando te procuram. Eu te amo por ti mesma. Os outros homens vêem em ti uma beleza que desaparecerá mais cedo do que seus próprios anos. Mas eu vejo em ti uma beleza que não esmaecerá e, no outono dos teus dias, esta beleza não terá receio de olhar-se no espelho, e não será ofendida. Somente eu amo o que não se vê em ti.”
Depois, Ele disse numa voz suave: ”Vai embora agora. Se este cipreste é teu, e não quiseres que me sente à sua sombra, prosseguirei meu caminho.”
E gritei para Ele e disse-Lhe: ”Mestre, entra em minha casa. Tenho incenso para queimar para ti, e uma bacia de prata para teus pés. Tu é um estranho e, entretanto, não és um estranho. Peço-te, vem à minha casa.”
Então, Ele levantou-se e olhou-me como as estações devem olhar para os campos. E sorriu. E disse novamente: ”Todos os homens te amam por si mesmos. Eu te amo por ti mesma.”
E afastou-se, caminhando.
Mas nenhum outro homem jamais caminhou da maneira como Ele caminhava. Era uma brisa nascida no meu jardim que se movia para o leste? Ou era uma tempestade que abalaria todas as coisas até seus alicerces?
Eu não sabia, mas naquele dia o poente de Seus olhos matou o dragão que havia em mim, e tornei-me uma mulher, tornei-me Miriam, Miriam de Mijdel.
Gibran Khalil Gibran
In: Jesus, o Filho do Homem

Há uma semana, uma mulher negra, nascida e criada na favela da Maré, no Rio de Janeiro, defensora dos Direitos Humanos e dos direitos dos oprimidos e excluídos, revoluciona o país. Na letargia da crise brasileira de múltiplas dimensões, a execução da vereadora Marielle Franco, morta a tiros, leva milhões às ruas e desperta consciências, vozes e debates que pareciam sepultados pelo desalento e a alienação. Na noite de 14 de março, metade do país não dormiu. Os tiros desfechados contra a vereadora que saía de uma reunião do coletivo Jovens Pretas entraram pelas janelas e aparelhos de TV, celulares e mídias de todos como dardos que rasgam o sossego da escuridão e do silêncio.
A outra metade acordou sobressaltada com a notícia que, a essa altura, já mobilizava milhões. O sorriso largo de Marielle, seus olhos profundos e intensos, sua voz grave e lúcida, enfim a explosão de vida que era ela inteira, estavam presentes e estampados por toda parte. Atos públicos, manifestações, entrevistas, debates. O assassinato de Marielle e o de seu motorista Anderson Gomes eram e continuam sendo senão o único ao menos o principal assunto de conversa em nosso cotidiano.
Em uma cidade que todo santo dia conhece estatísticas macabras de vários assaltos e mortes violentas, por que o dessa mulher mobilizou de tal maneira a opinião pública? Talvez aí esteja a chave da compreensão do alcance de sua morte, indissociável de sua vida. Marielle não morreu de assalto. Nem de bala perdida. As balas planejaram e acharam muito bem o caminho de sua cabeça tão perigosa porque inteligente, criativa e destemida.
Marielle é mais que Marielle. Ela é muitas, ela é várias, ela é todas. Todas nós mulheres que nela vemos uma ilustre representante e porta voz de nossos problemas e discriminações seculares. Todos os afrodescendentes em um país que foi o último a “abolir” uma escravidão que segue, ocupa o palanque e a Câmara, e defende com orgulho sua negritude. Todos os discriminados por raça, posição social, escolhas de vida que não encontram brecha para construir seu futuro roubado e sequestrado pelos poderes autoritários de qualquer espécie.
Marielle é a jovem mãe solteira, negra e pobre, cria da Maré que educou sozinha a filha Luyara; disputou um lugar na universidade graças ao vestibular comunitário; terminou a graduação em Ciências Sociais na melhor universidade privada do país – a PUC-Rio; fez mestrado em Administração em uma Universidade Federal passando à frente de vários concorrentes.
É a líder comunitária que entrou na política e teve uma carreira ascendente. Candidata pela primeira vez, teve 46 mil votos, sendo a quinta mais votada para a Câmara Municipal. É aquela que não se acomodou com as conquistas que realizou apenas para subir na vida e ganhar mais dinheiro. Sua vocação era pública, sua vida pertencia a seu povo e a ele foi dada até o fim.
Com o país inteiro mobilizado, chorando sua morte e assumindo suas bandeiras, começou sua segunda tentativa de assassinato: a difamação. Inventaram sobre ela, sua vida privada, seu passado, inverdades destrutivas no intento de denegrir sua figura e obscurecer a grandeza de sua vida e sua morte. Os que a legitimavam e defendiam passaram a ser insultados também com discursos cheios de ódio e amargura. Desde padres que celebravam missas até jornalistas e políticos.
Tudo isso só faz ressaltar ainda mais a estatura dessa mulher extraordinária. Sua trajetória e coerência admiráveis continuam surpreendendo positivamente todos que dela vão tomando conhecimento progressivamente. Cada difamação desmentida a faz crescer e se destacar. Os esforços de seus detratores vão sendo minimizados e aparecendo em toda a sua mesquinharia e desonestidade.
Aquelas balas, cara Marielle, que miraram e atingiram o centro de sua vida para destruí-la chegaram atrasadas. Suas palavras e seu testemunho já tinham sido plantados em todos esses milhões de brasileiros que hoje vão às ruas chorar sua perda e animar-se reciprocamente para continuar sua luta. Como sua família - de formação católica, - bem disse em alguma entrevista, não é hora de abrigar sentimentos de ódio e vingança. Mas é hora, sim, e muito, de lutar contra a segunda morte que querem lhe dar. E levantar alto suas bandeiras que inspiram a todos para transformar a realidade sórdida que vivemos hoje em nosso país.
Maria Clara Bingemer é teóloga, professora do Departamento de Teologia da PUC-Rio, autora de Simone Weil – Testemunha da paixão e da compaixão
Se os seres humanos são seres de palavra e linguagem, não há como negar que o silêncio é parte constitutiva da nossa identidade. Sendo uma opção livre, é objeto de desejo e não de necessidade. Trata-se de algo que não pode ser imposto, mas deve, sim, ser conquistado por todo aquele ou aquela que a ele se abre voluntariamente.
Todo silêncio desejado implica um processo longo, delicado. Sua área de pertença é a disciplina, a ascese que faz o homem ou a mulher não se contentar com estímulos externos e superficiais, mas voltar-se para o seu interior e ali procurar, para dilatar e ampliar, seus espaços interiores e sua vida espiritual.
Porque somos seres de palavra, frequentemente expostos a ruídos, comunicações e estímulos diversos, essa disciplina pode ser exigente, até mesmo heroica, e ir fortemente contra nosso gosto imediato. Aprender a viver em silêncio durante longos períodos é condição de toda experiência iniciática profunda, podendo conduzir à experiência direta da autotranscendência, que configura nossa identidade de seres finitos chamados à infinitude.
O silêncio, no entanto, não é um fim em si mesmo. Dentro do entendimento da fé e da espiritualidade cristãs, o silêncio é a condição necessária para que aconteça, em nós, o verdadeiro diálogo e, a partir de nós, ressoe no mundo a verdadeira palavra.
Os Exercícios Espirituais de Santo Inácio – na sua modalidade completa de 30 dias feitos em silêncio rigoroso, quebrado apenas pelas conversas com o diretor – dão bem a medida da importância dessa prática, pois o que deseja o grande mestre espiritual, fundador da Companhia de Jesus, é que o exercitante vá, pouco a pouco, libertando-se das vozes e ruídos que povoam e desorganizam seu interior, a fim de que a voz de Deus ali possa ressoar plenamente.
Ensinado e conduzido pelo silêncio, aquele que faz os Exercícios luta, sobretudo durante os primeiros dias, para calar as vozes interiores que o distraem, dividem, desorientam. Mas começará, progressivamente, a ouvir melhor, a distinguir os movimentos interiores e as moções do Espírito Santo. É, então, que as palavras e os ruídos se calam e pode emergir a Palavra – luminosa, pacífica e forte – que inaugura mundos, engravida virgens e transforma desertos em jardins.
Gestada no ventre fecundo do silêncio, essa Palavra tomará por inteiro aquele ou aquela que medita e contempla e o irá configurando ao Criador de quem é imagem e semelhança, ao Redentor que deseja imitar e seguir. No interior silenciado pelo Espírito, começará, sempre com sabor de novidade imperecível, a Nova Criação.
Maria Clara Bingemer
In: Em Companhia jan/fev 2018
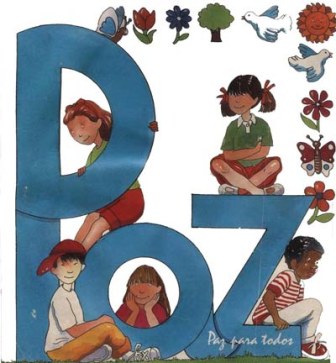
Introdução
Em 1964, em pleno desenvolvimento do Concílio Vaticano II, realizou-se a primeira Campanha da Fraternidade (CF) em âmbito nacional, sob os cuidados da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
Para o ano de 2018, foi escolhido o tema “FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA” e o lema: “VÓS SOIS TODOS IRMÃOS” (Mt 23,8), com o objetivo geral de construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da palavra de Deus, como caminho de superação da violência.
O tema da CF-2018 pretende advertir que a violência nunca constitui uma resposta justa. A Igreja proclama, com a convicção de sua fé em Cristo e com a consciência de sua missão, que a violência é um mal, é inaceitável como solução para os problemas e não é digna do ser humano.
A busca de soluções alternativas à violência para resolver os conflitos assumiu, atualmente, um caráter de dramática urgência. É, portanto, essencial a busca das causas que originam a violência, em primeiro lugar as que se ligam a situações estruturais de injustiça, de miséria, de exploração, nas quais é necessário intervir com o objetivo de superá-las (cf. Compêndio da Doutrina Social da Igreja).
Já o lema “Vós sois todos irmãos” busca resgatar o sentido da fraternidade dos povos, pois somos todos irmãos e irmãs, filhos e filhas de um mesmo Pai. Por isso, iluminados pelo evangelho do Reino, somos chamados à não violência.
A CNBB convida todos os homens e mulheres de boa vontade a percorrer o caminho da superação da violência, crescente em todos os níveis. Para isso, é preciso olhar a realidade, iluminá-la com a luz da palavra de Deus e do magistério da Igreja e, por fim, agir sobre ela, transformando-a.
1.Olhar a realidade
A convivência pacífica e a sociabilidade violenta parecem disputar os mesmos espaços no cotidiano. No Brasil, criou-se um discurso conveniente, segundo o qual o povo brasileiro é pacífico; contudo, basta observar com cautela a sociedade para perceber como a violência está presente no dia a dia das pessoas. Tal violência, com o passar dos anos, foi se tornando uma cultura institucionalizada e sistematizada, gerando assim os rostos nos quais se contempla o descaso com a pessoa humana e o quanto ela é tolhida em seus direitos e dignidade.
Cultura da violência
A definição mais genuína da palavra cultura é “cultivo”. Disseminar uma cultura é cultivar um modo de ser, de estar e de agir. Quando se apresenta a violência como cultura, parte-se de uma análise da realidade em que comportamentos, mídias, expressões verbais, músicas etc. foram se tornando “normais”, “comuns”. Essa cultura é produzida pelos indivíduos, que, ao mesmo tempo, se tornam vítimas do próprio sistema de violência.
A violência cultural institui na sociedade uma situação em que alguns atos violentos são reconhecidos como legítimos ou naturais. Assim, a violência cultural não constitui a causa primeira da violência, mas é condição para que a sociedade tenha uma visão míope dos atos violentos; em outras palavras, uma consciência anestesiada, pois aquilo que deveria ser considerado violento – porque é um mal em si – passa a não ser assim considerado.
A mídia é a grande colaboradora do processo de naturalização da violência, pois a polariza em alguns contextos específicos – por exemplo, o narcotráfico, os assassinatos e as guerras –, como se ela só fosse possível nesses “ambientes organizados”. Esquece-se que a violência nasce no próprio ser humano, quando este escolhe o caminho do ódio, do não perdão, da inveja, da soberba. Acrescido a isso, a sociedade aceita passivamente atitudes de natureza violenta.
A cultura da violência é uma cultura excludente, pois a associa às classes sociais e raciais, criando, assim, estigmas sociais como “o povo daquele país não presta”, “aquele rapaz tem cara de bandido”, “aquela mulher merece apanhar”. Essas expressões, tornadas corriqueiras, são um modo de descriminalizar a cultura da violência. As estatísticas confirmam isso quando apontam registros crescentes de xenofobia no Brasil, o grande número de jovens negros encarcerados, a multidão de mulheres que, no silêncio do lar, sofrem violências diversas.
Essa naturalização se converte em indiferença. Os números da violência no Brasil revelam uma calamidade social. Raramente, porém, o espectador ultrapassa o nível de leve indignação diante dos dados. Isso que ocorre no plano individual se manifesta como uma espécie de anestesia nos governos, que não se sentem compelidos a elaborar políticas públicas capazes de reverter a tragédia em andamento (cf. Texto-base da CF-2018).
A cultura se atualiza por meio de ações sociais, ou seja, ocorre quando a sociedade vai cristalizando alguns comportamentos, chegando a institucionalizá-los. Nesse sentido, a Campanha da Fraternidade de 2018 não quer somente identificar a cultura da violência, mas sobretudo combatê-la. Para isso, é preciso entender como essa cultura vai se sistematizando na pessoa, na comunidade e na sociedade.
A sistematização da violência
A violência apresenta-se nas mais variadas formas: física, psicológica, institucional, sexual, de gênero, doméstica, simbólica, entre outras. Superar as várias faces da violência é tarefa de todos. Exige o compromisso de cada cristão e cristã no enfrentamento das múltiplas formas de ofensa à dignidade humana que se naturalizam escandalosamente em nossa sociedade.
Ainda que o Brasil, nos últimos anos, tenha apresentado evidentes avanços e conquistas sociais, estes ainda não foram suficientes para eliminar a desigualdade. Uma vez que cresce a desigualdade, cresce também a violência. O não atendimento aos direitos elementares das pessoas constitui um nascedouro para a violência em sociedade.
Somam-se, nesse desafiador quadro social, as causas externas de mortalidade (decorrentes de acidentes de trânsito, afogamento, envenenamento e outras formas de violência, como agressões, homicídios, suicídios, tentativas de suicídio, abusos físicos, sexuais e psicológicos), que contribuem para mais de 138 mil óbitos anualmente em nosso país, segundo dados de 2010 do Ministério da Saúde. Os homicídios no Brasil, por exemplo, tiveram um aumento de 259% num período de trinta anos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 11% dos assassinatos do mundo acontecem no Brasil, onde uma pessoa é morta a cada dez minutos; 50.806 pessoas foram vítimas de homicídios dolosos no país somente em 2013, ano que registrou 50.320 casos de estupro; o número de presos no sistema penitenciário brasileiro cresceu 5,37% entre 2012 e 2013, sobrecarregando ainda mais o já desumano sistema penitenciário; e os custos da violência chegaram a 258 bilhões de reais nesse mesmo período, correspondentes a quase 6% do PIB (soma de todas as riquezas que o país produz em um ano); nos últimos cinco anos, as polícias brasileiras mataram 11.197 pessoas, mas os policiais também foram vítimas: em 2013, 490 foram mortos, 75% dos quais fora de serviço. Dados do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade (IVJ 2014) apontam que, no Nordeste, um jovem negro corre cinco vezes mais o risco de ser morto do que um jovem branco. Dos quase 30 mil jovens assassinados em 2012, 76,5% eram negros ou pardos, ou seja, morreram 225% mais jovens negros do que brancos. De acordo com o IVJ, no Brasil, esse índice é de 2,5, ou seja, são assassinados 2,5 vezes mais jovens negros do que brancos. A evolução histórica da mortalidade violenta no Brasil impressiona: segundo o Mapa da Violência 2014 – Os Jovens do Brasil, entre os anos 1980 e 2012, morreram no país 1.202.245 pessoas vítimas de homicídio, 1.041.335 pessoas vítimas de acidentes de trânsito e 216.211 suicidaram-se. As três causas somadas totalizam 2.459.791 vítimas (cf. Texto-base da CF-2018).
Sabe-se que a violência está presente em toda a sociedade e se manifesta de formas diferentes, mas é sabido também que as populações mais vulneráveis é que são mais vitimadas. Enquanto as classes de maior poder aquisitivo podem se proteger com uma série de artefatos que alimentam a “indústria da segurança” e dão uma falsa sensação de proteção, os mais pobres estão expostos à insegurança.
O direito à proteção é para todos, e se alguns estão tolhidos desse direito, isso se dá pelo fato de não haver políticas públicas que favoreçam a totalidade dos cidadãos. Os impostos, que deveriam servir ao bem comum, são escoados por obra da corrupção, num país em que parece estar institucionalizada a fraude contra o dinheiro público.
A violência não é um fenômeno apenas cultural, mas, ao se instalar na sociedade, vai se sistematizando. Tal sistema é bipartido e polarizado: de um lado, estão os que querem a todo custo tirar vantagem; de outro, as vítimas da desigualdade. Por sua vez, as instituições precipuamente responsáveis por zelar pelos direitos elementares de segurança, justiça e paz acabam se transformando em instituições corrompidas, como é o caso do sistema de justiça criminal brasileiro (formado pelas polícias, pelo Ministério Público, pela Justiça e pelo sistema prisional), que, muitas vezes, não consegue responder adequadamente às problemáticas contemporâneas.
A sociedade ainda se pauta na reação, e não na prevenção; na punição, e não na educação para o senso de pertença. Com o passar do tempo, os sistemas que deveriam ser um serviço à seguridade social tornam-se instituições sobre as quais a desconfiança cresce dia a dia.
A violência que se manifesta diariamente e em intensidade numérica cada vez maior muitas vezes é ocultada para dar espaço a fatos midiáticos. Alguns casos ficam tão expostos nos meios de comunicação, que levam a população a particularizá-los e a focar especificamente neles, esquecendo-se de outros, muito mais numerosos, que acontecem todos os dias. E, ainda, a mídia, ao apresentar situações de modo teatral, desperta na população um senso justiceiro, um desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Volta à cena o desejo do mais alto grau de punição: a morte, como se fosse a solução para erradicar todos os tipos de violência.
O descarte do ser humano, seja ele vítima ou autor do malfeito, não é o caminho. Não se pode alimentar um sistema maniqueísta que separa bons e maus, justos e injustos. É preciso voltar-se ao senso de alteridade: o outro (alter) é meu irmão; se é meu irmão, eu não o descarto quando erra, mas o ajudo a se reeducar no caminho do bem. É preciso passar de um sistema excludente, elitista e descartável para uma sociedade fraterna, responsável e inclusiva.
Os rostos da violência
Quando se fala de vítimas da violência, não se pode ficar o tempo todo generalizando. Por trás de cada vítima há um rosto, uma pessoa com vontade, liberdade e capacidade para amar, que teve os seus direitos arrancados pela violência. O convite que a Igreja faz, por meio da Campanha da Fraternidade, não visa à superação de um quadro estatístico cheio de dados e números; ela convida à superação na vida e na história de cada homem e mulher subtraídos de seus direitos.
A Igreja não quer apenas apontar dados e estatísticas, mas convida cada um a contemplar os rostos e a história de tantos irmãos e irmãs:
– rosto dos que sofrem violência racial;
– rosto dos que sofrem violência de gênero. Muitas mulheres continuam sendo vítimas da cultura patriarcal e machista, de salários reduzidos, da violência doméstica, de abuso sexual. Cabe lembrar aqui os irmãos e irmãs da comunidade LGBT, vítimas constantes do preconceito e da violência física;
– rosto dos que sofrem violência doméstica, tendo como principais vítimas as mulheres, as crianças e os idosos;
– rosto das vítimas da exploração sexual e do tráfico humano, sobretudo mulheres e crianças;
– rosto dos trabalhadores rurais e dos povos tradicionais. Aumenta o conflito no campo; os trabalhadores rurais, na luta por seus direitos, muitas vezes são assassinados e expulsos da terra. Os povos tradicionais, que estão na terra desde muito antes da chegada dos colonizadores, são tratados com estranhamento e com o endurecimento das leis de criação de reservas;
– rosto das vítimas do narcotráfico. Cada vez mais cresce o número de pessoas que perdem a vida por causa do narcotráfico. A vida é tirada não só pelo consumo dos entorpecentes, mas também pela violência do crime organizado, gerador de um sistema injusto, que prende crianças e jovens consumidores de drogas, mas raramente (ou nunca) pune exemplarmente os grandes traficantes;
– rosto das vítimas do trânsito. As pessoas, tendo o direito de ir e vir, precisam fazê-lo com segurança. Muitas são as vítimas do trânsito, seja pela irresponsabilidade pessoal dos que ingerem álcool ou não respeitam a sinalização, seja pela ausência dos poderes públicos na manutenção das rodovias.
Com esse elenco de rostos da violência, não se fecha o assunto; ao contrário, com acurada reflexão, é possível perceber uma infinidade de pessoas e situações marcadas por essa realidade. Não basta identificar a violência como cultura e como sistema e distinguir suas vítimas; é preciso iluminar essa realidade com o evangelho.
2.Iluminar a realidade
A palavra de Deus e a superação da violência
A Sagrada Escritura foi sendo inspirada ao longo dos séculos. É uma história de salvação que passa pelas marcas da história da humanidade, constituída de momentos de fraternidade, de paz, de luta pela justiça, mas também marcada pelo pecado da divisão, da guerra, do abuso do poder.
Muitas vezes os sentimentos humanos são atribuídos a Deus, apresentando-o como vingativo, violento e cheio de ira. Muitos textos da Sagrada Escritura carregam essa marca da projeção da violência humana em Deus, caracterizando-o como um Deus justiceiro.
A Revelação atingiu sua plenitude no mistério da encarnação de Jesus Cristo, que é por excelência uma pessoa de paz, de não violência, de prática da fraternidade.
Jesus revela que Deus é Pai (Abbá) e os homens e as mulheres são irmãos e irmãs. A fraternidade anunciada por Jesus é composta de um caminho de misericórdia, que pede e oferece perdão; um caminho em que se assume a postura do samaritano, o qual se inclina sobre a dor do que sofreu violência, dele cuida e com ele supera o sofrimento.
Do Novo Testamento deriva uma consequência prática: quem conhece Jesus promove a paz, jamais estimula a violência. Quem, em Cristo, sabe que foi agraciado com a paz deve se tornar um reconciliador, um construtor de paz.
Como lembra um antigo escrito cristão: “Deus enviou-o (seu Filho) para nos salvar, para persuadir, e não para violentar, pois em Deus não há violência” (Carta a Diogneto, VII, 4; cf. Texto-base da CF-2018).
O magistério da Igreja e a superação da violência
A Igreja guarda o tesouro deixado por seu fundador, cabendo-lhe a missão do anúncio do evangelho da paz e da superação da violência.
Quando estudamos a história da Igreja, percebemos que nem sempre ela foi fiel à sua missão; muitas vezes escolheu o caminho do não diálogo, chegando a extremos escandalosos.
A Igreja não esconde os erros da sua história, mas aprende com eles e busca cada dia refazer a escolha do seguimento de Jesus. Ela segue o seu Mestre – que não agiu com violência, mas morreu de morte violenta – e, guiada pela sua presença ressuscitada e pelo seu Espírito, por meio da comunhão e da missão, busca oferecer a todos os povos um caminho para vencer a violência.
Poder-se-ia aqui fazer memória de inúmeros homens e mulheres que, ao longo dos séculos, deram testemunho de superação da violência. Contudo, esta reflexão se centrará na primavera da Igreja no século XX, o Concílio Ecumênico Vaticano II e os papas contemporâneos.
Em sua reflexão sobre a comunidade humana internacional, a constituição pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje Gaudium et Spes indica como elementos que se deve ter presentes para uma convivência pacífica e para o progresso da paz: a índole comunitária da vocação humana; a interdependência da pessoa humana e da sociedade humana; a promoção do bem comum; o respeito pela pessoa humana; o respeito e amor pelos adversários; a igualdade essencial entre todas as pessoas; a superação da ética individualista; a responsabilidade e a participação social; a solidariedade humana (n. 24-32).
São João XXIII, na encíclica Pacem in Terris, afirma que, em nosso tempo, não é racional que a guerra seja usada como instrumento da justiça (cf. n. 67). Ele, que viveu de perto os horrores da guerra, cita Pio XII: “Com a paz, nada se perde. Tudo, com a guerra, pode ser perdido” (n. 62).
O Beato Paulo VI, em sua memorável Populorum Progressio, reafirma a completa exclusão da violência do ideal de sociedade coerente com a dignidade humana. São João Paulo II, na Mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2002, recorda que “não há paz sem justiça, nem justiça sem perdão”.
Na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2007, Bento XVI recorda que a raiz da ausência de paz está localizada no contexto da desigualdade social: “Na raiz de não poucas tensões que ameaçam a paz, estão certamente as inúmeras injustas desigualdades ainda tragicamente presentes no mundo. De entre elas são, por um lado, particularmente insidiosas as desigualdades no acesso a bens essenciais, como a comida, a água, a casa, a saúde; e, por outro lado, as contínuas desigualdades entre homem e mulher no exercício dos direitos humanos fundamentais”. Fica evidente aqui a necessidade de superar a violência superando as desigualdades sociais.
Em tempos recentes, o papa Francisco recorda que a superação da violência passa pela fraternidade, fundamento e caminho para a paz. Surge espontaneamente a pergunta: Poderão um dia os homens e as mulheres deste mundo corresponder plenamente ao anseio de fraternidade neles gravado por Deus Pai? Conseguirão, meramente com as suas forças, vencer a indiferença, o egoísmo e o ódio e aceitar as legítimas diferenças que caracterizam os irmãos e as irmãs? Parafraseando as palavras do Senhor Jesus, poderemos sintetizar assim a resposta que ele nos dá: dado que há um só Pai, que é Deus, vós sois todos irmãos (cf. Mt 23,8-9). A raiz da fraternidade está contida na paternidade de Deus. Trata-se, por conseguinte, de uma paternidade eficazmente geradora de fraternidade, porque o amor de Deus, quando é acolhido, se transforma no mais admirável agente de transformação da vida e das relações com o outro, abrindo os seres humanos à solidariedade e à partilha ativa.
3.Agir na realidade
A superação da violência não é uma teoria, mas deve ser um caminho de ativa transformação. Essa mudança passa pela pessoa, pela comunidade e pela sociedade. A conversão conjugada dessas três realidades é uma trilha segura para todo desejo de superação.
Antropologia da mudança
As pessoas não estão inseridas no mundo para viver isoladamente, mas dependem do “outro” para viver. Essa condição, que favorece a prática relacional, desafia a todos – como sujeitos da própria história – a cuidar do outro, ou seja, a fazer parte da história do outro.
A superação da violência passa pela conversão pessoal. É preciso assumir a espiritualidade do seguimento de Jesus, o modelo de pessoa que escolheu ser não violento. A conversão, compreendida na mudança de atitudes e comportamentos, é a principal proposta que a liturgia quaresmal oferece.
O mundo muda quando a pessoa muda. Para que isso aconteça, é preciso adotar uma postura correspondente à de Jesus, promovendo a cultura da paz, adotando mídias alternativas, que não tratam a violência com sensacionalismo, participando dos conselhos paritários e de políticas públicas para a superação da violência, valorizando a instituição familiar, vivendo uma vida menos consumista, pedindo e oferecendo perdão, adotando a cultura da empatia. E recordando-se sempre de que o outro não é apenas o outro: ele é irmão.
Comunidades comprometidas
Cabe aqui fazer uma salutar memória da caminhada pastoral da Igreja no Brasil, a qual, ao longo dos anos, motivada pelo espírito da profecia e da luta pela fraternidade, por meio de suas pastorais sociais, tem dado passos gigantescos na superação da violência.
As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2015-2019 (DGAE) recordam: com as atitudes de alteridade e gratuidade, expressões do amor, os discípulos missionários promovem a justiça, a paz, a reconciliação e a fraternidade. Desse modo, oferecem à sociedade atual o testemunho do perdão e da reconciliação (Lc 23,34), que devem ser incessantemente manifestados e transmitidos (Mt 18,21-22) em um contexto de crescente violência. O caráter radical do amor de Deus atinge sua extrema manifestação no amor aos inimigos. A reconciliação supera toda divisão que nos afasta de Deus e nos separa uns dos outros (DGAE 12).
– Destaca-se o trabalho da Pastoral da Mulher Marginalizada como uma luz para o enfrentamento e a superação da violência contra a mulher.
– Outras experiências de superação e, consequentemente, de humanização dos processos sociais podem ser observadas na Pastoral da Saúde, da Pessoa Idosa, da Pessoa com Deficiência, da Criança e da Sobriedade, em que o “carisma” do cuidado se faz presente.
– O cuidado e a justiça iluminam os trabalhos da Pastoral Carcerária, Indigenista, do Menor, da Mulher Marginalizada, da Terra e o Grito dos Excluídos, em que os embates por políticas públicas de prevenção e superação da violência são por elas assumidos.
– Nas CEBs, na Pastoral Operária e no laicato, é possível compreender a missão de ser sal e luz no mundo.
– Outro trabalho de grande significado é aquele realizado com os usuários de álcool e drogas nos centros de recuperação, como a Associação Esperança e Vida e a Fazenda da Esperança, ou por pessoas de boa vontade que fazem de suas aptidões profissionais uma missão, acrescentando a “fé” e o “cuidado” no seu agir em relação ao outro.
Por fim, considerando a proposta da Pastoral do Menor, é possível recordar que ninguém nasce infrator. Cabe a todos a missão de ir ao encontro do “outro”. Esse “outro” é o mesmo que o Evangelho de Mateus nos apresenta: “Estive preso e foste me visitar”.
No decorrer da história, várias iniciativas sociais da Igreja foram sendo assumidas pela sociedade e se tornaram políticas públicas. Portanto, o olhar social da Igreja exigiu posicionamento do Estado em relação ao sofrimento humano por ele negligenciado.
Sociedade: a mudança de paradigma
Pensar a superação da violência no interior do sistema capitalista, que mantém sua centralidade no lucro econômico, e não no ser humano, exige grande esforço na identificação e compreensão das iniciativas que sinalizam possibilidades de enfrentamento e superação da violência. Essas iniciativas, pensadas e desenvolvidas em harmonia com a manutenção desse sistema, no qual o ser humano é apenas um objeto para o consumo, tornam-se “paliativos” para a cultura da não violência (cf. Texto-base da CF-2018).
Portanto, enquanto uma mudança de paradigmas não acontece, é preciso voltar-se para algumas iniciativas que favorecem a construção de uma cultura da paz, mediante a consolidação de políticas públicas e a participação de conselhos paritários de direitos, para o enfrentamento da violência que se desenvolve nos âmbitos de sua abrangência, como é o caso da violência doméstica na sociedade brasileira.
Urge uma reação cidadã, com incidências transformadoras em vários níveis. Só assim será fortalecida a cultura da liberdade e da autonomia, para mitigar a violência e o desrespeito à dignidade.
Sofre-se pela falta de lideranças com estatura, em diferentes níveis. Encontra-se, com maior facilidade, quem levanta a voz para a reclamação e a lamentação, ou mesmo para o vandalismo. Há carência de pessoas que se dediquem a uma atuação mais criativa, corajosamente inovadora e cidadã, especialmente no âmbito governamental, primeiro responsável pelo bem comum. Os descompassos produzidos por tantos desencontros e equívocos nas escolhas das prioridades sociais – por falta de competência humanística e de ajustada visão antropológica de muitos profissionais da política –, ao lado da sede mesquinha de dinheiro, resultam na incapacidade de gerar redes de solidariedade.
Conclusão
A superação da violência começa pelo respeito à dignidade da pessoa humana, defendendo e promovendo a dignidade da vida humana em todas as etapas da existência, desde a fecundação até a morte natural, tratando o ser humano como fim, e não como meio. A proposta é a superação da violência. Para concluir, bastam as palavras do papa Francisco no encontro com os presidentes Abbas (Palestina) e Peres (Israel) no ano de 2014: “Ouvimos um chamado e devemos responder: o chamado a romper a espiral do ódio e da violência, a rompê-la com uma única palavra: ‘irmão’. Mas, para dizer essa palavra, devemos todos levantar os olhos ao céu e reconhecer-nos filhos de um único Pai”.
Luis Fernando da Silva
Pe. Luis Fernando da Silva, presbítero da Diocese de São João da Boa Vista/SP, secretário-executivo da Campanha da Fraternidade, membro do Fundo Nacional de Solidariedade e diretor editorial das Edições CNBB.
In: Vida Pastoral – janeiro/fevereiro 2018
 O mais precioso e saboroso do legado de Libanio não está em suas produções, encontra-se no coração de quem com ele conviveu e aprendeu a dedicar-se à arte de amar e servir.
O mais precioso e saboroso do legado de Libanio não está em suas produções, encontra-se no coração de quem com ele conviveu e aprendeu a dedicar-se à arte de amar e servir.
Liberdade crítica e autocrítica, na Igreja e como Igreja. Liberdade crítica e autocrítica, na Igreja e como Igreja. (jblibanio.org.br)
Os grandes mestres, pelo jeito singular com que forjam e transmitem seu saber-fazer, deixam marcas indeléveis na vida de seus discípulos e discípulas. Tais marcas não se convertem em pura admiração, reconhecimento e gratidão. Vão muito além disso. Provocam incontornável senso de corresponsabilidade para que o tesouro recebido não se perca.
Libanio foi desses mestres singulares e inesquecíveis. Deixou atrás de si incontáveis seguidores-continuadores, que assumem publicamente, não só a importância da formação recebida, mas sobretudo o impulso vital, dele recebido de forma testemunhal, para colocarem-se também a serviço e darem continuidade ao precioso legado do mestre. Quanta saudade viva e instigante ele deixou esculpida em nossos corações!
No marco dos três anos de sua partida para a Casa do Pai, destino último de todos nós, quero aqui compartilhar três traços muito significativos da arte libaniana de fazer-ensinar teologia pastoral.
1. Libanio foi alguém que se deixou lapidar pelo labor teológico
Sua vida praticamente inteira girou em torno do aprender e do fazer-ensinar teologia. Cedo entrou na Companhia de Jesus. Ao fazer seus estudos superiores na Europa, desde os primeiros anos da imersão no mar da teologia, descobriu sua vocação e missão. Desde então, deixou-se lapidar pelo complexo labor teológico. Cultivou, com rigor, o desafio de tornar-se intelectual orgânico no seio da Igreja e da sociedade. Após a graduação, passou a ser repetidor das aulas de teologia para os estudantes brasileiros. Essa tarefa oportunizou a ele adquirir sólida formação geral em teologia. Ele gostava de dizer que não seguiu o caminho dos especialistas, mas dos generalistas. A teologia fundamental, destituída de toda apologética não dialógica e aprendiz, ocupou-lhe o centro de irradiação.
Doutorou-se na Alemanha e, em seguida, voltou para o Brasil inserindo-se, de corpo e alma, no desafiante e criativo processo de recepção das ousadas transformações encetadas pelo Concílio Vaticano II. Aqui encontrou na dinâmica de assessoria da CRB – Conferência dos Religiosos do Brasil e da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na FAJE – Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, dentre outros espaços, terreno fértil para se colocar a serviço da Igreja, desde os mais pobres, e da profética teologia latinoamericana da libertação. Se na Europa recebeu sólida formação clássica e na teologia dos grandes ideólogos do Concílio, foi em nosso Continente, tão injusto, excludente e desigual, que se aliou aos pensadores da libertação, teólogos, sociólogos e outros, diretamente comprometidos com a participação na luta dos empobrecidos e na defesa da igual dignidade humana, seja na sociedade, seja na Igreja.
Libanio paulatinamente encontrou seu lugar ao concretizar com maestria, ao longo de todo o Continente latino-americano, vasta experiência como teólogo, pastoralista, escritor, conferencista, assessor, diretor espiritual, professor e orientador de estudos. Sua obra precisa ser melhor conhecida para ser continuada.
2. Libanio cultivou autêntico amor pelo fazer-ensinar teologia pastoral
Ninguém coloca em dúvida a paixão com que exercia o criativo labor teológico. A teologia cristã alimentava seus horizontes de sentido e dava a ele alegria de viver. O fazer-ensinar teologia, de forma muito especial, nutria sua pessoa de vitalidade e profunda energia espiritual.
Libanio cultivou verdadeiras amizades com seus pares e, singularmente, com seus alunos e orientandos. Era a presteza em pessoa, alguém sempre pronto para ajudar a quem lhe procurava. Conquistou, desse modo, enorme grau de reconhecimento e admiração pelo seu sensível labor teológico. Mostrava-se alguém profundamente realizado profissionalmente com o que se dedicava. Ele se entregava, de tal maneira, ao fazer-ensinar teologia pastoral que este parecia dar a ele muito mais prazer que cansaço.
Seu bom humor, uma de suas marcas mais características, amalgamado a aguda capacidade crítica e para captar e discernir ideologias, tendências e cenários, tornava suas aulas, palestras, assessorias e orientações de estudo leves, agradáveis, instigantes e contagiantes. Exercia verdadeiro fascínio sobre quem o escutava, não tanto por ser um excelente orador, mas por se doar no que fazia. Era visível sua preocupação com o ritmo de cada um, nos processos de crescimento na fé cristã e nas lides iniciais da vida intelectual. Tinha prazer em lançar seus orientandos na práxis pastoral e vê-los galgar degraus. Seus olhos brilhavam, quando percebia que tocava o mistério profundo das pessoas. E quando estas sentiam o desejo de abrir o coração diante de suas provocações, acompanhava a cada uma, com profundo respeito e ternura. Essa preocupação sensível pela singularidade de cada um que lhe procurava era, de fato, contagiante.
3. Libanio amava o fazer-ensinar teologia na Igreja e como Igreja.
Quando mergulhamos em sua produção teológica e contemplamos sua arte de fazer-ensinar o pensar teológico, o que mais se destaca é a profunda preocupação pastoral. Isso significa que a sensibilidade de despertar para o autêntico seguimento de Jesus era sua preocupação maior. Quando Libanio encontrava uma fresta de abertura no coração das pessoas ou um limiar de conversão ou renovação na vida da Igreja, procurava explicitar, fortalecer e cuidar para que o pequeno broto aflorasse e frutificasse verdadeiros processos de transformação.
Libanio conseguiu fazer-ensinar teologia, com profunda liberdade crítica e autocrítica, na Igreja e como Igreja. E isso não é simples. Não era um teólogo do confronto em flanco aberto ou da vanguarda, do lançar-se na abertura de novas fronteiras para a fé cristã. Embora atento e antenado diante dos acontecimentos, ele dedicava-se mais ao cotidiano da caminhada, ao cuidado da explicitação e consolidação dos processos dialéticos de crescimento humano na medida em que eram aflorados pelo caminho. Libanio apostava nos processos pessoais, eclesiais e sociais e sabia como acompanhá-los com reverência e respeito.
Não é simples fazer-ensinar teologia no caminho, ou seja, inserido numa Igreja repleta das ambiguidades humanas, com suas desafiantes contradições. Se parece mais fácil romper com a instituição, Libanio optou por permanecer no seio dos embates internos e externos da vida da Igreja. Com humildade aprendiz, cultivo da paciência histórica e busca de lucidez, Libanio permaneceu fiel, como os Mestre de Nazaré, até o fim. Foi alguém profundamente livre e consciente dos limites e possibilidades postos pela instituição. Mas, sempre atento ao discernimento dos sinais do tempo, ele captava, com grande habilidade, as novidades do Espírito e as tendências trazidas pelas novas gerações e pela diversidade dialética dos cenários. Ele sabia a quem servia: ao dinamismo libertador do Reino de Deus.
À guisa de conclusão
Libanio deixou vasta obra consignada em livros, inúmeros artigos, conferências, palestras, vídeos, aulas e homilias. Para conhecê-la recomendo acessar o site feito em sua homenagem que, de forma primorosa, oferece amplo acesso ao legado libaniano: http://jblibanio.org.br. Mas, o mais precioso e saboroso, não está em suas produções. Encontra-se vivo e atuante, alojado no coração de quem com ele conviveu e aprendeu a dedicar-se à maravilhosa arte de amar e servir.
Edward Neves Monteiro de Barros Guimarães é mestre em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia e professor no Centro Loyola.

No ano do Laicato no Brasil, transcrevemos abaixo a carta do papa Francisco ao presidente da comissão para a América Latina onde o Papa fala sobre os leigos na Igreja.
CARTA DO PAPA FRANCISCO
AO CARDEAL MARC OUELLET,
PRESIDENTE DA PONTIFÍCIA COMISSÃO PARA A AMÉRICA LATINA
A Sua Eminência
o Cardeal Marc Armand Ouellet, P.S.S.
Presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina
Eminência, no final do encontro da Comissão para a América Latina e o Caribe tive a ocasião de me encontrar com todos os participantes na assembleia, durante a qual houve um intercâmbio de ideias e impressões sobre a participação pública do laicato na vida dos nossos povos.
Gostaria de mencionar quanto foi partilhado naquele encontro e prosseguir aqui a reflexão vivida naqueles dias, a fim de que o espírito de discernimento e reflexão «não caia no vazio», para que nos ajude e continue a impelir a servir melhor o Santo Povo fiel de Deus.
É precisamente desta imagem que gostaria de começar a nossa reflexão sobre a atividade pública dos leigos no nosso contexto latino-americano. Evocar o Santo Povo fiel de Deus é evocar o horizonte para o qual somos convidados a olhar e sobre o qual refletir. É para o Santo Povo fiel de Deus que como pastores somos continuamente convidados a olhar, proteger, acompanhar, apoiar e servir. Um pai não se compreende a si mesmo sem os seus filhos. Pode ser um ótimo trabalhador, profissional, marido, amigo, mas o que o torna pai tem um rosto: são os seus filhos. O mesmo acontece a nós, somos pastores. Um pastor não se compreende sem um rebanho, que está chamado a servir. O pastor é pastor de um povo, e o povo deve ser servido a partir de dentro. Muitas vezes vamos à frente abrindo caminho, outras voltamos para que ninguém permaneça atrás, e não poucas vezes estamos no meio para ouvir bem o palpitar do povo.
Olhar para o Santo Povo fiel de Deus e sentirmo-nos parte integrante dele posiciona-nos na vida e, portanto, nos temas que tratamos, de maneira diversa. Isto ajuda-nos a não cair em reflexões que podem, por si só, ser muito úteis, mas que acabam por homologar a vida do nosso povo ou por teorizar de tal modo que a especulação acaba por matar a ação. Olhar continuamente para o Povo de Deus salva-nos de certos nominalismos declarativos (slogan) que são frases bonitas mas não conseguem apoiar a vida das nossas comunidades. Por exemplo, recordo a famosa frase: «Chegou a hora dos leigos» mas parece que o relógio parou.
Olhar para o Povo de Deus é recordar que todos fazemos o nosso ingresso na Igreja como leigos. O primeiro sacramento, que sela para sempre a nossa identidade, e do qual deveríamos ser sempre orgulhosos, é o batismo. Através dele e com a unção do Espírito Santo, (os fiéis) «são consagrados para serem edifício espiritual e sacerdócio santo» (Lumen gentium, 10). A nossa primeira e fundamental consagração afunda as suas raízes no nosso batismo. Ninguém foi batizado sacerdote nem bispo. Batizaram-nos leigos e é o sinal indelével que jamais poderá ser cancelado. Faz-nos bem recordar que a Igreja não é uma elite de sacerdotes, consagrados, bispos mas que todos formamos o Santo Povo fiel de Deus. Esquecermo-nos disto comporta vários riscos e deformações na nossa experiência, quer pessoal quer comunitária, do ministério que a Igreja nos confiou. Somos, como frisou o concílio Vaticano II, o Povo de Deus, cuja identidade é «a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus, em cujos corações o Espírito Santo habita como num templo» (Lumen gentium, 9). O Santo Povo fiel de Deus foi ungido com a graça do Espírito Santo e, portanto, no momento de refletir, pensar, avaliar, discernir, devemos estar muito atentos a esta unção.
Ao mesmo tempo, devo acrescentar outro elemento que considero fruto de um modo errado de viver a eclesiologia proposta pelo Vaticano II. Não podemos refletir sobre o tema do laicato ignorando uma das maiores deformações que a América Latina deve enfrentar — e para a qual peço que dirijais uma atenção particular — o clericalismo. Esta atitude não só anula a personalidade dos cristãos, mas tende também a diminuir e a subestimar a graça batismal que o Espírito Santo pôs no coração do nosso povo. O clericalismo leva a uma homologação do laicato; tratando-o como «mandatário» limita as diversas iniciativas e esforços e, ousaria dizer, as audácias necessárias para poder anunciar a Boa Nova do Evangelho em todos os âmbitos da atividade social e, sobretudo, política. O clericalismo, longe de dar impulso aos diversos contributos e propostas, apaga pouco a pouco o fogo profético do qual a inteira Igreja está chamada a dar testemunho no coração dos seus povos. O clericalismo esquece que a visibilidade e a sacramentalidade da Igreja pertencem a todo o povo de Deus (cf. Lumen gentium, 9-14) e não só a poucos eleitos e iluminados.
Há um fenômeno muito interessante que se produziu na nossa América Latina e que desejo citar aqui: acredito que seja um dos poucos espaços em que o Povo de Deus foi libertado de uma influência do clericalismo: refiro-me à pastoral popular. Foi um dos poucos espaços em que o povo (incluindo os seus pastores) e o Espírito Santo puderam encontrar-se sem o clericalismo que procura controlar e moderar a unção de Deus sobre os seus. Sabemos que a pastoral popular, como escreveu Paulo VI na exortação apostólica Evangelii nuntiandi, «tem sem dúvida as suas limitações. Ela acha-se frequentemente aberta à penetração de muitas deformações da religião», mas, prossegue, «se for bem orientada, sobretudo mediante uma pedagogia da evangelização, ela é algo rico de valores. Assim ela traduz em si uma certa sede de Deus, que somente os pobres e os simples podem experimentar; ela torna as pessoas capazes para terem rasgos de generosidade e predispõe-nas para o sacrifício até ao heroísmo, quando se trata de manifestar a fé; ela comporta um apurado sentido dos atributos profundos de Deus: a paternidade, a providência, a presença amorosa e constante, etc. Ela, depois, suscita atitudes interiores que raramente se observam alhures no mesmo grau: paciência, sentido da cruz na vida cotidiana, desapego, aceitação dos outros, dedicação, devoção, etc. Em virtude destes aspectos, nós chamamos-lhe de bom grado “piedade popular”, no sentido de religião do povo, em vez de religiosidade... Bem orientada, esta religiosidade popular, pode vir a ser cada vez mais, para as nossas massas populares, um verdadeiro encontro com Deus em Jesus Cristo» (n. 48). O Papa Paulo VI usa uma expressão que considero fundamental, a fé do nosso povo, as suas orientações, buscas, desejos, anseios, quando as conseguimos escutar e orientar, acabam por nos manifestar uma presença genuína do Espírito. Confiemos no nosso Povo, na sua memória e no seu «olfato», confiemos que o Espírito Santo aja em e com ele, e que este Espírito não é só «propriedade» da hierarquia eclesial.
Citei este exemplo da pastoral popular como chave hermenêutica que nos pode ajudar a compreender melhor a ação que se gera quando o Santo Povo fiel de Deus reza e age. Uma ação que não permanece vinculada à esfera íntima da pessoa mas que, ao contrário, se transforma em cultura; «uma cultura popular evangelizada contém valores de fé e solidariedade que podem provocar o desenvolvimento duma sociedade mais justa e crente, e possui uma sabedoria peculiar que devemos saber reconhecer com olhar agradecido» (Evangelii Gaudium, 68).
Por conseguinte, podemos perguntar-nos: o que significa o fato que os leigos estejam a trabalhar na vida pública?
Hoje muitas nossas cidades tornaram-se verdadeiros lugares de sobrevivência. Lugares nos quais parece que se instalou a cultura do descartável, que deixa pouco espaço à esperança. Nelas encontramos os nossos irmãos, imersos nestas lutas, com as suas famílias, que procuram não só sobreviver mas que, no meio de contradições e injustiças, buscam o Senhor e desejam dar-lhe testemunho. O que significa para nós, pastores, o facto de que os leigos trabalhem na vida pública? Significa procurar o modo para poder encorajar, acompanhar e estimular todas as tentativas e esforços que atualmente já se fazem para manter viva a esperança e a fé num mundo cheio de contradições, especialmente para os mais pobres, especialmente com os mais pobres. Significa, como pastores, comprometermo-nos no meio do nosso povo e, com o nosso povo, apoiar a fé e a sua esperança. Abrindo portas, trabalhando com ele, sonhando com ele, refletindo e, sobretudo, rezando com ele. «Precisamos de reconhecer a cidade» — e, portanto, todos os espaços onde se realiza a vida do nosso povo — «a partir dum olhar contemplativo, isto é, um olhar de fé que descubra Deus que habita nas suas casas, nas suas ruas, nas suas praças... Ele vive entre os citadinos promovendo a solidariedade, a fraternidade, o desejo de bem, de verdade, de justiça. Esta presença não precisa de ser criada, mas descoberta, desvendada. Deus não Se esconde de quantos O buscam com coração sincero» (Evangelii gaudium, 71). Não é o pastor que deve dizer ao leigo o que fazer e dizer, ele sabe tanto e melhor que nós. Não é o pastor que deve estabelecer o que os fiéis devem dizer nos diversos âmbitos. Como pastores, unidos ao nosso povo, faz-nos bem perguntarmo-nos como estamos a estimular e a promover a caridade e a fraternidade, o desejo do bem, da verdade e da justiça. Como podemos fazer para que a corrupção não se aninhe nos nossos corações.
Muitas vezes caímos na tentação de pensar que o leigo comprometido é aquele que trabalha nas obras da Igreja e/ou nas realidades da paróquia ou da diocese, e refletimos pouco sobre o modo como acompanhar um batizado na sua vida pública e quotidiana; sobre como, na sua atividade diária, com as responsabilidades que tem, se compromete como cristão na vida pública. Sem nos darmos conta disso, geramos uma elite laical acreditando que só são leigos comprometidos os que trabalham nas realidades «dos sacerdotes», e esquecemos, descuidando-o, o crente que muitas vezes queima a sua esperança na luta cotiadiana para viver a fé. São estas as situações que o clericalismo não pode ver, porque está mais preocupado em dominar espaços do que em gerar processos. Portanto, devemos reconhecer que o leigo para a sua realidade, a sua identidade, por estar imerso no coração da vida social, pública e política, por ser partícipe de formas culturais que se geram constantemente, precisa de novas formas de organização e de celebração da fé. Os ritmos atuais são muito diversos (não digo melhores nem piores) dos que vivíamos há trinta anos! «Isto requer imaginar espaços de oração e de comunhão com características inovadoras, mais atraentes e significativas para as populações urbanas» (Evangelii gaudium, 73). É ilógico e até impossível, pensar que como pastores deveríamos ter um monopólio das soluções para os múltiplos desafios que a vida contemporânea nos apresenta. Pelo contrário, devemos estar do lado do nosso povo, acompanhando-o nas suas buscas e estimulando a imaginação capaz de responder à problemática atual. Discernindo com o nosso povo e nunca para o nosso povo nem sem o nosso povo. Como diria santo Inácio, «segundo as necessidades de lugares, tempos e pessoas». Isto é, não uniformizando. Não se podem dar diretrizes gerais para organizar o povo de Deus no âmbito da sua vida pública. A inculturação é um processo que nós pastores somos chamados a estimular, encorajando o povo a viver a própria fé onde está e com quem está. A inculturação é aprender a descobrir como uma determinada porção do povo de hoje, no aqui e agora da história, vive, celebra e anuncia a própria fé. Com uma identidade particular e com base nos problemas que deve enfrentar, assim como com todos os motivos que tem para se alegrar. A inculturação é um trabalho artesanal e não uma fábrica para a produção em série de processos que se dedicariam a «fabricar mundos ou espaços cristãos».
No nosso povo é-nos solicitado que conservemos duas memórias. A de Jesus Cristo e a dos nossos antepassados. Recebemos a fé, ela foi um dom que nos veio em muitos casos pelas mãos das nossas mães, das nossas avós. Elas foram a memória viva de Jesus Cristo dentro das nossas casas. Foi no silêncio da vida familiar que a maior parte de nós aprendeu a rezar, a amar, a viver a fé. Foi na vida familiar que depois assumiu a forma de paróquia, de escola e de comunidade, que a fé entrou na nossa vida e se fez carne. Foi esta fé simples que nos acompanhou muitas vezes nas diversas vicissitudes do caminho. Perder a memória significa erradicar-nos do lugar de onde viemos e por conseguinte, não saber nem para onde ir. Isto é fundamental, quando erradicamos um leigo da sua fé, daquela das suas origens; quando o erradicamos do Santo Povo fiel de Deus, erradicamo-lo da sua identidade batismal e assim privamo-lo da graça do Espírito Santo. O mesmo acontece conosco quando nos erradicamos como pastores do nosso povo, perdemo-nos. O nosso papel, a nossa alegria, a alegria do pastor, consiste precisamente em ajudar e estimular, como fizeram muitos antes de nós — mães, avós e sacerdotes — verdadeiros protagonistas da história. Não por uma nossa concessão de boa vontade mas por direito e estatuto próprio. Os leigos são parte do Santo Povo fiel de Deus e, portanto, os protagonistas da Igreja e do mundo; somos chamados a servi-los, não a servir-nos deles.
Na minha recente viagem em terra mexicana tive a ocasião de estar a sós com a Mãe, deixando-me olhar por ela. Naquele espaço de oração, pude apresentar-lhe também o meu coração de filho. Naquele momento estivestes presentes também vós com as vossas comunidades. Naquele momento de oração, pedi a Maria que não deixasse de apoiar, como fez com a primeira comunidade, a fé do nosso povo. Que a Virgem Santa interceda por vós, vos proteja e acompanhe sempre!
Vaticano, 19 de março de 2016
FRANCISCUS

O desafio de ser "de Deus" no meio "do mundo": A oração e o acompanhamento espiritual
Hoje, não menos que ontem, o cristão – seja ele clérigo, religioso ou leigo – é chamado a viver a sua fé em Deus, e o seguimento de Jesus Cristo que ela inclui. sempre mais no meio do mundo. Mundo este que não é o mundo idílico, perfeito, completo e reconciliado que parecem descrever muitos dos modernos discursos. Pensamos, em particular, nos marcados pelo otimismo dos progressos e conquistas da modernidade, assim como nos que se encontram atravessados de lado a lado pela interpelação legítima, mas nem sempre objetiva, da questão ecológica. A inserção nas realidades temporais ou terrestres é específica para cada um e todos os batizados, podendo acontecer sob variadas formas mais ligadas a carismas pessoais.
No entanto, é no meio deste mundo que o cristão – leigo, religioso ou sacerdote – é chamado a viver o que se chama "experiência de Deus", a descobrir o fato grande e ao mesmo tempo tão simples de que Deus é um Deus que se revela e, mais do que isso, que se deixa experimentar. E essa experiência não é unilateral (o homem experimenta Deus), mas tem duas vertentes e duas vias (Deus mesmo deixa-se experimentar pelo homem que o busca e o experimenta).
Assim, ao mesmo tempo que propicia ao homem o gosto e o sabor da sua vida divina, Deus entra pela realidade humana, mortal e contingente, através da encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. (...) A esta experiência de Deus, fruto do dom pleno e radical do mesmo Deus, só pode suceder, por parte do cristão, a oblação total e radical da vida, único e mais precioso bem, em culto espiritual agradável a Deus. À entrega divina total só pode corresponder uma resposta e uma entrega igualmente totais por parte do ser humano. Quanto a esta exigência, não existe distinção de categorias, segmentos ou níveis de pertença dentro do povo de Deus. Oferecer-se inteira e totalmente, «oferecer o seu corpo como hóstia viva, santa, imaculada e agradável a Deus» (cf. Rm 12,1), é o culto espiritual de todo e qualquer cristão, seja ele quem for e qualquer que seja a sua pertença a um segmento da organização eclesial.
Há que ver, no entanto, como esse desejo e essa entrega feita de totalidade se configurarão na vida de cada um. Segundo o género de vida ou espaço onde está situado, o cristão deverá viver a oblação da sua vida com ênfases, destaques e tendências diferentes. No entanto, há alguns elementos comuns que estarão sempre presentes, desde que a espiritualidade vivida seja a cristã.
A oração
Não há espiritualidade cristã possível sem uma vida densa e intensa de oração. Por trás dos "slogans" – «Tudo é oração», «A oração que nos tira do trabalho e leva para uma casa de retiro corre o risco de transformar-se em alienação», «A oração é importante para a luta ser mais eficaz» e outros – esconde-se uma mal disfarçada superficialidade que banaliza o chamamento de Deus e a experiência dos grandes santos.
Esses, sim, fizeram da vida inteira uma oração. Porém, aí, aportaram já na sua maturidade, após lutarem e sofrerem esperas, demoras, noites escuras e outras provas espirituais, buscando o encontro com o Senhor na oração explícita e gratuita, gozosa, sim, mas não menos laboriosa e padecida, sem imediatismos nem utilitarismos.
Sem esse tempo «perdido» diante do Senhor, buscando conhecê-lo como se é conhecido, abrindo-se e entregando-se ao seu mistério incompreensível e "imanipulável", que não é diferente do seu amor que aquece o coração e consola o espírito; sem outro desejo mais imediato que não seja o de o louvar e extasiar-se diante da beleza e da maravilha da sua criação e da doação suprema da sua redenção que se tornam santificação operada pelo Espírito, não há condições de haver qualquer tipo de espiritualidade, e muito menos a cristã. E isto para ninguém, não apenas para o leigo.
E, neste particular, como noutras áreas, há um importante elemento de ajuda que não pode deixar de estar presente: a direção ou acompanhamento espiritual.
A direção espiritual: neste sentido, o documento de Santo Domingo [IV Conferência Geral do Episcopado Latino-americano, outubro de 1992] emite uma sábia observação, no número 42, ao dizer: «É notória a perda da prática da “direção espiritual”, que seria muito necessária para a formação dos leigos mais comprometidos…». Infelizmente, nos tempos mais recentes, esta é uma triste verdade. Enquanto em épocas mais antigas, a presença de alguém «mais velho» ou mais experiente, que acompanhava, qual pedagogo paciente, os avanços e recuos do cristão nos caminhos da oração e da vida do Espírito, que sofre com as provações e se alegra com as consolações, era parte integrante da caminhada de fé, hoje, isto torna-se uma realidade cada vez mais rara.
A assim chamada – própria ou impropriamente, pouco importa – direção espiritual foi substituída pelas partilhas comunitárias, pelas revisões de vida e outras formas de compartilhar o coletivo. Porém, cada vez mais se constata que o diálogo a dois é insubstituível, para que o cristão possa abrir o seu coração, na confiança e no desejo de crescer nos caminhos do Senhor, narrando a história de Deus na sua vida. Isso feito com alguém discreto que, mistagogo experimentado, ajude a superar obstáculos e a desfazer nós; alguém que, teógrafo refinado, auxilie a decifrar a escrita divina gravada «não com tinta, mas com o Espírito Santo nos corações» (cf. 2Cor 3,3); alguém que, diácono humilde, saiba não se interpor entre a pessoa e Deus, mas alegrar-se como o amigo do Esposo ao ouvir a voz deste (cf. Jo 2,29-30), e retirar-se quando «o Criador está agindo diretamente com a criatura e a criatura com o seu Criador e Senhor».
A antropologia subjacente ao exercício da direção espiritual é uma antropologia intersubjetiva, que coloca a experiência de Deus no terreno das mediações humanas. O diálogo com o outro ou outra – no caso, do diretor ou orientador espiritual – garante a dimensão comunitária e social tão característica da experiência espiritual cristã. Abrindo ao outro os caminhos da Palavra de Deus e da vida eclesial, e ajudando-o a interpretar os seus desejos e impulsos, medos e fugas, o orientador desempenha na Igreja um verdadeiro serviço, um importante (embora humilde e discreto) ministério. O crescimento de uma espiritualidade cristã total e não setorial poderá certamente, com a ajuda de Deus, permitir que este ministério seja cada mais desempenhado por leigos/leigas. Já há sinais animadores neste sentido na Igreja, em todo o mundo.
A oração assim vivida e guiada será, então, verdadeiro discipulado, já que coloca o orante na escuta de Deus e da sua vontade, e se transforma em verdadeira aprendizagem do seguimento e serviço do Senhor no meio do mundo, onde tantas diferentes solicitações, provenientes nem sempre do mesmo Espírito, se cruzam e muitas vezes dividem, confundem, enganam.
Já desde o Novo Testamento aparece claro que, para o cristão, qualquer que seja a situação em que se encontre, é necessário certo desprendimento e indiferença em relação às coisas, no sentido de que nada é absoluto ou indispensável. Tudo é meio e, portanto, relativo para atingir o fim que se pretende, que é sempre a maior glória de Deus. Realizar isso na própria vida, no entanto, não se faz sem tensões e conflitos.
Embora a Bíblia seja pródiga em valorizações daquilo que é histórico, real, concreto, palpável e humano, o que mais fica patente na sua mensagem é uma tensão sempre presente e sensível entre o absoluto escatológico e o pleno compromisso nas tarefas do mundo.
E a grande pergunta do discípulo, daquele que quer seguir Jesus Cristo e viver segundo o seu Espírito, continua a ser, hoje, como sempre: «Como estar no mundo sem ser do mundo?»; «como usar das coisas do mundo como se delas não fizesse uso?». Como seguir Jesus tal como Ele exige ser seguido, com todas as radicais exigências que coloca aos seus discípulos, e, ao mesmo tempo, viver humanamente a vida desta terra?
Trata-se, afinal, de usar do mundo ou de transformá-lo? Fugir dele ou construí-lo? É inevitável que, olhando para os últimos cinquenta anos, a pergunta se coloque: a busca apaixonada pela libertação e a transformação da realidade implicou uma diminuição ou mesmo um resfriamento da vida de oração, da liturgia, do culto, do louvor propriamente dito? E, se isso aconteceu, foram os leigos os mais afetados por este estado de coisas, militantes atirados na voragem de um ativismo sem quartel, perdendo nesse processo referencial eclesial, litúrgico, comunitário, etc.?
Ora, já desde os tempos neotestamentários, o cristão é uma pessoa que vive, como o cavaleiro, entre tempo e eternidade; ou melhor, é alguém que experimenta, na sua carne e na sua vida, a eternidade que atravessa o tempo histórico e, por dentro, trabalha-o e configura-o. É ele, portanto, um «vivente escatológico », ao mesmo tempo cidadão de um futuro absoluto e da cidade celeste, e, por isso, estrangeiro neste mundo, no qual sempre se encontra como que exilado e «fora» de lugar. E, no entanto, experimenta assim o belo paradoxo de que esta terra, que não é a sua pátria definitiva, lhe é dada por Deus como dom e missão: como domínio a gerir, como obra a acabar, como plenitude a consumar. (...)
O batizado é chamado a oferecer constantemente o sacrifício espiritual da vida consagrada a Deus, não se conformando com este mundo, mas discernindo nele o que é melhor, o que é perfeito, o que é de Deus (cf. Rm 12,1-2). O cristão leigo, cristão «sem adjetivos nem acréscimos», que por muito tempo foi definido como aquele que não celebra o sacrifício ritual, é, no entanto, protagonista indiscutível deste sacrifício existencial que consiste na oblação da própria vida a Deus para o serviço do mundo e dos irmãos.
A espiritualidade que cabe, portanto – hoje mais que nunca –, a todo cristão é uma espiritualidade de discernimento, ou seja, de busca da vontade de Deus no horizonte do seu plano de amor. Nessa busca, cada um e cada uma vai encontrar-se com as tentações e as ilusões próprias das situações diferentes e variadas em que se vir colocado. Mas a todos, leigos, religiosos ou clérigos, será pedido que vislumbre e sinta, através de toda a floresta de diferentes «espíritos» que sopram, convidam e solicitam em todas as direções o sopro do verdadeiro Espírito divino, Espírito Santo único que santifica e conduz ao seguimento de Jesus Cristo e à vontade do Pai, desmascarando o mundo e as suas falácias e mostrando a verdadeira face do verdadeiro Deus.
Em decorrência disso, todo o cristão está comprometido na missão da Igreja, forma histórica da vontade de salvação de Deus: como testemunha da fé e da caridade de Cristo e, portanto, como enviado em missão apostólica, fazendo brilhar, no meio do mundo, Deus e o Evangelho. Todo o batizado é enviado e carrega consigo, seja qual for a sua situação ou estatuto canónico, a responsabilidade da Boa-Nova de Jesus. A vida de qualquer cristão é levada a testemunhar que, a partir de Jesus Cristo, só é profano o que é profanado pelo pecado e tudo pode ser consagrado porque o Espírito santifica o uso que das coisas se faz.
Enviado no meio do mundo, impulsionado pela força do Espírito, o cristão vive a sua própria identidade, não dividida em termos de contraposições como "clero" vs. "laicato", mas na chave de uma antropologia comunitária e, por conseguinte, eclesial e trinitária. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade do eu em comunhão, portanto, do nós opondo-se assim a todos os individualismos e isolamentos. Ser «pneumatóforo» (portador do Espírito), portanto, significa para o cristão ser ao mesmo tempo «eclesiofânico» (manifestador da Igreja) e, mais ainda, «teomorfo» (que tem a forma de Deus) e «teóforo» (portador de Deus), irradiando no meio do mundo a semelhança entre o seu próprio ser (pessoa-Igreja) e o Deus-Trindade.
Sendo a Igreja, no dizer da teologia oriental, «a humanidade em vias de “trinitarização”, e o universo em vias de transfiguração», a eclesiologia é inseparável dos mistérios que estão no coração da revelação cristã e, portanto, inseparável da espiritualidade cristã em si mesma. A espiritualidade cristã é para ser vivida nessa comunidade chamada Igreja, onde os diferentes carismas e ministérios, suscitados pelo mesmo Espírito, não se opõem ou contrapõem entre si; mas, ao contrário, se complementam na liberdade, tendendo todos, juntos e cada um com a sua originalidade própria, para aquele que é o fim último do projeto cristão: a santidade.
Maria Clara Bingemer
In "Ser cristão hoje", ed. Ave Maria
Leia Mais:
O cristianismo e o sentido da vida
O conceito de espiritualidade dentro da Igreja teve quase sempre contornos monacais. O monge – como aquele que se retirava do «golfo do século», «especialista do espírito», – detinha-lhe o monopólio. A modernidade e as reforma das ordens religiosas introduziram algumas modificações neste conceito, sobretudo no que diz respeito à proposta espiritual da Companhia de Jesus, no século XVI, feita de uma síntese entre contemplação e ação, unindo a comunhão mais profunda com o mistério às atividades realizadas no meio da vida corrente.
No entanto, em relação aos assim chamados leigos, a questão permanece: pode-se legitimamente falar de uma espiritualidade leiga ou laical? Seria essa uma espiritualidade vivida por leigos ou uma maneira leiga de viver a espiritualidade? Ou, pelo contrário, deve-se simplesmente falar de uma espiritualidade cristã, sem mais distinções, deixando à liberdade do Espírito Santo, que sopra onde quer, o cuidado e a criatividade de ir colocando suas inscrições como melhor lhe pareça nas tábuas de carne que são os corações humanos?
Por outro lado, onde a luta pela justiça e o compromisso sociopolítico ocupam lugar de central importância na vida cristã e nas preocupações eclesiais, essa questão cresce e se complexifica ainda mais. A Igreja vê com doloroso pesar muitos de seus mais dedicados militantes afastarem-se das suas comunidades e abandonarem a caminhada eclesial, a partir do momento em que ingressam de corpo e alma na militância sindical ou na luta partidária. Muitos desses cristãos, sempre mais reclamados pela atividade política, deixam de ter tempo ou de ver como prioridade a reflexão em torno da Palavra de Deus, a celebração litúrgica, a oração. Carregando sobre os ombros o peso do compromisso e o desafio da eficácia, esses leigos militantes parecem ter desaprendido a gratuidade da relação pessoal e amorosa com Deus, e por isso se angustiam, sentindo-se ameaçados e mesmo devorados por uma práxis que vê aos poucos esvair-se a sua motivação mais transcendente.
Evidentemente, não temos nem pretendemos ter a resposta e a solução para um problema tão complexo e delicado como este. Não impede, porém, que a questão se coloque e seja mordaz. Porque, se bem que de um lado seja verdade que, sem a experiência do transcendente e da relação imediata com Deus em Jesus Cristo, o facto cristão se reduz a mais uma curta e empobrecedora ideologia, por outra parte, sem compromisso social e político a todos os níveis, a espiritualidade corre o risco de transformar-se na anestesia que os críticos da religião denunciaram como o «ópio do povo».
A espiritualidade de qualquer cristão – leigo ou não – deve ser algo profundamente integrador. Algo que não o aliene de nenhuma dimensão de seu ser humano, mas ao mesmo tempo não o manipule na direção de nenhuma determinada ideologia. Deve ser algo que – na aceção mais profunda da palavra – liberta para servir melhor e mais concretamente aos outros, para assumir mais plenamente a sua realidade quotidiana e ali encontrar e viver o desafio da santidade.
No que toca aos leigos, porém, existe um problema a mais: o fato de o cristão leigo ter desaprendido a acreditar na sua vocação à santidade. Não obstante todas as reiteradas afirmações da "Lumen gentium" [Concílio Vaticano II] de que a vocação à santidade é universal e comum a todo Povo de Deus; de que o chamamento à perfeição – e, portanto, a exigência de vivência profunda do Espírito – não se restringe às pessoas que optaram pelo estado de vida sacerdotal e religioso, o leigo em geral – com algumas e honrosas exceções – habituou-se a pensar e crer que isto não era para ele. Por muito comprometido que fosse, não se atrevia a crer na possibilidade de «ser santo como Deus é Santo» (cf. Levítico 11,44; 1 Pedro 1,16). Isto estava reservado àqueles e àquelas chamados à especial vocação que os retirava das preocupações do comum dos mortais e podiam dedicar-se em tempo integral às coisas do Espírito.
Sem querer ignorar o fato de que há diferentes carismas na Igreja, de que as vocações diferem entre si e que isto constitui a riqueza do Povo de Deus, parece-nos que mais uma vez, aí, a dicotomia "sagrado x profano"desempenhou um importante e nefasto papel. E para que o leigo reencontre o caminho da vida no Espírito será preciso – urgentemente – superá-la. Pretender confinar a plenitude de vida no Espírito, o gozo inefável da experiência imediata, direta, inebriante de Deus a um só grupo dentro da Igreja equivale – a nosso ver – a aprisionar e manipular esse mesmo Espírito Santo, que sopra onde e como quer. Todo o cristão que – incorporado pelo seu Batismo ao mistério da morte e ressurreição de Jesus – é chamado a seguir de perto esse mesmo Jesus, é um santo em potência, uma pessoa «espiritual» porque penetrada do Espírito em todas as dimensões da sua corporeidade, da sua mente, da sua vida enfim, como Jesus o foi.
E o campo onde essa vida no Espírito pode dar-se não é outro senão o mundo, a história, com os seus conflitos e contradições, com os seus apelos e exigências, com as suas maravilhas e injustiças, com as suas promessas e frustrações. A opacidade e o jogo de luz e sombras de que é feita a história humana passa a ser para todo aquele ou aquela que caminha segundo o Espírito no seguimento de Jesus, buscando fazer a vontade do Pai, uma permanente epifania, uma constante redescoberta de que tudo – a dor e a alegria, a angústia e a esperança –, tudo é de graça. E que, portanto, tudo também só pode ser ação de graças, Eucaristia.
Assim, a espiritualidade cristã já não estaria reduzida a ser o privilégio de uns poucos eleitos, mas uma exigência de vida de todo batizado, de todo o Povo de Deus, que ao mesmo tempo que cresce na comunhão íntima com o Senhor, avança também na luta por uma sociedade e um mundo mais justos e mais fraternos. Uma espiritualidade assim deveria redescobrir constantemente as suas fontes bíblicas, eclesiais e sacramentais. E também – porque não? – as suas fontes «leigas»: aquilo que o Espírito sopra no deslumbramento apaixonado dos namorados, nas brincadeiras das crianças, na vida dura da fábrica, no idealismo e nas nuvens de giz das salas de aula, no sonho dos artistas e na boca dos poetas, no canto dos cantores que cantam a vida, a morte e o amor. Redescobrir – também e sobretudo – as maravilhas que o Espírito faz no meio dos pobres, na sua sede inesgotável de oração e na criativa espontaneidade com que vivem os seus momentos litúrgicos mais fortes, nas suas festas e romarias, nos seus santuários e procissões, na sua imensa devoção aos mistérios da vida, paixão e morte do Senhor, ao Santíssimo Sacramento e tantos outros. Na pista aberta em busca da espiritualidade «perdida», todo o Povo de Deus é chamado a ter mais uma vez, «nos pobres seus mestres, nos humildes seus doutores».
Maria Clara Bingemer

Pode ficar com tudo, eu não me queixo. A casa é sua. Tanta coisa que tem aqui para levar. Deixo os armários já meio abertos que é para facilitar o assalto, as gavetas também, com seus farelos de anos embolados. Tudo seu. Cem mil horas de desejos queimados, roteiros malucos de vida, mapas de ruas mal visitadas, botas para neve, janelas para o mar, velhos poemas. Fique com eles, noite minha, faça-os desaparecer como debaixo de uma enorme pálpebra sonolenta, eu não me queixo. Todos os diários de imagens, todas as palavras-chaves, todos os cadernos com notas de viagens subaquáticas são seus. Os livros, ai que pena, ai que grande pena que se percam, mas vá lá, se for o caso, leve-os também, como já o tem feito, página a página, que eu sei. E eu não a conheço, noite minha? Ao menos um bom tanto já, não a conheço? Por isso o meu respeito, o meu pacto de cordialidade. Venha, fique à vontade. Como diz quem é gentil feito o diabo: tenho-lhe estima, tenho-lhe apreço. Mas uma mãe também tem presas fortes. Uma mãe tem presas fortes e reluzentes, noite minha. Por isso nem pense em tocar nas mãos dessa criança que tem as palmas abertas para o dia, cintilando como dois girassóis. Nem ouse descer sobre esse pedaço dourado de bosque por onde ela corre à cata de gravetos e pedrinhas. Passe longe do balanço que embala o arrepio dessa menina, longe da nossa bicicleta, longe da nossa praça de fim de tarde com cata-vento e da praia onde ainda não empinamos nossa pipa, mas havemos de. Tudo antes dessa infância eu lhe entrego de bom grado, esquecimento. Porém, para cada dia depois dela, declaro entre nós, sem concessão e sem repouso, uma luta de garras e dentes.
Mariana Ianelli
In: RUBEM 30.12.2017

Quando chega o Natal há uma insistência contumaz em temas de concórdia, paz, consenso e solidariedade. Natal não é momento de conflito e dissenso. Há que buscar, outrossim, caminhos de concórdia, superando as desavenças familiares, eclesiais, políticas ou que tais.
No entanto, no imaginário sobretudo infantil, mas não menos no adulto, a concepção do Natal repousa hoje sobre um conflito dificilmente reconciliável: Papai Noel ou o Menino Jesus? Enquanto muitos de minha geração ouviam falar de Papai Noel, montavam a árvore, mas tinham o foco da festa sobre o presépio e o Menino recém-nascido, hoje estes são senão ignorados pelo menos obscurecidos pelos presentes sob a árvore. E sobretudo pelo Papai Noel que vem em meio a 40 graus de temperatura, em pleno verão, vestido para o mais rigoroso inverno do hemisfério norte.
Nem mesmo o senso do ridículo de um velho de barbas brancas vestido de roupas quentíssimas em meio ao calor desperta o já intumescido senso crítico de adultos e pequenos, que adejam em torno de símbolos natalinos totalmente estranhos ao trópico, ávidos pela troca de presentes, que se tornou o momento álgido da festa. Comer e gastar: infelizmente esse é o lema em que se transformou o Natal, sob a batuta do bom velhinho que vai aos shoppings e tira fotos com as criancinhas no colo. E isso nos revela tristemente que estamos rapidamente involuindo para um neo paganismo. Expulsam-se as tradições religiosas e culturais que fizeram nossa civilização, para dar lugar a seres lendários e mágicos que possam povoar nosso imaginário de magia e crenças supersticiosas em maior ou menor grau.
Quem é Papai Noel. Trata-se de figura lendária cuja existência encontra sua origem em contos hagiográficos tendo ao fundo a figura histórica de São Nicolau. Varia e tem simulacros em outras latitudes, como na Grécia, onde em 1 de janeiro, celebra-se Basílio de Cesareia, respeitável padre da Igreja, responsável pela teologia do Espírito Santo no Credo Niceno-Constantinopolitano e que jamais deve ter imaginado que iriam associar seu nome à troca de presentes na festa natalina. Já na Espanha e nos países de língua espanhola em geral, o dia dos presentes é 6 de janeiro, quando são celebrados os Reis Magos. A data tenta preservar a conexão com o Cristianismo, já que os três sábios do Oriente levaram ao Menino presentes carregados de simbolismo: ouro, a realeza; incenso, a divindade; mirra, a humanidade.
Miméticos que somos dos estadunidenses e nórdicos, ficamos com o Papai Noel da neve, do Norte, que teve sua imagem associada à Coca Cola e a todas as marcas comerciais possíveis e imagináveis. Fazemos neves de algodão, rodeamos o velhinho de renas (animal inexistente em nossas paragens) e caímos de boca nos presentes, fazendo listas e percorrendo-as de alto a baixo. Até de São Nicolau, responsável pela origem do Papai Noel nos afastamos, uma vez que este era arcebispo de Mira, na Turquia, e viveu no século IV. Destacou-se pela caridade, ajudando anonimamente os pobres, distribuindo moedas de ouro pelas chaminés das casas. Sua transformação em símbolo natalino ocorreu na Alemanha e a partir daí correu mundo.
São Nicolau, com seus trajes de bispo foi substituído pelo velhinho de roupa vermelha e botas. Mora numa terra de neve eterna, ou em sua casa no Polo Norte. E tem até uma esposa, Mamãe Noel, que não tem tanta popularidade entre nós. O que tem, sim, popularidade nos trópicos é seu séquito de renas voadoras, que trazem num trenó os brinquedos para depositá-los nas chaminés, e os elfos mágicos que os fabricam, todos vindo ao encontro dos desejos daqueles que têm poder aquisitivo, inundando as casas e as festas natalinas. As crianças fazem listas e cartas ao velhinho, pedindo os presentes, e os pais se servem disso para fazê-los se comportar bem.
Mas esse bom comportamento é quase impossível, já que não há ceia de Natal que possa fluir em conversação agradável e afetuosa com os pequenos indóceis e rondando a árvore, gemendo e gritando de ansiedade por seus presentes, olhando ávidos os misteriosos embrulhos que ali faíscam como pepitas de ouro. Há que proceder a distribuição, dizendo que foram trazidos por Papai Noel, para ver se eles se acalmam, embora ao fim da noite já estejam entediados do que lhes coube e comecem a brigar pelo presente do irmão ou do primo.
Ninguém ou muito poucos se recordam daquele que é ou devia ser o centro da festa: a criança divina que se fez carne e nos trouxe a salvação. Ninguém olha para ela, tão quietinha e humilde na manjedoura ao lado de seus pais, Maria e José, jovens e honrados israelitas, obrigados a obedecer as absurdas leis do ocupante romano. Lembro-me quando no colégio, ainda pequena, íamos à missa do Galo. E uma de nós era sorteada para carregar o Menino Jesus e depositá-lo no presépio. Nunca em toda a minha vida, em alguns momentos de vitória profissional, de alegria celebrativa ou de reconhecimento acadêmico, lembro-me de haver-me sentido tão honrada, tão privilegiada como naquela ocasião em que carreguei com imenso cuidado a imagem rosada do Menino com os braços abertos até o altar.
Havia peças de teatro que encenávamos nós mesmos sobre o Evangelho do Nascimento de Jesus. Já fui rei, já fui pastora, já fui Maria nessas ocasiões. De todas as vezes sentia fundo a narrativa que ao longo de mais de vinte séculos vem inspirando e resgatando o gênero humano da banalidade assassina do biológico des-animado (sem alma) e do consumismo desenfreado.
Tudo isso parece que vai se esvaindo, esfumando na noite dos tempos. Não totalmente, graças a Deus. Por isso é urgente resgatar essa memória que não se pode perder. As futuras gerações necessitam de esperança e Papai Noel não pode dar-lhes isso. Necessitam crer em Deus e não numa figura lendária, que é como um anão da Branca de Neve mais alto. E de São Nicolau ficar com a parte importante: a caridade que ele fazia com os pobres, deixando para as mesmas peças de ouro na chaminé.
O Deus de Israel em quem cremos como o Pai amoroso de Jesus de Nazaré não se identifica nem com fenômenos da natureza, ou com ciclos de fertilidade ou menos ainda com figuras de lendas. As lendas são o que são: podem interessar o senso estético, mas não podem provocar e convocar a fé. No Natal, o gesto mais inaudito de Deus desencadeia no mundo o fato cristão: a Encarnação, Deus que se faz carne, um de nós igual em tudo menos no pecado. O Infinito no finito, o Absoluto no relativo, o Rico na pobreza e no despojamento.
Se esse mistério for banido de nossas vidas, se o Menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura for definitivamente substituído pelo velhinho de vermelho em seu trenó de renas voadoras, não teremos nos tornado menos religiosos ou menos crentes. Mas sim, infelizmente, menos humanos.
Que Deus não permita que isso nos aconteça. E que venha o Natal, com muito menino Jesus e pouco Papai Noel, como diz meu querido amigo Frei Betto. Que o mistério de Belém não perca o poder de encantar-nos e, sobretudo, a capacidade de voltar nosso olhar para os pobres e necessitados.
FELIZ NATAL!

O silêncio é o espaço onde pode nascer em nós alguma coisa de novo. É por isso que o Advento é chamado o tempo do silêncio. A liturgia indica-nos que a palavra divina desce sobre a terra quando o silêncio mais profundo envolve o universo, quando tudo no mundo faz silêncio.
Os humanos têm a nostalgia do descanso e do silêncio. Mas quando tudo faz silêncio em volta deles, muitos são tomados pelo pânico. Temem ser confrontados com a sua própria verdade ou descobrir que a sua existência passa a toda a velocidade fora deles mesmos e que a sua vida está entorpecida e é monótona.
Encontramos este silêncio objetivo na natureza ou numa igreja vazia. O inverno é mais silencioso que o verão. É assim que o percebemos. Podemos expor-nos a esse silêncio objetivo. Mas depende de nós penetrar nesse espaço de silêncio ou fugir dele porque nos angustia.
Eis um excelente exercício para o tempo do Advento: simplesmente expormo-nos ao silêncio ambiente. Em nós mesmos o silêncio não se vai fazer depressa. Emerge uma grande quantidade de pensamentos, sentimentos e reflexões. Acolhamo-las e contemplemo-las. E depois despedimo-nos de tudo para nos expormos verdadeiramente ao silêncio.
Há um segundo exercício para o qual os monges do passado nos convidam. Dizem eles: em nós mesmos já se encontra um espaço de silêncio. É o espaço onde se situa em nós o Reino de Deus, o espaço onde Deus nasce em nós. Exponho-me a esse espaço e, por assim dizer, atravesso todos os sentimentos de desprazer, de angústia, de ciúme, de tristeza, de inveja, e percorro todos os sentimentos de culpabilidade até ao fundo. Não fico preso nestes sentimentos mas, antes, tenho toda a confiança na presença, para cá das emoções e das paixões, deste espaço de silêncio.
Neste espaço de silêncio estou imune a toda a expectativa e a todo o desejo humano. É lá que me encontro inteiro e na minha plenitude. Lá nada me pode ferir. Lá sou original e autêntico. É lá que se ilumina em mim a imagem original de Deus. Todas as outras imagens que os humanos me revestem, as imagens do meu descrédito e da minha presunção se dissolvem. É lá que eu me encontro puro e limpo. Lá não se pode introduzir nenhum sentimento de culpabilidade. É lá que se ilumina em mim o brilho intangível de Deus. É o espaço puro e virginal em mim, é lá que em mim Deus vem nascer.
Deste espaço posso não ter senão um pressentimento. Mas por vezes sinto-o por um brevíssimo instante. E a seguir, novamente, é o tumulto do quotidiano que o cobre.
É este instante onde tudo em mim é silêncio que me transforma. Em pleno turbilhão do quotidiano deu-me a certeza de que o espaço do silêncio está em mim mesmo e que nada no mundo o pode penetrar. É o lugar do nascimento de Deus em mim. Os monges designam este espaço como «lugar de paz», «lugar de claridade imperecível», e é pelo nascimento de Deus que em nós mesmos irradia esta claridade.
P. Anselm Grün

A bênção de Aarão augurava a cada crente israelita: «O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face» (Números 6,25), palavras que celebram e despertam a beleza de crer.
Imaginar que Deus tem um rosto que refulge, luminoso, significa afirmar que Deus é beleza, que tem um coração de luz.
A nossa tarefa mais urgente é repintar o ícone de Deus: descobrir um Deus luminoso, um Deus solar, rico não de tronos e de poderes, mas aquele cujo verdadeiro tabernáculo é a luminosidade de um rosto, o Deus de grandes braços e com um rosto de luz, o Deus finalmente belo, presságio de alegria.
Deus já não pode ser empobrecido ou diminuído pelas culpas do homem. Ele é energia, futuro, sentido, mão viva que toca nos olhos e os abre, e, onde Ele se poisa, traz luz e faz nascer. Das suas mãos flui a vida, como rio e como sol, jubilosa e imparável.
Deixamos um convite para empreender uma viagem rumo ao rosto belo de Deus, para uma pesquisa onde a viagem é verdadeira; sobre ela, uma estrela polar e, ao longo da rota, algumas regras de navegação:
1. Beleza é um nome de Deus. A beleza da terra é a quenose [esvaziamento] do Criador, o vestígio do retraimento de Deus. É o primeiro nome das coisas.
2. A beleza é o êxtase da história, porta que se abre, êxodo. É o mínimo infinito que deve permanecer aberto ao infinito. No fragmento, o todo.
3. A beleza é o projeto de Deus para o cosmo, logos e futuro do homem. A nossa vocação é libertar toda a beleza sepultada em nós.
4. A beleza é a elevado preço. A filocalia (o amor pela beleza ou - porque não? - a beleza do amor) é ascese, purificação do olhar e do coração: felizes os puros de coração, porque verão vestígios da Beleza em toda a parte.
5. A beleza pode ser vital ou mortal, profética ou antiprofética. Uma ambiguidade radical é imanente à beleza.
6. A beleza é o supérfluo necessário. Necessário à qualidade da vida. Nem só de pão vive o homem, mas também da contemplação das pedras do mundo. E do perfume de Betânia derramado sobre os pés de Jesus.
7. A beleza é o isco do divino, o sorriso de Deus dentro da matéria. A proximidade de Deus cria beleza, força com que atrai a si todas as coisas.
8. A beleza é Deus que ama e cria comunhão. Belo é todo o ato de amor. Mui belo é quem tu amas. A lei primitiva da beleza reside no ato de amor.
9. A beleza é a porta do conhecimento. Só o assombro capta alguma coisa, os conceitos engendram ídolos.
10. A beleza é a força do coração, nascida do desejo. É a beleza que persuade o ânimo humano. Porque «devo»? Porque o coração me diz que, ao agir assim, encontro a felicidade.
Ermes Ronchi
In Tu és Beleza, ed. Paulinas
Ainda ontem encontrei uma pessoa que veio ter comigo e me disse: «Cheguei a uma encruzilhada do caminho, olho para a minha vida e acho que falhei em toda a linha». E eu respondi-lhe: «Bem-vindo ao clube, meu caro».
O que dá sentido à vida? Não é o que fizemos. Só um ingénuo fica completamente feliz com aquilo que realizou e não percebe que devia ter feito o triplo, cem vezes mais. Então o que é que nos redime? O que é que nos salva? Cada vez creio mais que é colocarmo-nos, com humildade e confiança, na fronteira de um futuro que seja maior do que nós. É perceber que somos servos daquele que virá, que o momento mais importante não é este presente apenas, este instante encerrado em si, mas o tempo atravessado pela tensão de um futuro maior.
Recordamo-nos daquilo que explicou João Batista: «Eu batizo-vos com água, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu (…). Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo» (Mateus 3, 11). Não valemos por nós mesmos; somos qualificados por aquilo de que estamos à espera; medimos a altura do futuro que nos habita. Somos apenas mediadores: fazemos pequenas coisas, sinalizamos com os nossos gestos aquele que virá. Quando nos colocamos assim, a vida torna-se outra coisa.
José Tolentino Mendonça
In "O pequeno caminho das grandes perguntas", Quetzal (Portugal)

Olha aí a selva no meio do caminho, Mariana. Um pote com pinceis escalvados de uso, uma ampulheta com bolinhas de mercúrio, um pequeno condor boliviano. Todas essas coisas de memória toldando as lombadas dos livros. Um relógio de sol, um lobo-guará de pelúcia, um carrossel de brinquedo que algum dia foi enfeite no pinheiro de Natal de uma casa na Holanda, uma foto do avô de smoking. Tudo tão longe. Uma libélula de bambu, um retrato de Eva Heyman, um frasco de perfume com tampa de rolha. Daquela foto com as mulheres da família, duas morreram, uma sumiu, restam outras duas. Passaram três gerações de gatos, duas agonias caninas e ah se a menina do quadro na parede abrisse os olhos. Uma Nossa Senhora do Ó de Sabará encasula na sua forma primitiva o miniconto de um milagre real. Uma Nossa Senhora do Ó com uma imensa barriga baixa num vestido cor de carne viva que veio das mãos de um artesão de Sabará. Numa caixinha azul, dezoito anos em bilhetes de teatro, dramas, tragicomédias, outras vidas, quase. Um corpo de rocha e suas diferentes idades. E a minha Yolanda, que começa a dar os primeiros passos, às vezes aparece no quarto do meu sobrinho e lhe devolve em espelho uma imagem de ternura gêmea daquela que eu vi, de um anjo loiro na minha porta, há vinte anos. Tudo tão longe. Tão intergaláctico. A selva no meio do caminho, afinal, também é um sábado à tarde a olhar as árvores do parque e ver como vai alto e longe a vida para dar sombra. Olha só. Como vai alto e longe a vida para dar sombra.
Mariana Ianelli é escritora, mestre em Literatura e Crítica Literária pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, autora dos livros de poesia Trajetória de antes (1999), Duas chagas (2001), Passagens (2003), Fazer silêncio (2005 – finalista dos prêmios Jabuti e Bravo! Prime de Cultura 2006), Almádena (2007 – finalista do prêmio Jabuti 2008), Treva alvorada(2010) e O amor e depois (2012 – finalista do prêmio Jabuti 2013), todos pela editora Iluminuras. Como ensaísta, é autora de Alberto Pucheu por Mariana Ianelli, da coleção Ciranda da Poesia (ed. UERJ, 2013).

A vida é dom especial que não pode ser compreendida como um simples contar dos dias. Um frágil dom de valor inestimável. Bem diz o apóstolo Paulo: a vida é um tesouro carregado em vaso de barro. Por muito pouco, esse dom pode ser atingido em sua sacralidade, gerando prejuízos irreversíveis comumente causados pelas perigosas relativizações. Relativizar valores e princípios, de forma inadequada, significa desconsiderar muitos aspectos do cotidiano que requerem atenção especial. A vida merece ser reconhecida como um tesouro. Assim, é preciso cuidar da cultura que sustenta a vida – todo um conjunto de valores, práticas, hábitos e costumes que definem o jeito de ser da pessoa e de uma sociedade.
Muitos consideram que o sistema político é o campo determinante para que uma nação conquiste avanços. Também se fala da decisiva influência das relações econômicas e de tantos outros campos na vida de um povo. Entretanto, de modo particular, vale prestar atenção, analisar e compreender as características culturais que definem o contexto social. A cultura tem força para influenciar todas as áreas da sociedade. O tecido cultural, com sua incidência nas muitas ações que integram o cotidiano, é decisivo para alcançar avanços, ou mesmo sofrer com atrasos. Por isso, nos processos educativos, vale estudar, analisar e compreender as singularidades da cultura. Isso permite conhecer com mais profundidade a realidade, gerenciar melhor as dinâmicas da vida.
Nesse sentido, para se alcançar o desenvolvimento integral não bastam os êxitos políticos ou as conquistas da área econômica. É preciso investir na qualificação do tecido cultural, torná-lo base consistente para avanços sociais. Analisar criticamente esse tecido permite selecionar e promover tudo o que faz um povo progredir. Possibilita também eliminar ou substituir características e jeitos de ser que alimentam atrasos. Traços culturais determinam jeitos de enxergar, sentir e elaborar a autoconsciência, indispensáveis para a participação cidadã. Por isso mesmo, é sempre preocupante quando os indivíduos aprendem que as coisas, os jeitos e os lugares dos outros, sobretudo dos que são de fora, são melhores.
A consequência é o comprometimento da autoestima, as perdas do sentido de pertencimento e do reconhecimento do próprio valor como povo e cultura. Convive-se com a falta de determinação, de objetividade, de lucidez e de produtividade. Nasce, assim, uma generalizada incapacidade para promover avanços, mesmo tendo à disposição as riquezas singulares do lugar onde se habita. As condições favoráveis, até privilegiadas, do próprio território são desconsideradas por descompassos na dinâmica cultural e se desdobram na incompetência humana para agir com transparência e coragem, principalmente no tratamento de assuntos que exigem objetividade para gerar avanços.
Diante da necessidade de se buscar o desenvolvimento integral, há uma demanda óbvia em toda sociedade: investir cuidadosamente no tecido da cultura para se alcançar transformações sociais mais profundas. Isso exige que todos os cidadãos sejam reverentes à própria história e aos seus antepassados. Assumam com coragem a tarefa de criar melhores condições de vida nos dias atuais, considerando, também, o bem-estar das gerações futuras. Particularmente, investir no tecido da cultura é agir com prudência para não se equivocar diante das relativizações que vão cobrar um alto preço. Aqui, vale recordar-se do campo da arte, em discussão neste momento. Quando a arte abandona o bom gosto, faz valer os absurdos das apelações e comparações inadmissíveis. Tudo em nome de liberdades que permitem a qualquer pessoa desconsiderar que a cultura é um processo de assimilação e vivência, substrato sustentador de um jeito de ser, da vida, que é dom. Essa é uma tendência perigosa, principalmente quando se reconhece que é preciso cuidar da cultura.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte
In: Opinião e Notícias 20.10.2017

As decisões do Supremo Tribunal Federal acerca do Ensino Religioso nas Escolas configuram enorme retrocesso! Deve-se ampliar essa disciplina, sem proselitismos, oficializando uma disciplina de Formação Humana Integral (FHI) no Ensino Fundamental na Escola Pública, e um correspondente programa de Formação Acadêmica para professores da dita disciplina, com foco na formação humana pessoal e coletiva. Vale observar que não se pode construir uma boa casa se o material é de má qualidade. Sem o aperfeiçoamento de cada elemento individual, a maravilhosa planta do arquiteto só servirá para uma realização insatisfatória, exigindo contínuos consertos, sem nunca atingir o efeito desejado. Para sublinhar a importância pode-se citar a palavra do filósofo Bergson, na primeira metade do século XX, diante da “invasão tecnológica”. “A humanidade precisa de um suplemento de alma”. A “invasão informática” certamente não é menos impactante que a invasão tecnológica do século passado. Como evitar que os alunos se tornem meros consumidores passivos, quase que drogados, dos meios eletrônicos? Como ensinar-lhes a unir um profundo humanismo com o domínio da tecnologia, com as exigências ecológicas, com a construção de um novo tipo de personalidade no momento da desconstrução dos modelos familiares e afetivos tradicionais? Um programa universitário para formar professores nesta linha e um programa escolar, elaborado pelas instâncias competentes, para passar tal formação aos alunos não são um luxo, não são “coisas do primeiro mundo”, são necessidade para o mundo inteiro.
Parece, portanto, necessário instituir no Ensino Público uma disciplina de Formação Humana Integral (ou Formação para a Vida), com toda a estrutura que uma disciplina escolar exige, e que sirva para garantir no ensino a dimensão humanizadora que na hora atual aparece como uma das maiores lacunas do ensino.
Diante da decisão do STF a favor de um Ensino Religioso confessional, pode-se alegar que o ER não é obrigatório para o aluno (sim para a Escola), e que poderá haver um programa alternativo para quem não deseja o ER, mas as instâncias responsáveis não fornecem as condições necessárias para programas alternativos e escondem isso aos pais e alunos para não terem de organizá-los.
Johan Konings
FAJE-Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia

“Os docentes incumbir-se-ão de zelar pela aprendizagem dos alunos” (LDB, Título IV, art. 13, inciso III).
Exatamente para zelar e garantir o aprendizado, os docentes pedem socorro ao considerar o universo de conflitos no qual a Escola Pública se encontra. A sociedade em geral e suas autoridades constituídas precisam com urgência se curvar sobre a tarefa de elaborar estratégias legais, sólidas e claras no sentido de responder à qualidade esperada e necessária do ensino-aprendizagem básico escolar.
As consequências da omissão em relação à garantia dos direitos da criança e do adolescente são assustadoras quando se trata do funcionamento da instituição escolar pública. Têm-se exigido da Escola resultados demonstráveis, o que é justo e necessário, porém há de se reconhecer que como bem está dito no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é dever da família, da comunidade, da Sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (LEI 8.069/90 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, art. 4º). Tornou-se natural aceitar como naturais, indicadores nas escolas públicas que deveriam ser firmemente repudiados pela sociedade. Percebe-se a inexistência de estratégias para assegurar com absoluta prioridade os princípios da legalidade supra citados. Eis alguns dos principais problemas constantes nas escolas públicas:
1.Ameaça ao espaço escolar
Não há segurança nas unidades públicas escolares na entrada e saída dos turnos e nem mesmo um guarda adequadamente treinado para os portões de entrada das escolas. Pessoas estranhas aos profissionais da escola pertencentes ao tráfico ou não estão sempre à procura de adolescentes nas portas das escolas públicas, principalmente na entrada e na saída dos turnos. Invasões também acontecem em horários de aulas. Brigas e roubos são frequentes tanto na entrada das escolas, como dentro delas. Muitos são os conflitos relacionados à insegurança nestas instituições.
2.Alunos vulneráveis
São muitos os casos de alunos em situações totalmente vulneráveis, que não conseguem ouvir ou atender as solicitações mínimas dos professores, da direção e coordenadores pedagógicos referentes às obrigações do aluno. Essa realidade quando não resolvida de imediato, provoca um grande prejuízo no aprendizado de toda a turma em que se encontram esses alunos. Aqui estamos tratando de situações nada simples, e quando a escola identifica o problema e faz os devidos encaminhamentos, a família não reage. Quando os familiares confessam abertamente que não conseguem mais acompanhar aquele adolescente que eles matricularam na escola, os profissionais da educação se sentem impotentes. São situações de alunos que necessitam socorro além das possibilidades da escola e que, após a escola esgotar as tentativas de ajuda e encaminhamentos, lá prosseguem esses alunos sem o devido atendimento, aumentando o problema para o próprio aluno, para a turma e, quase sempre, para toda a escola. Há vários registros na escola de alunos, por exemplo, que já estão no tráfico de drogas ou na marginalidade e as famílias já não têm mais autoridade. E neste caso a escola não tem recursos humanos para atender ou estar com este aluno até que os desfechos legais aconteçam. Em períodos longos, não muito raros, escolas ficam totalmente reféns destes alunos e dos seus comparsas. A questão não consiste apenas em afirmar que o lugar do aluno é na escola. Ele merece e precisa estar lá, mas COMO ele deve estar nesta escola? Até que ponto a escola deve aceitar, por exemplo, tráfico, ou roubos e indiferença total às solicitações dos profissionais da parte dos alunos?
Sabemos que quando alunos não conseguem ouvir os diálogos amorosos e firmes até mesmo da coordenação da escola, isso significa que necessidades vitais anteriores não foram supridas. Por exemplo, frequentemente são constatados casos em que a família não acompanha em nada o filho em relação às obrigações escolares. Há casos, inclusive, em que os familiares nem mesmo comparecem à escola quando solicitados, sendo preciso que alguém da escola vá até a residência ver o que se passa. Mas quem, e a que hora? Mesmo assim existem casos de trabalhos voluntários de coordenadores.
Em muitas situações os profissionais da escola ficam no desespero. Tentando ajudar fazem o papel de psicólogos, advogados, psiquiatras, assistentes sociais, policiais e aí se dão mal. Não muito raro, acontece violência por parte dos alunos como também dos seus familiares a estes profissionais. Na verdade o problema é mais profundo e demanda outros recursos além do que pode fazer um professor. Zelar pelo aprendizado em determinadas situações exige gritar socorro para estes alunos. Falta uma pré-condição ao aprendizado escolar. Adoecimentos provocados pelo estresse e suas combinações físicas dos profissionais da educação é o que as estatísticas confirmam frequentemente, além do abandono da profissão. Recai sobre a Escola uma carga educacional que ultrapassa os seus muros.
Como vimos, os profissionais da educação pública se dão conta de que certas atitudes dos alunos, que constituem obstáculos no processo de aprendizagem, revelam sofrimentos traumáticos de desamparo, solidão, ausência da autoridade materno/paterna, o que se traduz na ausência de limites e conflitos ligados à violência. A situação indica a necessidade dos profissionais da psicologia, da assistência social e da segurança para cada unidade escolar pública.
3.Conselho Tutelar
A Escola faz encaminhamentos de alunos: à Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, ao Centro de Referência à Educação Inclusiva — CRAEI, ao Conselho Regional de Assistência Social — CREAS, e a outras entidades de apoio socioeducativo. Em muitos casos, porém, a própria família omite-se e não acompanha o filho no atendimento prestado por essas entidades de Assistência Social. Normalmente as Escolas têm documentação comprovando as suas ações em favor do aluno e da sua família, porém está consciente de que, sozinha, não consegue atender as solicitações inadiáveis que são necessidades prévias ao ensino/aprendizagem.
A Escola comunica ao CONSELHO TUTELAR os fatos relevantes ocorridos em suas dependências, para que esse órgão, no uso de sua atribuição, acompanhe e emita requisições de serviços aos órgãos governamentais e não governamentais para atendimento aos alunos em situação de risco pessoal e social. Porém quase sempre as respostas são tardias para problemas imediatos. Já quando se trata de ordens provenientes da Promotoria de Justiça a intervenção do Conselho Tutelar junto à Escola é rápida e a cobrança direta. Todavia, quando a Escola busca soluções para os casos mais conflituosos de encaminhamentos e ou proteção que só devem ser acionados pelo Conselho Tutelar, constata-se uma imensa demora para a Escola obter a atuação e o resultado em tempo hábil. Citamos um caso acontecido: após todos os devidos registros feitos pela escola em relação a um aluno em situação vulnerável e já em uso de entorpecentes, após relatórios enviados ao conselho e visitas de conselheiros tutelares à escola, só após dois anos chegaram papéis com resoluções do que fazer, e o aluno como já podemos supor, nesta altura do processo, já tinha provocado muitos problemas na escola, sendo finalmente morto por traficantes da área. E casos como esse acontecem frequentemente.
O conselho tutelar registra a matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimentos oficiais de ensino fundamental. Daí prossegue a questão fundamental: COMO este aluno deve estar na escola? Está havendo um desrespeito muito grande não só em relação ao adolescente que se encontra na dificuldade ou ausência de socorro, como também em relação aos outros alunos e os profissionais que são fortemente prejudicados no processo ensino aprendizagem.
De um lado, os conselheiros reclamam da demanda dos trâmites legais da Promotoria. Do outro lado, a Escola vivencia a morosidade no atendimento, o arrastar de casos urgentes. E a defasagem no aprendizado dispara, não só em relação a vitima, mas também em relação aos outros alunos e, não muito raro, vem em seguida o adoecimento dos profissionais.
Assim, na perspectiva do inciso V, do art. 88, da Lei nº. 8.069/90 (ECA), que dispõe sobre as diretrizes da Política de Atendimento aos direitos da criança e do adolescente, entendem-se necessárias atitudes integradas das autoridades administrativas, suas assessorias, administração escolar e corpo docente. É patente, porém, a falta de políticas públicas no tratamento das questões sócio familiares, relacionadas à proteção da criança e do adolescente como determina o ECA. (Inciso V – integração operacional de órgãos do Judiciário, do Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional).
Diante desse quadro sugere-se à Administração Municipal:
Ampliação dos atendimentos nas unidades do CONSELHO TUTELAR para articulação em tempo real com as escolas e com os familiares dos alunos.
Conselheiros com as habilidades próprias da função, protegidos e conscientes dos grandes desafios a enfrentar, sobretudo o da influência e pressão de chefes do tráfico nas ações em favor da criança e do adolescente que cometem atos infracionais.
Criação de: Delegacia Especializada de atendimento à criança e adolescente; Promotoria exclusiva de atendimento à criança e ao adolescente; Vara da Infância e Adolescência. Tendo em vista que as inúmeras ocorrências e solicitações relacionadas sobrecarregam os conselheiros nas suas funções específicas.
Orientação e respaldo da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal. Faz-se necessário um planejamento responsável de estratégias e métodos claros, para efetivação do entendimento e da aplicação das normas do ECA, tanto para os profissionais da educação, como para os CONSELHEIROS TUTELARES.
4.O mínimo de retenção de alunos
Claro, nenhuma criança e adolescente merece retenção. Para isso os professores aplicam o reforço, porém em casos dos alunos em situação de vulnerabilidade e sem os atendimentos prévios necessários fora da escola, estes reforços não alteram em nada a atuação do aluno. Apenas dá-se a chance sem resolver o que continua provocando o atraso, a defasagem. Não há evolução no aprendizado, muitos alunos não fazem a recuperação, entram nela, mas novamente não conseguem. No final do ano o aluno deve mesmo entrar no processo de progressão no ciclo como se estivesse tudo bem? Alunos com 12, 13, 14 anos não sabem ler, não sabem escrever, muito menos interpretar um texto. Os professores necessariamente têm de promovê-los? Será mesmo que não importa qual o nível do aprendizado deste aluno? O que os docentes estão confirmando para a vida deste aluno? E os sonhos deles? Não estão sendo iludidos, enganados? E as decepções logo após o Ensino Fundamental? Grande angústia nessas situações experimentam os profissionais da área quando se trata do eticamente correto em sua profissão.
5.Atendimento especializado para alunos portadores de necessidades especiais.
Quanto ao atendimento especializado para integração de alunos portadores de necessidades especiais está dito na Constituição Federal: art. 208, inciso III e LDB, art. 58, § 1°, Art. 59, inciso III que o dever do Estado com a educação será efetivado, entre outras medidas, mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
Alunos portadores de necessidades especiais estão matriculados em classes regulares, à revelia da regra constitucional supra transcrita e com flagrante falta de verificação da regra do art. 58 e seus §§, da LDB, que exige, nos casos da espécie, a presença de profissional especializado, apto a atendê-los em suas necessidades especiais. A atitude inclusiva sem o cuidado previsto na lei resulta em dificuldades muito presentes no processo da aprendizagem e socialização tanto do aluno portador de deficiência como em muitos casos, dos colegas de sala. Esta ponderação não configura oposição à inclusão social, mas sim alerta responsável pela necessidade do profissional especializado para o atendimento.
Uma solução possível seria aplicar, às escolas públicas, estagiários do Ensino Superior, de preferência da área da saúde, após o terceiro período de seus cursos, para ajudar os profissionais da educação nas classes regulares onde se encontram alunos portadores de necessidades especiais.
6.Profissionais da educação e suas funções específicas
Gestores, coordenadores pedagógicos e professores, envolvidos nesses impasses acima, entre outros não aqui referidos, dificilmente conseguem desempenhar seus papéis específicos.
O salário dos profissionais da educação dispensa comentário. Encontra-se entre os mais desvalorizados para graduados, pós-graduados, mestres e doutores.
Não dá mais para aturar uma realidade em que os protagonistas da transformação, os profissionais da educação se tornam cada vez mais apáticos, deixam a profissão, ficam doentes, se sentem culpados, abandonados... Não, não pode ser por aí.
7.Conclusão
Concluindo, cabe lembrar que, entre os princípios norteadores da educação dentro dos quais o ensino deve ser ministrado está o princípio da garantia do padrão de qualidade e a vinculação entre a educação escolar, trabalho e práticas sociais.
Zelar pela aprendizagem inclui a luta e a denúncia dos obstáculos que a impedem de fluir digna e verdadeiramente. Como garantir qualidade no ensino/aprendizagem sem amparo legal efetivo e – não apenas em tese – coerente e calcados em métodos eficientes de reorientação dos alunos nos casos graves que conduzem a comportamentos que são obstáculos à vida, ao desenvolvimento saudável ou que conduzem à destruição da vida? No tempo de formação da personalidade e da abertura para o aprendizado, a instituição escolar, se não estiver munida das ferramentas essenciais para o desenvolvimento saudável dos alunos, apenas contribui para uma situação de perigo, de incentivo à criminalidade, a escravidão e a proliferação da pobreza no país. Negam-se as possibilidades abundantes de ensino/aprendizagem diretamente voltadas à elevação e desenvolvimento pleno, que são próprias do ensino educacional básico.
Os problemas diários vivenciados pelas escolas estão diretamente afetos não apenas ao coletivo da escola, mas tem que encontrar solução no apoio direto do Poder Executivo e do Ministério Público, o principal dos órgãos tutelares dos interesses de crianças e adolescentes em idade escolar. Esse apoio deve se materializar não apenas na contratação de pessoal e alocação de verbas, mas também, conforme as exigências de situações específicas, no diálogo orientativo com as diversas assessorias profissionais de apoio ao Poder Executivo. Não dá mais para ouvir aconselhamentos baratos enfocando apenas a formação do professor. Urge um diálogo aberto das autoridades competentes com os profissionais “na ponta” sobre os principais problemas implicados nas escolas públicas e as medidas eficazes que se devem tomar para as reais e comuns situações que constatamos.
Johan Konings
FAJE-Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia

A catequese de hoje tem por tema: “educar para a esperança”. Por isso pronunciar-la-ei diretamente com o “tu”, imaginando que falo como educador, como pai a um jovem ou a qualquer pessoa aberta ao aprendizado.
Pensa, ali onde Deus te semeou, espera! Espera sempre.
Não te rendas à noite: recordas que o primeiro inimigo a vencer não está fora de ti: mas dentro. Por conseguinte, não concedas espaço aos pensamentos amargos, obscuros. Este mundo é o primeiro milagre que Deus realizou, Deus pôs nas nossas mãos a graça de novos prodígios. Fé e esperança procedem juntas. Crê na existência das verdades mais elevadas e bonitas. Confia no Deus Criador, no Espírito Santo que move tudo para o bem, no abraço de Cristo que espera cada homem no final da sua existência; crê, Ele espera-te. O mundo caminha graças ao olhar de tantos homens que abriram frestas, que construíram pontes, que sonharam e acreditaram; até quando ao redor deles ouviam palavras de escárnio.
Nunca penses que a luta que enfrentas na terra seja totalmente inútil. No final da existência não nos espera um naufrágio: em nós palpita uma semente de absoluto. Deus não desilude: se pôs uma esperança nos nossos corações, não a quer esmagar com frustrações contínuas. Tudo nasce para florescer numa primavera eterna. Também Deus nos criou para florescermos. Recordo aquele diálogo, quando o carvalho pediu à amendoeira: “Fala-me de Deus”. E a amendoeira floresceu.
Onde quer que estejas, constrói! Se estás no chão, levanta-te! Nunca permaneças caído, levanta-te, deixa-te ajudar para ficares em pé. Se estás sentado, começa a caminhar! Se o tédio te paralisa, derrota-o com as obras de bem! Se te sentes vazio ou desmoralizado, pede que o Espírito Santo possa encher de novo a tua carência.
Exerce a paz no meio dos homens e não escutes a voz de quem espalha ódio e divisões. Não escutes essas vozes. Os seres humanos, por mais que sejam diversos uns dos outros, foram criados para viver juntos. Nos contrastes, paciência: um dia descobrirás que cada um é depositário de um fragmento de verdade.
Ama as pessoas. Ama-as uma por uma. Respeita o caminho de todos, linear ou complicado que seja, porque cada um tem uma história para contar. Também cada um de nós tem a própria história para contar. Cada criança que nasce é a promessa de uma vida que de novo se demonstra mais forte do que a morte. Cada amor que brota é um poder de transformação que anseia pela felicidade.
Jesus entregou-nos uma luz que brilha nas trevas: defende-a, protege-a. Aquela luz única é a maior riqueza confiada à tua vida.
E sobretudo, sonha! Não tenhas medo de sonhar. Sonha! Sonha um mundo que ainda não se vê mas que certamente chegará. A esperança leva-nos a crer na existência de uma criação que se estende até ao seu cumprimento definitivo, quando Deus será tudo em todos. Os homens capazes de imaginação ofereceram ao homem descobertas científicas e tecnológicas. Sulcaram os oceanos, calcaram terras que ninguém jamais tinha pisado. Os homens que cultivaram esperanças são os mesmos que venceram a escravidão, e proporcionaram condições melhores de vida nesta terra. Pensai nestes homens.
Sê responsável por este mundo e pela vida de cada homem. Pensa que cada injustiça contra um pobre é uma ferida aberta, e diminui a tua dignidade. A vida não cessa com a tua existência, e neste mundo virão outras gerações que sucederão à nossa e muitas outras ainda. E todos os dias pede a Deus o dom da coragem. Recorda-te que Jesus venceu o medo por nós. Ele venceu o medo! O nosso inimigo mais pérfido nada pode contra a fé. E quando te encontrares amedrontado diante de alguma dificuldade da vida, recorda-te que não vives só por ti mesmo. No Batismo a tua vida já foi imersa no mistério da Trindade e tu pertences a Jesus. E se um dia te assustares, ou pensares que o mal é demasiado grande para ser derrotado, pensa simplesmente que Jesus vive em ti. E é Ele que, através de ti, com a sua mansidão quer submeter todos os inimigos do homem: o pecado, o ódio, o crime, a violência; todos os nossos inimigos.
Tem sempre a coragem da verdade, mas recorda-te: não és superior a ninguém. Recorda-te disto: não és superior a ninguém. Se tivesses permanecido o último a crer na verdade, não fujas por causa disso da companhia dos homens.
Mesmo se vivesses no silêncio de uma ermida, conserva no coração os sofrimentos de cada criatura. És cristão; e na oração restituis tudo a Deus.
Cultiva ideais. Vive por algo que supera o homem. E mesmo se um dia estes ideais apresentarem uma conta alta a pagar nunca deixes de os conservar no coração. A fidelidade obtém tudo.
Se erras, levanta-te: nada é mais humano do que cometer erros. E aqueles mesmos erros não se devem tornar para ti uma prisão. Não fiques preso nos teus erros. O Filho de Deus veio não para os sadios, mas para os doentes: portanto, veio também para ti. E se errares ainda no futuro, não temas, levanta-te! Sabes porquê? Porque Deus é teu amigo.
Se a amargura te atinge, crê firmemente em todas as pessoas que ainda trabalham pelo bem: na sua humildade está a semente de um mundo novo. Frequenta pessoas que conservaram o coração como o de uma criança. Aprende da maravilha, cultiva a admiração.
Vive, ama, sonha, crê. E, com a graça de Deus, nunca te desesperes.
Papa Francisco
Catequese na audiência geral 20.09.2017

Vivemos em um mundo agitado, barulhento, acelerado. Somos constantemente bombardeados por novas informações e intermináveis propagandas. Corremos o perigo de aceitar passivamente tal situação, e mesmo de tal modo nos habituar com ela, que sua ausência seja experimentada como uma lacuna a ser preenchida, ou um vazio que não podemos suportar. Daí a pressa em suprir os momentos em que nossos ouvidos nada escutam, em que nossa atenção não é requisitada por novos estímulos. Cruzamos com jovens, e também menos jovens, embalados pelas músicas ouvidas em seu fone de ouvido, fixados em seus aparelhos eletrônicos e alheios ao que se passa à sua volta.
Porém, não somos apenas animais em interação com o nosso meio físico e social, pois temos uma inteligência e uma liberdade que não podem ser relegadas à periferia da nossa existência. Estamos destinados, pelo que somos, a conhecer, pensar, refletir, avaliar, julgar, bem como a agir, optar, tomar decisões, comprometer-nos, acolher ou recusar. Todavia, é muito difícil que correspondamos na vida concreta ao que somos se não conseguimos abrir espaços de silêncio em nossa existência. Pois ela é uma travessia agitada, como um navegar em alto-mar, sujeita a ventos e correntes que nos podem afastar do rumo desejado e que exigem, de tempos em tempos, uma avaliação da rota para corrigir os desvios ocorridos. Avaliação de nossa vida pessoal, familiar, profissional, social, religiosa. Não podemos nos contentar em ser reduzidos a seres de consumo de produtos culturais ou materiais, não podemos ser rebaixados a meras peças da corrente produtiva, descartadas quando perdem sua eficácia.
Só conseguiremos ser pessoas que sabem refletir e agir responsavelmente quando soubermos valorizar devidamente o silêncio em nossa vida. Pois é exatamente a ausência não só de ruídos externos, mas também de distrações internas, que nos capacitam a experimentar a importância do silêncio, sua realidade plenificante, seu conteúdo latente e rico. Temos de aprender a descer ao fundo de nós mesmos, escutar nosso coração, sentir seus anseios de sentido, de paz, de felicidade, de Deus, reconhecer que, apesar do que manifestamos exteriormente, e que a tantos engana, estamos, no fundo, decepcionados com nosso teor de vida, com a rotina mecânica de nossos dias, com a superficialidade das nossas conversas, das nossas relações, das nossas aspirações. Naturalmente, é preciso ter coragem para chegar ao nosso verdadeiro eu, mas a aventura compensa.
Pois o conhecimento próprio, a avaliação tranquila e objetiva de nossa vida, o olhar não ingênuo para a sociedade atual, nos fazem descobrir outra dimensão da realidade, com conteúdos e valores próprios, elementos indispensáveis para fundamentar e construir uma personalidade madura e sólida. Sem eles nos deparamos com pessoas frágeis, instáveis, indecisas, inseguras, incapazes de compromissos consistentes, de gestos corajosos, de renúncias conscientes e amadurecidas. É o silêncio que nos possibilita escutar a nós mesmos, a natureza, os outros e, sobretudo, Deus.
De fato, a Bíblia nos ensina que o deserto, enquanto lugar de silêncio, significa a oportunidade de um encontro do indivíduo consigo mesmo e com Deus, passagem obrigatória antes da chegada à terra prometida, parada fecunda onde acontece a conversão e a experiência das maravilhas de Deus. Também Jesus teve sua passagem pelo deserto, teve seu tempo de silêncio, teve seu encontro com o Pai antes de iniciar sua missão pelo Reino de Deus. E a história do cristianismo nos mostra como grandes vocações cristãs foram geradas no silêncio e no escondimento, que possibilitaram uma descida ao mais profundo da pessoa, onde esta se encontra consigo mesma em sua verdade última e, simultaneamente, com Deus, já que este é mais íntimo que o mais íntimo de cada um de nós, como afirmava Santo Agostinho.
Mas a vida prossegue e não podemos nos fixar no deserto. A realidade com toda sua complexidade espera por nós, nos interpela e nos provoca. Entretanto, a encaramos com outro olhar e a avaliamos com outros critérios. Sentimo-nos mais firmes e consistentes diante dos desafios da sociedade e da cultura atual, em uma palavra, somos diferentes. O silêncio nos capacitou a olhar a vida em profundidade e nela descobrir seu encanto e sua beleza, inacessíveis às percepções superficiais presentes na sociedade e divulgadas pela mídia. O silêncio nos capacitou a reconhecer o efêmero e o transitório, garantindo nossa paz em meio às turbulências próprias da condição humana. O silêncio nos aproximou de nossos semelhantes tornando-nos mais sensíveis às suas carências e mais pacientes com suas falhas. Enfim, o silêncio nos fez mais cristãos.
A pastoral do silêncio, se assim podemos falar, não se encontra muito valorizada na Igreja. Para muitos a experiência de deserto é um luxo, reservado apenas a uma elite do cristianismo. Daí que toda nossa atenção se volta para o ensino da doutrina, da moral, das diversas pastorais, para a organização do culto e para as atividades assistenciais. E nada mais justo, pois tudo isto é necessário. Mas a finalidade de toda e qualquer pastoral é levar a pessoa a um encontro pessoal com Jesus Cristo, a uma experiência de Deus, a um encontro significativo e plenificante em sua existência. O que não acontece se não ousarmos mergulhar corajosamente no silêncio, que não é o vazio, mas a plenitude de Deus que nos espera.
As paróquias constituem o núcleo da vida cristã e eclesial. Também elas deveriam oferecer uma pedagogia da oração e do silêncio, não apenas restrita a pequenos grupos, mas sempre presente em todos os demais grupos apostólicos como fator decisivo na qualidade de suas atividades. Assim deveriam ser mais valorizadas as iniciativas que promovam retiros, oficinas de oração, movimentos como o da "meditação cristã", sem descurar momentos de silêncio e de interiorização em nossas celebrações. A vida espiritual e apostólica não se mede tanto pela quantidade de atividades quanto pela qualidade da doação de cada um. E aqui o silêncio desempenha um importante papel!
Pe. Mario de França Miranda sj

Dia desses, vi meu primeiro filme de zumbis. Embora me interesse pelo imaginário de vampiros e lobisomens, confesso que não assistia filmes de zumbis por medo, por pensar que era um terror meio trash que me faria mal. Bom, vamos tentar elaborar essa questão que coloco inicialmente como algo pessoal. Alguém pode dizer que estou disfarçando um preconceito, mas não é bem assim. Quer dizer, talvez seja, mas vou relutar até o fim, porque se eu tiver algum preconceito, sentirei vergonha do meu preconceito.
Aproveito aqui para fazer um parêntese ainda nesse tom. Uma certa dose de vergonha, sobretudo no que diz respeito à vida pública, não é de todo ruim. A vergonha pode parecer um sentimento conservador, mas me parece também um sentimento inevitável, como a inveja. Mesmo que não seja uma coisa boa, a gente sente coisas desse tipo, da vergonha e da inveja. E não é por sentir coisas assim que elas se tornam boas. Tudo é mais complexo. É verdade que a vergonha é um tipo de sentimento que serve de mediação a outros. Eu sinto vergonha de ter medo, por exemplo, porque no fundo, no imaginário, a coragem é mais valorizada, ou sinto vergonha de ter ciúme ou raiva porque, igualmente, o ciúme e a raiva me desvalorizam diante de outros que não admiram esses sentimentos. A vergonha sinaliza para os valores de um época. Que nos tocam a todos e revelam um certo senso do que é “comum”.
Não estou fazendo o elogio da vergonha, apenas dizendo que eu sinto vergonha de ter preconceitos. E de ter preconceitos estéticos, como esse que talvez tenha me levado a não assistir filmes de zumbis.
Assisti a meu primeiro filme de zumbis e fiquei com uma sensação péssima. Em Extermínio 2 não restou aquele último sobrevivente que em todo cinema distópico dá um último sinal de esperança na comunidade humana, na vida possível e até mesmo na promessa de uma felicidade que há de vir. Na mesma noite, além do mal estar difuso, tive um pesadelo com redes sociais em que o foco era a solidão inevitável do mundo atual e a transformação de pessoas humanas em bonecos da Disney.
O filme parecia fechado nele mesmo, mas o que aparece no cinema é sempre um pouco espelho da realidade. E foi então que percebi que eu não estava com medo do filme de zumbis porque fosse humor trash, ou coisa de mau gosto (o mau gosto é um dos meus objetos de análise assim como o “bom gosto”, quem vai esquecer do “esteticamente correto” que nos controla hoje?), mas porque alguma verdade bem desagradável podia aparecer. E essa verdade apareceu.
A zumbificação do mundo
De que verdade estou falando? A verdade da zumbificação do mundo. Cada época tem os monstros que merece, digamos assim. Toda imagem em cada época revela energias psicológicas, morais e políticas que são sua verdade mais inerente. Ou seja, aquilo que aparece mesmo quando não devia aparecer, quando seria melhor que não aparecesse. Se nos séculos 19 e 20 os vampiros fizeram sucesso, no século 21 os zumbis tomaram a cena e os vampiros parecem cada vez mais antiquados.
O que tem um zumbi que o vampiro ou qualquer outro monstro mais clássico, por assim dizer, não tem? Uma determinada relação com o tempo. Vampiros viviam entre o dia e a noite, se moviam lentamente, precisavam enganar suas vítimas com gestos e simulações que exigiam de um tempo para acontecer. Vampiros se transformavam em morcegos. Eram ligados à animalidade e, desse modo, com a vida. Assim também acontecia com os lobisomens. Qualquer vampiro atravessa os séculos e seu tempo é medido em séculos. Por isso, a narrativa do vampiro é longa e sempre sobra alguém para o futuro.
Já o filme de zumbi mostra uma vida vivida como morte, dia e noite já não importam. O corpo do zumbi não tem saúde nem vitalidade e nenhum sangue o alimenta. O corpo zumbi atua sem esperança alguma. Os vampiros sobreviveram na época romântica como a tristeza de mortos que viviam como vivos, ou, melhor ainda, como seres límbicos, larvares entre a vida e a morte. Já o zumbi é sem futuro e, por isso, vive sem esperança alguma, no mais completo desespero. Por isso, sem grandes metamorfoses, as pessoas se tornam zumbis em vinte segundos, sem chance de retorno, sem qualquer expectativa de salvação.
Kierkegaard, autor cristão e romântico do século 19, escreveu um livro chamado A doença para a morte, no qual fala sobre o desespero. O desespero seria justamente a “doença para a morte” ou, se pensarmos bem, a vida vivida como uma doença na qual não se pode esperar mais nada.
Chegamos nesse lugar com o projeto-programa neoliberal. Adequado para o surgimento e para a sustentação da experiência zumbi.
Se a racionalidade técnica é a racionalidade da dominação, como diziam Adorno e Horkheimer em sua Dialética do Iluminismo, entende-se por que o tipo de susto zumbi é diferente do susto do vampiro. Vimos aliás, essa mutação na história do cinema. Da lentidão sepulcral de Nosferatu aos voos rasantes de Deixa ela entrar (2009), também o vampiro se tornou mais ágil. Até os vampiros sofrem de zumbificação. Dessa mudança no movimento que implica a velocidade das máquinas e das conexões digitais.
O susto zumbi é rápido porque não há tempo há perder. Ele é instantâneo como os movimentos da câmera que nos mostra o mundo zumbi. De repente, é estranho, mas ninguém sente mais susto algum ao ver um filme de terror tão intensamente pavoroso. O terror se tornou literal, vemos atores e espectadores anestesiados de tanto pavor. A coisa toda ficou naturalizada.
A política zumbi
A estética zumbi caracteriza a nossa época. E a ela corresponde uma política zumbi.
Michel (para) Temer é, na sabedoria iconográfica popular, um vampirão, como dizem há tempos. Porém, com a demonstração do apodrecimento generalizado dos personagens políticos, entramos com força na era dos zumbis políticos. Não espanta que a sabedoria iconográfica da internet tenha configurados Aécios e outros como personagens caricatos desse processo de zumbificação da política.
Desesperados por dinheiro, por poder, adoecidos para a morte, de dentro dela, todos correm para o alvo que é o corpo vivo ainda saudável, não para sobreviver nele, mas para puxá-lo para dentro da morte sem esperança, nem expectativa. A zumbificação acontece no tempo dos zumbis que é também o tempo digital, no qual tudo é instantâneo, no qual não há tempo para a salvação. O niilismo é a última verdade.
Ao corpo devorado pelo desespero podemos dar o nome genérico de democracia. Por isso, a pergunta urgente é: como produzir democracia e qual seria a sua chance, a sua qualidade, em tempos de zumbificação geral?
Marcia Tiburi
In: Revista Cult 24.05.17

Gosto daquela velha olaria com suas altas janelas rasgadas para o céu num quadro de 1947 de meu avô. Gosto dos primeiros tempos de um artista, quando tudo nele ainda é nascente como no país da infância. Aquelas pinceladas sólidas quase em relevo. Aquele primeiro tatear de formas. Dezenas de estudos do corpo feminino como anotações de um amante obcecado. Os muitos exercícios de luz e sombra, perspectivas, profundidades. Um barco solitário atado a uma corda numa marinha sem data. Uma figura curvada sobre um livro. Naturezas-mortas com gladíolos, uma abóbora aberta ao meio e uma jarra de prata brilhante. Paisagens de campo com pinheiros invertidos no reflexo de espelhos d’água. Esboços de detalhes anatômicos de uma orelha, um olho, uma boca. Desenhos realistas demais, acadêmicos demais, ou o contrário, excessivamente românticos, gestuais, impressionistas, todos eles como que felizes em seus excessos num éden antes da expulsão e do vexame. O autorretrato do menino Picasso aos quinze anos com sua franja selvagem como uma pata de urso, uma jovem Frida num robe vermelho-sangue, esguia como uma mulher de Modigliani, o amarelo berrante das casinhas de Kandinsky antes de tornar-se Kandinsky, a árvore primeira e nada elementar de Mondrian embaraçando-se num caos de traços. Gosto dessa infância dos caminhos, dessas mãos estreantes, experimentais, exploradoras, estonteadas com o começo de tudo, mãos ainda sem nome nem traquejo, ocupadas em se autodescobrir antes de fazer história.
Mariana Ianelli é escritora, mestre em Literatura e Crítica Literária pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, autora dos livros de poesia Trajetória de antes (1999), Duas chagas (2001), Passagens (2003), Fazer silêncio (2005 – finalista dos prêmios Jabuti e Bravo! Prime de Cultura 2006), Almádena (2007 – finalista do prêmio Jabuti 2008), Treva alvorada(2010) e O amor e depois (2012 – finalista do prêmio Jabuti 2013), todos pela editora Iluminuras. Como ensaísta, é autora de Alberto Pucheu por Mariana Ianelli, da coleção Ciranda da Poesia (ed. UERJ, 2013). Estreou na prosa com o livro de crônicas Breves anotações sobre um tigre (ed. ardotempo, 2013).
Página 15 de 22