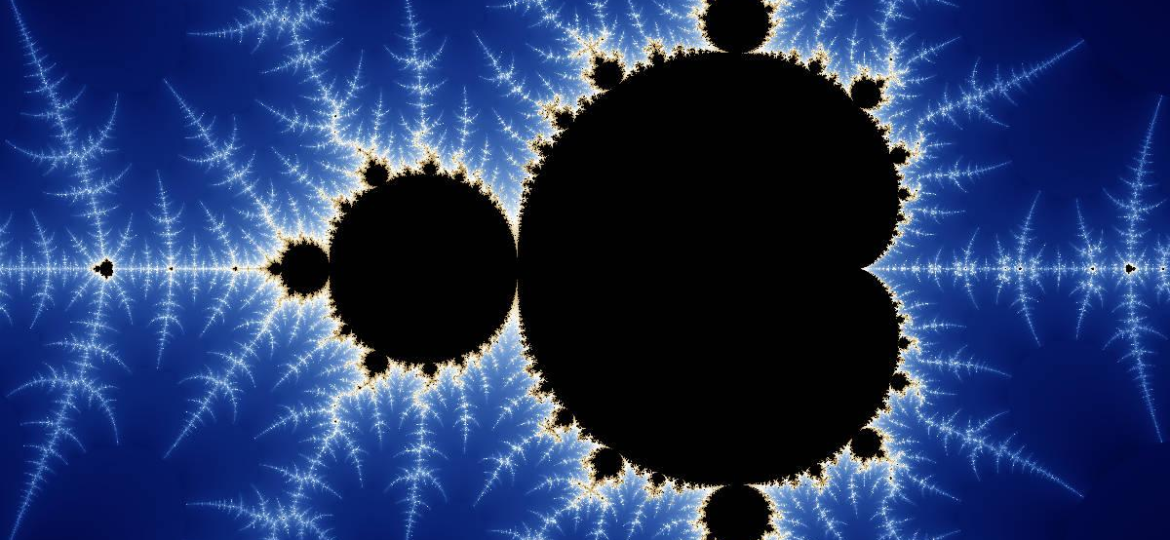- A vida humana é o valor supremo e nada é mais importante do que ela.
- A saúde é a realidade mais valiosa para o nosso bem-estar e qualidade de vida.
- Somos todos feitos da mesma matéria e todos estamos sujeitos à doença e à morte.
- Parar é importante para refletirmos nas coisas verdadeiramente importantes.
- É essencial termos consciência da vulnerabilidade das pessoas mais idosas.
- É importante viajar rumo ao nosso interior, na descoberta do nosso ser mais profundo.
- O tempo é um bem precioso que pode e deve ser sempre bem aproveitado.
- O otimismo e o sentido de humor são armas para vencer as adversidades.
- Os médicos, enfermeiros e instituições de saúde são imprescindíveis para a sociedade.
- Os verdadeiros heróis são aqueles que tudo fazem para dar vida aos demais.
- Abraçar as pessoas é muito importante, faz-nos bem e humaniza-nos.
- Sorrir é essencial para aproximar as pessoas e tornar a vida mais bonita e colorida.
- Muitas vezes, a melhor maneira de amar e ajudar uma pessoa é não estar perto dela.
- Não conseguimos viver sem amigos e fazemos tudo para nos relacionarmos com eles.
- São fundamentais as iniciativas de solidariedade a favor das pessoas mais vulneráveis.
- A humanidade vive num ritmo elevadíssimo e é urgente desacelerar.
- Podemos viver bem com menos bens materiais e com mais afetos.
- Toda a humanidade está no mesmo barco e somos responsáveis uns pelos outros.
- A globalização e a interdependência dos povos são uma realidade incontestável.
- Temos uma enorme capacidade de adaptação, empreendedorismo e criatividade.
- A nossa casa será sempre o nosso refúgio e o melhor lugar do mundo.
- A nossa família, com as suas virtudes e defeitos, é muito importante para nós.
- A oração une as famílias de todo o mundo na fé, na esperança e no amor.
- O trabalho doméstico e a participação de todos nas tarefas do lar são fundamentais.
- É bom e necessário ter mais tempo para as brincadeiras entre pais, filhos e irmãos.
- Só Aquele que é o Caminho, a Verdade e a Vida nos pode verdadeiramente salvar.
- É ótimo fazer coisas em família: conversar, ver séries, cozinhar, cuidar da casa, etc.
- É bom poder ter mais tempo para ler, escrever, pesquisar, aprender, jogar, etc.
- É estimulante a oportunidade de passear e conhecer melhor a nossa terra.
- Deus é o princípio e o fim de todas as coisas e só Ele confere sentido à existência.
- Informaticamente, as empresas adaptaram-se, reinventaram-se e modernizaram-se.
- As escolas, empresas e instituições adotaram formas de trabalho e conexões virtuais.
- O teletrabalho, os eventos online e a gestão à distância têm aspetos muito positivos.
- A Ciência é fundamental para a vida das pessoas e para o progresso da humanidade.
- Os serviços de compras e pagamentos online e de entrega ao domicílio são ótimos.
- Há coisas que se podem muito bem fazer sem tanta burocracia e deslocações.
- Faz bem à nossa economia comprar e consumir preferencialmente coisas nacionais.
- Os Meios de Comunicação Social são fundamentais para a vida em sociedade.
- A diminuição da emissão de gases poluentes é muito importante para o meio ambiente.
- A natureza recupera o seu esplendor sem a intervenção e presença do ser humano.
- A máscara desafia a olharmo-nos nos olhos e a falarmos e sorrirmos com eles.
- A máscara convida-nos a calar a boca e a pensar mais antes de falarmos.
- A máscara ensina-nos a amar com o coração e não com os lábios.
- A colocação da máscara nas orelhas lembra-nos que devemos escutar mais os outros.
- A desinfeção das mãos é decisiva, mas há que eliminar o vírus do egoísmo do coração.
- É importante lavar as mãos, mas é ainda mais importante limpar a consciência.
- Também é importante manter uma distância de segurança das pessoas maldosas.
- O recolhimento domiciliário também nos ajuda a pensar nas epidemias interiores.
- A etiqueta respiratória é também não infetarmos os outros com mentiras e ofensas.
- O vírus do Amor é muito mais poderoso e contagiante do que qualquer pandemia.
Paulo Costa
In: imissio.net
27.01.2021

Diante das preocupações do tempo presente, o que fazer?
Antes de mais, urge que façamos uma distinção clara entre o que está dentro da nossa responsabilidade e o que está fora.
O que está dentro da nossa responsabilidade é para assumir.
O que está fora da nossa responsabilidade é para largar.
É uma questão de higiene e disciplina - mental e espiritual.
Essencial para manter a sanidade em tempos 'insanos'.
Na prática, precisamos de abrir mão de ideias fixas, apegos e expetativas; precisamos de admitir que a vida é muito (muito, muito, muito) maior do que nós; finalmente, precisamos de tomar a responsabilidade por aquilo que realmente depende de nós, aquilo a que somos realmente chamados a dar resposta.
Imersos nesse processo, podemos então relaxar.
Porque é isso importante? Porque quando relaxamos é quando estamos mais disponíveis para nos darmos por inteiro - a nós próprios, aos outros, à nossa missão neste mundo.
Há lá responsabilidade maior do que essa?
João Delicado
In: verparalemdolhar
imagem: pexels.com/pexels-jaymantri-2909
As personagens da narrativa (João 1,35-42): um João de olhos penetrantes; dois discípulos maravilhosos, que não estão nem confortáveis nem satisfeitos, à sombra do maior profeta do tempo, mas que se aventuram por caminhos desconhecidos, atrás de um jovem rabi de quem ignoram tudo, exceto uma imagem fulgurante: eis o Cordeiro de Deus!
Uma narrativa que perfuma de liberdade e de coragem, na qual estão encastoadas as primeiras palavras de Jesus: que procurais? Assim ao longo do rio; assim, três anos depois, no jardim: mulher, quem procuras?» Sempre o mesmo verbo, aquele que nos define: somos buscadores do ouro nascidos do sopro do Espírito.
Que procurais? O Mestre começa pondo-se à escuta, não quer nem impor nem doutrinar, serão os dois jovens a ditar a agenda. A pergunta é como um anzol lançado para dentro deles (a forma do ponto de interrogação evoca um anzol revirado), que desce ao íntimo a prender, a mostrar à luz coisas ocultas.
Jesus, com esta pergunta, põe as suas mãos santas no tecido profundo e vivo da pessoa, que é o desejo: o que desejais verdadeiramente?; qual é o vosso desejo mais forte? Palavras que são «como uma mão que toma as entranhas e te faz dar à luz».
Jesus, mestre do desejo, exegeta e intérprete do coração, pergunta a cada um: que fome torna viva a tua vida? De que sonhos caminhas atrás? E não pede renúncias ou sacrifícios, nem imolações sobre o altar do dever, mas reentrar em si, regressar ao coração, olhar para o que acontece no espaço vital, guardar aquilo que se move e germina no íntimo. Pede a cada um, são palavras de S. Bernardo, encosta os lábios à fonte do coração e bebe.
Rabi, onde moras? Vinde e vede. O Mestre mostra-nos que o anúncio cristão, antes de se palavras, é feito de olhares, testemunhos, experiências, encontros, proximidade. Numa palavra, vida. E é isso que Jesus veio trazer, não teorias, mas vida em plenitude (cf. João 10,10).
E vão com Ele: a conversão é deixar a segurança de hoje para o futuro aberto de Jesus; passar de Deus como dever a Deus como desejo e espanto. Milhões de pessoas desejam, sonham poder passar o resto de vida de pijama, no sofá de casa. Talvez isto seja o pior que nos possa acontecer: sentirmo-nos chegados, permanecer imóveis.
Ao contrário, os dois discípulos, aqueles dos primeiros passos cristãos, foram formados, treinados, ensinados por João Batista, o profeta rochoso e selvático, a não parar, a andar e a andar, em busca do êxodo de Deus. Como eles, feliz o homem, feliz a mulher que tem caminhos no coração (cf. Salmo 83,6).
Enzo Bianchi
In Avvenire
Trad.: Rui Jorge Martins
Publicado em 14.01.2021 no SNPC

Um modo para descrever a estranheza e a dor, mas também a oportunidade deste ano das nossas vidas é, por exemplo, este: constatar a importância que, de repente, passaram a ter os números. Os meses deste ano interminável trouxeram essa novidade. Os acontecimentos grandes ou pequenos do mundo, os fatos da nossa vida pessoal, quaisquer que eles fossem, vimo-los perfurados pelo zumbido dos números. Dentro de nós, a impressão que tantas vezes tivemos é a de que os dias não se contaram por palavras ou por imagens, como estávamos habituados, mas sobretudo por números. Números desconhecidos, aguçados, trémulos, foscos, distópicos. Números que nos engoliam no seu ventre confuso, no seu universo sempre mais dilatado à medida que os tentávamos explicar, à medida que se multiplicavam os gráficos comparativos ou a infinidade de variantes e opiniões. Mas, ao mesmo tempo, números que enigmaticamente nos chamavam — e nos chamam — à atenção para que vejamos como a vida se declina também em medidas exatas, em concretos números. E números que não narram apenas o ziguezague de testes efetuados, de contagiados, de curados, de doentes em terapia intensiva ou de vítimas. Que não relatam apenas vulnerabilidade e restrições, dias de emergência e confinamento, empobrecimento e vida adiada. Mas falam também do primado reconhecido à vida, da resiliência que descobrimos possuir, do empenho, da dádiva de tantos, do reencontro conosco próprios, da reconstrução e do cuidado. O que quer que venha a seguir não pode ser um mero virar de página. De um modo que não pensávamos, o futuro entrou-nos pela porta.
Esperançosa frase essa que escreveu Albert Camus em tempos também nada fáceis: “No meio dos flagelos aprendemos que existe nos seres humanos mais coisas para admirar do que para desprezar.” É verdade: talvez não voltemos simplesmente ao mundo de antes. Que é, como quem diz: talvez não nos tenhamos tornado piores. Talvez a máscara não se nos cole definitivamente ao rosto. Talvez o distanciamento seja apenas uma forçada esquadria externa que o nosso interior não confirma, bem pelo contrário. Talvez ativemos a nossa responsabilidade por uma ecologia integral, celebrando um novo contrato social com a Criação. Talvez investamos em encontrar equilíbrios mais satisfatórios: entre o lucro e o dom, entre o crescimento e a sustentabilidade, entre o individual e o comunitário, entre o direito a usar e o dever de reutilizar, entre o furor da tecnologia digital e a natureza artesanal da nossa humanidade e do que a ela mais profundamente diz respeito. Talvez aprendamos a interagir de modo mais inteligente com a complexidade do mundo, mas prossigamos também mais disponíveis a nos maravilharmos com a sua desarmante simplicidade. Talvez que entre as competências que mais passemos a treinar estejam a gentileza e a fraternidade. Talvez não deixemos as escolas como realidades isoladas, mas as encaremos como centros de uma ampla rede implicada num pacto educativo de futuro. Talvez, tão claramente como percebemos o lugar da educação física ou da científica, percebamos o lugar da educação emocional e espiritual. Talvez, por fim, troquemos o conflito pela empatia. Talvez, quando pronunciemos o verbo conectar, este já tenha ganho o sentido de uma interação presente e criativa, a 360 graus com a realidade, e não apenas o de estar imobilizado diante de um ecrã. Talvez, finalmente, nos preocupemos mais com o que iremos transmitir do que com aquilo que vamos herdar.
Penso naquela passagem do salmo bíblico, que propõe: “Ensina-nos a contar os nossos dias para que guiemos o nosso coração na sabedoria.” Termos contado tão dramaticamente os dias deste ano que termina, a que sabedoria nos conduzirá?
Dom José Tolentino Mendonça
31.12.2020 in: imissio.net

ESCOLHE, POIS, A VIDA!
Nestes dias, vários grupos católicos têm tido a oportunidade de meditar sobre a dignidade radical da vida, sempre compartilhada com os outros e, para a fé, dom de Deus:
- A vida ainda invisível de pessoas nascituras;
- A vida ameaçada de pessoas migrantes e refugiadas;
- A vida fragilizada de pessoas enfermas ou idosas;
- A vida ferida de pessoas indígenas e quilombolas;
- A vida desviada de pessoas que cometeram crimes graves.
Alguns de nós somos mais sensíveis a algumas dessas dimensões; outros, mais sensíveis a outras. Mas em todos esses casos, nosso senso de humanidade cresce quando não fazemos recair sobre os mais fracos e pobres o pesado fardo da violência de nossas sociedades e, também, quando renunciamos a entrar numa lógica de vingança e de autodefesa.
Deixo aqui um trecho da Exortação Apostólica Gaudete et exsultate, que pode nos ajudar a expandir este desejo de cuidar melhor da vida de cada pessoa humana:
“A defesa do inocente nascituro deve ser clara, firme e apaixonada, porque neste caso está em jogo a dignidade da vida humana, sempre sagrada, e exige-o o amor por toda a pessoa, independentemente do seu desenvolvimento”.
“Igualmente sagrada é a vida dos pobres que já nasceram e se debatem na miséria, no abandono, na exclusão, no tráfico de pessoas, na eutanásia encoberta de doentes e idosos privados de cuidados, nas novas formas de escravatura, e em todas as formas de descarte”. (Francisco, Gaudete et exsultate, 101)
Pe. Francys Silvestrini Adão SJ
30.12.2020

SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR
HOMILIA DO PAPA FRANCISCO
Nesta noite, cumpre-se a grande profecia de Isaías: «Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado» (Is 9, 5).
Um filho nos foi dado. Com frequência se ouve dizer que a maior alegria da vida é o nascimento duma criança. É algo de extraordinário, que muda tudo, desencadeia energias inesperadas e faz ultrapassar fadigas, incómodos e noites sem dormir, porque traz uma grande felicidade na posse da qual nada parece pesar. Assim é o Natal: o nascimento de Jesus é a novidade que nos permite renascer dentro, cada ano, encontrando n’Ele força para enfrentar todas as provações. Sim, porque Jesus nasce para nós: para mim, para ti, para todos e cada um de nós. A preposição «para» reaparece várias vezes nesta noite santa: «um menino nasceu para nós», profetizou Isaías; «hoje nasceu para nós o Salvador», repetimos no Salmo Responsorial; Jesus «entregou-Se por nós» (Tit 2, 14), proclamou São Paulo; e, no Evangelho, o anjo anunciou «hoje nasceu para vós um Salvador» (Lc 2, 11). Para mim, para vós…
Mas, esta locução «para nós» que nos quer dizer? Que o Filho de Deus, o Bendito por natureza, vem fazer-nos filhos benditos por graça. Sim, Deus vem ao mundo como filho para nos tornar filhos de Deus. Que dom maravilhoso! Hoje Deus deixa-nos maravilhados, ao dizer a cada um de nós: «Tu és uma maravilha». Irmã, irmão, não desanimes! Estás tentado a sentir-te como um erro? Deus diz-te: «Não é verdade! És meu filho». Tens a sensação de não estar à altura, temor de ser inapto, medo de não sair do túnel da provação? Deus diz-te: «Coragem! Estou contigo». Não to diz com palavras, mas fazendo-Se filho como tu e por ti, para te lembrar o ponto de partida de cada renascimento teu: reconhecer-te filho de Deus, filha de Deus. Este é o ponto de partida de qualquer renascimento. Este é o coração indestrutível da nossa esperança, o núcleo incandescente que sustenta a existência: por baixo das nossas qualidades e defeitos, mais forte do que as feridas e fracassos do passado, os temores e ansiedades face ao futuro, está esta verdade: somos filhos amados. E o amor de Deus por nós não depende nem dependerá jamais de nós: é amor gratuito. Esta noite não encontra outra explicação, senão na graça. Tudo é graça. O dom é gratuito, sem mérito algum da nossa parte, pura graça. Esta noite «manifestou-se – disse-nos São Paulo – a graça de Deus» (Tit 2, 11). Nada é mais precioso!
Um filho nos foi dado. O Pai não nos deu uma coisa qualquer, mas o próprio Filho unigénito, que é toda a sua alegria. Todavia, ao considerarmos a ingratidão do homem para com Deus e a injustiça feita a tantos dos nossos irmãos, surge uma dúvida: o Senhor terá feito bem em dar-nos tanto? E fará bem em confiar ainda em nós? Não estará Ele a sobrestimar-nos? Sim, sobrestima-nos; e fá-lo porque nos ama a preço da sua vida. Não consegue deixar de nos amar. É feito assim, tão diferente de nós. Sempre nos ama, e com uma amizade maior de quanta possamos ter a nós mesmos. É o seu segredo para entrar no nosso coração. Deus sabe que a única maneira de nos salvar, de nos curar por dentro, é amar-nos. Não há outra maneira! Sabe que só melhoramos acolhendo o seu amor incansável, que não muda, mas muda-nos a nós. Só o amor de Jesus transforma a vida, cura as feridas mais profundas, livra do círculo vicioso insatisfação, irritação e lamento.
Um filho nos foi dado. Na pobre manjedoura dum lúgubre estábulo, está precisamente o Filho de Deus. E aqui levanta-se outra questão: porque veio Ele à luz durante a noite, sem um alojamento digno, na pobreza e enjeitado, quando merecia nascer como o maior rei no mais lindo dos palácios? Porquê? Para nos fazer compreender até onde chega o seu amor pela nossa condição humana: até tocar com o seu amor concreto a nossa pior miséria. O Filho de Deus nasceu descartado para nos dizer que todo o descartado é filho de Deus. Veio ao mundo como vem ao mundo uma criança débil e frágil, para podermos acolher com ternura as nossas fraquezas. E para nos fazer descobrir uma coisa importante: como em Belém, também conosco Deus gosta de fazer grandes coisas através das nossas pobrezas. Colocou toda a nossa salvação na manjedoura dum estábulo, sem temer as nossas pobrezas. Deixemos que a sua misericórdia transforme as nossas misérias!
Eis o que quer dizer um filho nasceu para nós. Mas há ainda um «para» que o anjo disse aos pastores: «Isto servirá de sinal para vós: encontrareis um menino (…) deitado numa manjedoura» (Lc 2, 12). Este sinal – o Menino na manjedoura – é também para nós, para nos orientar na vida. Em Belém, que significa «casa do pão», Deus está numa manjedoura, como se nos quisesse lembrar que, para viver, precisamos d’Ele como de pão para a boca. Precisamos de nos deixar permear pelo seu amor gratuito, incansável, concreto. Mas quantas vezes, famintos de divertimento, sucesso e mundanidade, nutrimos a vida com alimentos que não saciam e deixam o vazio dentro! Disto mesmo Se lamentava o Senhor, pela boca do profeta Isaías: enquanto o boi e o jumento conhecem a sua manjedoura, nós, seu povo, não O conhecemos a Ele, fonte da nossa vida (cf. Is 1, 2-3). É verdade: insaciáveis de ter, atiramo-nos para muitas manjedouras vãs, esquecendo-nos da manjedoura de Belém. Esta manjedoura, pobre de tudo mas rica de amor, ensina que o alimento da vida é deixar-se amar por Deus e amar os outros. Dá-nos o exemplo Jesus: Ele, o Verbo de Deus, é infante; não fala, mas oferece a vida. Nós, ao contrário, falamos muito, mas frequentemente somos analfabetos em bondade.
Um filho nos foi dado. Quem tem uma criança pequena, sabe quanto amor e paciência são necessários. É preciso alimentá-la, cuidar dela, limpá-la, ocupar-se da sua fragilidade e das suas necessidades, muitas vezes difíceis de compreender. Um filho faz-nos sentir amados, mas ensina também a amar. Deus nasceu menino para nos impelir a cuidar dos outros. Os seus ternos gemidos fazem-nos compreender como tantos dos nossos caprichos são inúteis. E temos tantos! O seu amor desarmado e desarmante lembra-nos que o tempo de que dispomos não serve para nos lamentarmos, mas para consolar as lágrimas de quem sofre. Deus vem habitar perto de nós, pobre e necessitado, para nos dizer que, servindo aos pobres, amá-Lo-emos a Ele. Desde aquela noite, como escreveu uma poetisa, «a residência de Deus é próxima da minha. O mobiliário é o amor» (E. Dickinson, Poems, XVII).
Um filho nos foi dado. Sois Vós, Jesus, o Filho que me torna filho. Amais-me como sou, não como eu me sonho ser. Bem o sei! Abraçando-Vos, Menino da manjedoura, reabraço a minha vida. Acolhendo-Vos, Pão de vida, também eu quero dar a minha vida. Vós que me salvais, ensinai-me a servir. Vós que não me deixais sozinho, ajudai-me a consolar os vossos irmãos, porque, a partir desta noite – como Vós sabeis – são todos meus irmãos.
Papa Francisco 24.12.2020
Imagem: site do Vaticano
Rezo, meu Deus, esta vida, que tantas vezes experimentamos como um caos para o qual não existem nomes possíveis.
Sinto-me como uma criança quando, na escuridão da noite, só o grito lhe permanece. Mas o grito é a forma frágil e intensa com que a nossa vida sai em busca de socorro.
Como uma criança, Senhor, sinto-me exposto a coisas maiores que eu, à mercê de surpresas que não controlo. Então, grito-te,
Ensina-me, Senhor, que nascemos também neste grito, que o teu amor sabe recolher transformando-o em chamamento, em desejo de presença, em ocasião para o abandono confiante à tua vontade.
Ajuda-me a descobrir aquilo que ainda não vejo.
Aproxima, em mim, a lama à estrela, o coração sem norte à sua órbita viva, a alegria introvertida à alegria dirigida para o exterior, o meu pão ao pão de todos.
Explica-me que uma existência respira porque é iluminada por aquilo que não espera.
Na verdade, abrimos os olhos todos os dias, mas não quanto seria suficiente. Vemos, descontentes, a imperfeição e a pedra. Olhamos com desgosto – em nós e nos outros – o avesso e a costura. E não nos damos conta de que poder observar o avesso com amor torna-se uma preciosa aprendizagem do caminho (e de um caminho que conduz ao presépio).
Porque aquilo, exatamente aquilo que hoje nós percebemos como pedra, Deus vem ensinar-nos a transformá-lo em estrela.
Card. José Tolentino Mendonça
In Avvenire
Trad.: Rui Jorge Martins
Imagem:
Publicado em 24.12.2020 no SNPC

Erra quem pensa que nascemos uma só vez. Para quem quer viver, a vida está repleta de nascimentos.
Nascemos muitas vezes durante a infância, quando os olhos se abrem em alegria e maravilha.
Nascemos nas viagens sem mapa nos quais a juventude se arrisca.
Nascemos na sementeira da vida adulta, amadurecendo, entre invernos e primaveras, a misteriosa transformação que coloca no caule a flor, e dentro da flor o perfume do fruto.
Nascemos muitas vezes naquela idade avançada em que as atividades não cessam, mas reconciliam-se com os vínculos interiores e os caminhos que tinham sido adiados.
Nascemos quando nos descobrimos amados e capazes de amar.
Nascemos no entusiasmo do riso e na noite de certas lágrimas.
Nascemos na oração e no dom.
Nascemos no perdão e no conflito.
Nascemos no silêncio ou iluminados por uma palavra.
Nascemos no levar ao termo um compromisso, e na partilha.
Nascemos nos gestos ou para além dos gestos.
Nascemos dentro de nós e no coração de Deus.
Por isso, peço-te, Jesus, que me ensines a nascer:
quando as esperanças se rompem como coisas gastas;
quando me faltam as forças para o degrau seguinte, e hesito;
quando da semente parece que só recolho o vazio;
quando a insatisfação corrói também o espaço da alegria;
quando as mãos desaprenderam a transparente dança do dom.
Quando não sei abandonar-me em ti.
In Avvenire
Trad.: Rui Jorge Martins
Imagem: pexels.com
Publicado em 21.12.2020 no SNPC

Não somos nós a preparar o presépio para Deus nascer, é Ele que nos prepara para nascermos
Ganharíamos muito em compreender porque é que as leituras bíblicas do tempo do Advento e do Natal insistem na dimensão visiva. Nós vemos o próprio Deus, o Deus transcendente, fazer-se próximo, e este é o motivo da alegria. Como dirá o prólogo do Evangelho de João: «Contemplámos a sua glória».
Com efeito, o Natal é a antiabstração, é o oposto das generalizações vagas. Cada um de nós, com as interrogações que são as suas, com a serenidade ou o tumulto que traz dentro de si, com a situação concreta de vida que experimenta, é chamado a ver Deus. É chamado a contemplá-lo naquele Deus conosco, naquele nascituro em carne e osso, naquele Filho que nos é dado.
Em Jesus de Nazaré, Deus não vem de maneira indefinida: Ele vem ao encontro de mim, de ti, de cada ser humano, dando-nos, na fé, a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus.
A mulheres e homens frágeis, imperfeitos e atormentados como nós, Deus oferece a possibilidade de ser filhos seus. Ou seja, de viver uma vida que não seja unicamente a expressão da nossa carne e do nosso sangue, mas que se revele como consequência do impacto da vida divina.
Neste sentido, não somos nós a fazer o presépio, para que Deus nele nasça: é Deus que prepara as condições de um nascimento para cada um de nós.
In Avvenire
Trad.: Rui Jorge Martins

Somos feitos de infinito.
Então, que seja infinito o amor que nos une.
Seria ainda demasiado pouco amarmos segundo os critérios humanos: gostar de quem gosta de nós; gostar daqueles que nos tratam bem - esse é um amor bom, quentinho, agradável, mas ficar por aí seria viver um amor ainda imaturo, apequenado, incompleto.
Um amor dependente dos caprichos dos apetites, dos desejos, dos estados de humor, um amor dependente da familiaridade, ainda não está à altura de quem somos.
Claro que precisamos das nossas raízes e referências.
Afinal, estamos aqui enquanto humanos - e isso não é um acaso ou um acidente de percurso.
Ao mesmo tempo, relembremos que não somos daqui. Nunca fomos. Nunca seremos. Estamos de passagem. Logo, não estamos confinados a este corpo-mente nem a este mundo.
Então, ponhamos o amor à altura da nossa natureza primordial.
Que o nosso amor esteja à altura, à largura, à profundidade do infinito que somos.
Que seja, portanto, um amor desmedido!
É esse o tamanho do nosso amor.
João Delicado
In: Ver para além do olhar

Conselhos de José
Volta a olhar o tempo com inocência, como uma tarefa que as crianças conhecem melhor que tu.
Aprende a procurar a sabedoria como quem constrói uma ponte quando seria mais fácil a distância.
Aprende a elogiar a vida, que é sempre a oportunidade mais bela, em vez de a desvalorizar com desencorajamentos e lamúrias.
Aprende a transformar, no teu quotidiano, a hostilidade em hospitalidade fraterna.
Não de detenhas a condenar a obscuridade: acende no centro da vida uma estrela que dança.
Compreende que a tua é condição de guardião e não de dono, e que isto te requer, a cada instante, a disponibilidade a um amor sem cálculos nem desgastes.
Exercita a arte de permanecer com humildade ao lado dos teus semelhantes, cuidando deles com dedicação, mas sem protagonismos, sem forçar os outros a nada, mas esperando por eles com delicadeza, servindo-lhes de corrimão.
Confia na verdade dos gestos essenciais, na força destas coisas de nada que depois são quase tudo.
Que o mundo nunca te apareça como um lugar indiferente.
Que a concreta presença do amor de Deus te ilumine e faça de ti a maravilhosa transparência em que este amor se contempla.
Que a tua oração de Advento seja o irresistível desejo que faz gritar à alma: «Vem!».
Card. José Tolentino Mendonça
In Avvenire
Trad.: Rui Jorge Martins
Imagem: "S. José e o Menino Jesus" (det.) | Guido Reni | 1640
Publicado em 14.12.2020 no SNPC

Quando hoje se google a palavra “máscara” aparece uma infinidade de variantes de pesquisa: máscaras descartáveis, cirúrgicas, certificadas, personalizadas, reutilizáveis, transparentes e por aí fora. Esta repentina multiplicação de acepções quer dizer uma coisa: que entrou a fazer parte das práticas do quotidiano. De fato, após uma indecisão inicial, a máscara tornou-se um elemento base de proteção contra a pandemia. E assim, de uma hora para outra, a estranheza do artefato se desfez pelo uso corrente, expectável e universal. Mas este acessório que adicionamos ao rosto — uma ajunta provisória e associada a esta conjuntura sanitária, espera-se — tem sido motivo para alguma reflexão de natureza antropológica. Há os que a defendem como um compromisso ético que realizamos, sinalizando que como indivíduos estamos empenhados em colaborar positivamente na construção do bem comum, numa hora de tamanha vulnerabilidade como a presente. E há os que a temem como um distúrbio que trará consequências. Neste caso, o medo em relação à máscara é o de que ela venha a alterar a percepção que fazemos dos outros e de nós próprios; que modifique os tradicionais mecanismos de proximidade; que contribua para ampliar a indiferença e a invisibilidade social. Medo, no fundo, de que a máscara possa cancelar o rosto ou substituir-se a ele. Um pouco na linha daquilo que Álvaro de Campos prevê no poema ‘Tabacaria’: “Quando quis tirar a máscara,/ Estava pegada à cara./ Quando a tirei e me vi ao espelho,/ Já tinha envelhecido”. Ora, mesmo tomando esta posição como um clamoroso exagero ela tem, pelo menos, a vantagem de nos sensibilizar para a problemática da comunicação interpessoal, interrogando-nos sobre a forma como nos encontramos e desencontramos em tempo de pandemia.
Um acirrado denunciador da máscara tem sido, por exemplo, o filósofo Giorgio Agamben. Ele recorda que se todos os seres viventes existem no aberto, se mostram e comunicam, só o ser humano tem, porém, um rosto. Isto é, só o ser humano “faz do seu aparecer e comunicar-se aos outros humanos a própria experiência fundamental,(...) o lugar da própria verdade”. Tudo o que dizemos e trocamos se funda no rosto. Neste sentido, é inimaginável que se possa pensar sem ele a política, pois esta ficaria perigosamente reduzida a uma mera troca de informações e mensagens. Para Agamben, o rosto é “o elemento político por excelência”, pois é “olhando-se no rosto que os humanos se reconhecem e apaixonam, percebem a semelhança e a diversidade, a distância e a proximidade”. A conclusão com que remata o seu discurso é certamente dissidente e radical, mas recorda-nos a salvaguarda necessária da essência do humano e do valor da comunidade nestes meses de emergência declarada: “Um país que decida renunciar ao próprio rosto... cancela de si toda a dimensão política” e arrisca tornar-nos ainda mais isolados uns dos outros, tendo como que perdido “o fundamento imediato e sensível da sua comunidade”.
O ponto parece-me ser este: se não podemos não usar máscara, não nos esqueçamos, no entanto, do que significa um rosto. E tantos não esquecem, é verdade. Numa obra recente do teólogo Pier Angelo Sequeri conta-se uma história que narra precisamente a persistência do rosto por outros meios. Uma paciente que passou por um longo e sofrido internamento devido à covid-19, ao despedir-se dos médicos e enfermeiros disse: “Quando vos encontrar de novo não serei capaz de recordar distintamente os vossos rostos, mas reconhecerei infalivelmente os vossos olhos.”
Dom José Tolentino Mendonça
Imagem: pexels.com
In: imissio.net 2.12.2020

É preciso muita humildade para reconhecer que não somos tão fortes nem tão independentes quanto talvez gostássemos.
É preciso ter bastante confiança para deixarmos as nossas feridas interiores ao alcance do toque de alguém que em vez de ajudar a sará-las, pode aproveitar para nos magoar ainda mais.
Mas ninguém é feliz sem amar, nem sem se sentir amado. É, pois, essencial que nos deixemos amar, oferecendo a minha vida como caminho para que o outro possa cumprir a sua vontade e necessidade de amar.
Se eu não permitir que me amem, estarei a proibir-me da minha felicidade e a impossibilitar quem o tenta de ser feliz também.
Julgas que te bastas a ti mesmo? Não bastas.
Ninguém se basta, menos ainda aqueles que o anunciam, pois que, com isso, apenas buscam o aplauso dos outros – sem o qual se sentem sós e abandonados.
A vida é feita muitas estações. Primaveras suaves e invernos agrestes. – e isso é bom. A qualquer verão se sucede um outono. Mas, por mais tempo que tenha de passar, chega sempre o tempo de ser um bom dia – e isso é maravilhoso.
Quando dentro do meu coração chove, troveja e faz frio, é tempo de eu abrir os braços, mais para ser abraçado do que para abraçar… e porque nenhuma tempestade é mais forte do que o amor, com um abraço, e de forma silenciosa, ela passa e volto a ter paz.
Sem amor, as tempestades semeiam medo em cada canto do meu íntimo. Fazendo de mim alguém mais distante, cruel e infeliz.
Julgas que não tens quem te ame?
O amor parece gostar das profundezas da dúvida. Exige fé, quebrando as nossas certezas, como quem prepara a massa para fazer pão, batendo-a tantas vezes até que fique mole e dócil… antes de a lançar ao fogo!
Sê humilde e confia. O amor vai aparecer-te. Abre os olhos… e os braços!
José Luís Nunes Martins
In: imissio.net 27.11.2020

Minha filha reluta em dormir, acha sempre o que fazer para ir invadindo cada vez mais a madrugada. Sua vontade é ver o sol nascer, a biblioteca da sala toda avermelhada. Foi assim que fizemos um trato: mamãe se incumbe de atravessar a madrugada e colher notícias de tudo o que acontece enquanto ela sonha um sonho que depois vai me contar.
Colho o planeta Marte, as três Marias, os berros do louco na avenida, a sirene de polícia, o choro da gata no cio, a janela do prédio em frente que nunca se apaga, a cantoria dos sabiás. Deixo sobre o sofá minhas notícias para quando ela acordar. É nosso milagre particular de multiplicação do tempo, sobrepor ao sono um continuum de eventos reais ou inventados, visões de estrelas cadentes, trovões e o sininho frenético na varanda, triângulo da orquestra na chuvarada. Minha filha começa o dia atando-o à pregressa madrugada, como se afinal não tivesse perdido nada, como se soubesse sem saber que, por mais aventureira e venturosa que seja, essa vida continuará a ser sempre um sopro.
A morte não lhe é completamente estranha, já viu uma lagartixa graúda, que morava no banheiro da casa da avó, um dia reaparecer miúda, inerte e ressequida no parapeito da janela. De propósito, mas como quem não quer nada, lembrei minha menina da finada lagartixa, para emendar que assim é vida, meu amor, acontece com todos que nascem, isso de crescer, espichar a cauda, sair por aí, sumir e voltar, depois morrer. Acontece com todo mundo. Minha filha então me olha nos olhos e faz a pergunta esperada e fatal: “Com a gente também?”. “Comigo também?”. “Com você?”. “Com o papai?”. “A vovó?”. “O vovô?”.
Vou caindo da delicadeza para o mau sabor de arrolar com essas perguntas toda a nossa pequena família numa carreira de futuras lagartixas secas, quando é ela, minha menina, que desdramatiza a morte, dá por encerrada a conversa e vai brincar lá fora. Um instante só, pungente e rápido como um raio, que vi em seus olhos um lago escuro e nele como que todas as despedidas concentradas. Uma tristeza rápida como um susto, um sofrer bem, sem desperdícios, que o dia hoje está bonito, a vida é o que é, e nós temos o nosso trato.
Mariana Ianelli
14.11.2020
imagem: pexels.com
Uma narrativa bíblica crucial para a construção de uma teologia da fraternidade é a que nos é narrada no capítulo 37 do livro do Génesis. Jacob envia o seu filho José para os campos, para saber como estão os irmãos, ocupados a pastorear o rebanho. E um elemento interessante, entre tantos outros deste famoso passo, é que José não encontra de imediato os irmãos. Com efeito, a fraternidade não é um mero automatismo do sangue ou da geografia da família em que se nasce. Da história de Caim e Abel (Génesis 4,1-16), a Bíblia faz-nos saber que a fraternidade é, antes de tudo, uma opção ética na qual nos devemos comprometer, uma decisão existencial e espiritual que, de maneira muito concreta, ou aceitamos ou recusamos. Enquanto José erra pelos campos, um homem vê-o e pergunta-lhe: «Que procuras?». Ele dá uma resposta que, no fundo, serve também para explicar as nossas buscas e as do mundo atual. José responde: «Procuro os meus irmãos». É precisamente desta busca que fala a encíclica “Fratelli tutti”.
A urgência da fraternidade
Em primeiro lugar, “Todos irmãos” é um texto marcado pela urgência. A urgência pode ser colhida, por exemplo, logo no primeiro capítulo, intitulado “As sombras dum mundo fechado”. O papa Francisco ajuda-nos a olhar o mundo à nossa volta, propondo um diagnóstico essencial do momento histórico que estamos a viver. E não é um momento fácil. Vem-me à ideia o título de uma obra teatral do escritor Peter Handke, prémio Nobel da Literatura 2019: “A hora em que não sabíamos nada um do outro”.
Contra este estado das coisas, o papa eleva a sua voz de maneira profética: «A história dá sinais de regressão» (n. 11). De facto, não só assistimos ao reacender-se de uma conflitualidade que pensávamos superada, quer no plano internacional quer no interior das comunidades nacionais, como vemos também espalhar-se «uma perda do sentido da história» (n. 13) que abre novamente o caminho a lógicas de desagregação, descarte e domínio.
O primeiro a ser ignorado é o bem comum, visto que na experiência da globalização atual aquilo que se constata é o triunfo das ambições dos mais fortes e a crescente precariedade das regiões e dos grupos humanos vulneráveis. Como nos é recordado, «a sociedade cada vez mais globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos» (n. 12). Ao contrário, «encontramo-nos mais sozinhos do que nunca neste mundo massificado, que privilegia os interesses individuais e debilita a dimensão comunitária da existência» (idem).
Basta ver como os direitos humanos ainda não são suficientemente universais; como continuamos a habitar a casa comum como consumistas desenfreados, em vez de nos empenharmos a gerir equilíbrios no ecossistema; como não nos preocupamos suficientemente a definir eticamente o progresso tecnológico, fazendo dele um instrumento ao serviço da pessoa humana, em vez de uma forma de manipulação e de assimetria social; ou como, perante o flagelo da pandemia que está a atingir o mundo, recusamo-nos a reconhecer que estamos todos na mesma barca e que ninguém se salva sozinho.
Qual é o resultado desta cegueira? O papa Francisco di-lo claramente: «No mundo atual, esmorecem os sentimentos de pertença à mesma humanidade; e o sonho de construirmos juntos a justiça e a paz parece uma utopia doutros tempos» (n. 30). Em síntese: falta um projeto comunitário capaz de nos unir a todos.
A fraternidade: um projeto para todos
O que o papa Francisco propõe é que este projeto possa ser a fraternidade e a amizade social. É fá-lo de modo muito explícito: «Entrego esta encíclica social como humilde contribuição para a reflexão, a fim de que, perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social que não se limite a palavras» (n. 6).
De fato, da tríade liberdade, igualdade e fraternidade, que representa o ideal da modernidade, as nossas sociedades incluíram as primeiras duas, mas deixaram de fora a fraternidade, como se fosse uma questão estritamente privada, sobre a qual não é possível construir um consenso social.
No entanto, como afirma o papa Francisco, sem a fraternidade, a liberdade e a igualdade correm o risco de se tornarem tragicamente inconclusivas e abstratas, fato que podemos facilmente apurar. O reconhecimento da fraternidade é, portanto, uma das tarefas atuais mais prementes, que deve envolver todos os atores, da política à economia, da cultura às religiões.
Ao comentar a parábola evangélica do bom samaritano, o papa diz: «Cada dia é-nos oferecida uma nova oportunidade, uma etapa nova. Não devemos esperar tudo daqueles que nos governam; seria infantil. Gozamos dum espaço de corresponsabilidade capaz de iniciar e gerar novos processos e transformações. Sejamos parte ativa na reabilitação e apoio das sociedades feridas» (n. 77). As palavras-chave são começar e recomeçar. A fraternidade é colocada nas nossas mãos como um desafio inderrogável.
In L'Osservatore Romano
Trad.: Rui Jorge Martins
Imagem: pexels.com
Publicado em 06.11.2020 no SNPC
Desde há milénios a sabedoria bíblica repete: «Onde há um homem ou uma mulher, há procura de vida, desejo de felicidade». Esta, na realidade, é a vocação mais radical que habita o ser humano. O desejo ínsito em nós como uma pulsão e uma força que brota da nossa profundidade é desejo de felicidade. Fome, sede, necessidade de respirar são instintos e carências de todos os animais, enquanto felicidade, amor, sentido de vida são desejo e busca em cada pessoa humana.
Mas o ser humano pode ser arrastado por este desejo, deixando de saber discernir os necessários limites, e assim o desejo, de vocação, arrisca tornar-se em instinto mortífero. Infelizmente, entre as dez palavras de Moisés não há a necessária reflexão sobre aquela que diz: não desejes aquilo que pertence ao teu próximo. Este mandamento especifica bem a origem da inveja, do ciúme, do rancor e das formas de violência de que podem revestir-se. O desejo pode ser tão forte que se torna cupidez, uma voragem que impele a tomar, a extorquir; e quando tal não é possível, induz a negar e destruir aquilo que se deseja e é possuído pelos outros.
O desejo de obter aquilo que não se tem ou de se tornar aquilo que não se é, se não é disciplinada e contida, desencadeia inveja e rancor para com as pessoas que beneficiam dessas condições, como alguém chegou a dizer: «Eram felizes, eu não, por isso matei-os». Este desejo muda o olhar (“inveja” deriva do latim “in-videre”, não querer ver, portanto, olhar de maneira turva, má). O olhar alterado vive do confronto e da comparação, vê a carência e o sofrimento como sendo causados por quem, ao contrário, é feliz, tem sucesso, recebe reconhecimentos, tem riqueza. Assim, a existência é envenenada pelo confronto que faz emergir sem cessar a pergunta: “Porquê a ele sim, e a mim não?”.
Vivemos hoje uma estação de incerteza e rancor social, que acaba por suscitar tentações de inveja, e portanto de violência, sobretudo em pessoas “infelizes”: pessoas desafortunadas a quem é negado qualquer tipo de amor humano, desde logo por parte dos pais, ou que não souberam reconhecê-lo; pessoas que podem recriminar-se contra a história familiar ou até contra o destino… Uma só é a certeza, sob a forma de pretensão: tem de se ser feliz a todo o custo.
Também não pode ser esquecida a presença dentro do invejoso do narcisista, que espera tudo do exterior, da admiração dos outros. Esta figura substitui com o amor de si a sua dor inconfessável pelo facto de não ser amado e de não saber amar. Tem medo do amor, e por isso sofre de uma impotência que o conduz a ser vingativo e cruel para quantos agravam a imagem que ele tem de si ou lhe apresentam a imagem daquilo que ele gostaria de ser, mas sem o conseguir.
Disciplinar o desejo deveria ser uma verdadeira exigência da educação, sobretudo nos jovens, mas na realidade é um exercício necessário em cada idade da vida: então, sim, é possível construir a felicidade.
In Monastero di Bose
Trad.: Rui Jorge Martins
Publicado em 03.11.2020 no SNPC
imagem: pexels.com

Louvado sejas, meu Senhor, pelos irmãos que são todos
Forma de vida com sabor a Evangelho. Disto se trata em Fratelli Tutti, a nova encíclica do Papa Francisco «sobre a fraternidade e a amizade social», que se segue a Laudato Sì’ e a amplia. Todos Irmãos. Todos e todas, habitando a mesma casa comum, responsáveis pelo bem e pelo desenvolvimento integral de cada um. Depois do apelo ao cuidado da criação através de uma ecologia integral, e não querendo oferecer páginas-resumo de «doutrina sobre o amor fraterno», Francisco detém-se, agora, na dimensão universal do amor e na sua abertura a todos. Fá-lo como «humilde contribuição para a reflexão, a fim de que, perante as muitas formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social que não se limite a palavras». Parte, obviamente, das «convicções cristãs» que o «animam» e o «nutrem» [6], mas com o propósito de gerar diálogo com todas as pessoas de boa vontade e de promover com todas elas processos efetivos de transformação social, política e económica. Porque é importante sonhar juntos – não aconteça que, sozinhos, se tenham miragens e se veja o que não existe [cfr. 8] –, este é um novo passo que retoma e faz avançar a reflexão feita em diálogo com o Grande Imã Ahmad Al-Tayyeb, sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum, e o compromisso conjunto assinado em Abu Dhabi, em fevereiro de 2019.
Francisco de Assis continua a inspirar e a mover o Papa Francisco. Mas também outros grandes sonhadores de uma fraternidade universal sem excluídos: Luther King, Desmond Tutu, Gandhi. E Carlos de Foucauld, que no interior do deserto africano, identificando-se radicalmente com os últimos, reconheceu o desejo íntimo de «sentir todo o ser humano como um irmão» [286]. De Francisco de Assis, o Papa Francisco colhe o sabor e o saber do «essencial duma fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas independentemente da sua proximidade física», dando vida a um amor simples e fecundo que «ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço» [1]. E colhe em concreto o exemplo desarmante e eloquente da visita em pobreza do poverello de Assis ao Sultão Malik-al-Kamil, no Egito, em pleno ambiente de Cruzadas, reconhecendo o Papa como, passados oito séculos, continua a ser impressionante a recomendação que deixa aos seus irmãos: «evitar toda a forma de agressão ou contenda» e «viver uma “submissão” humilde e fraterna, mesmo com quem não partilhasse a sua fé» [3]. Da sua adesão radical ao Evangelho de Jesus pobre e humilde e do estilo de vida que escolhe para si, verdadeiramente pobre e genuinamente alegre – alguém se lhe referiu como “nu que canta” –, Francisco de Assis recebeu «no seu íntimo a verdadeira paz, libertou-se de todo o desejo de domínio sobre os outros, fez-se um dos últimos e procurou viver em harmonia com todos» [4]. Por isso, continua a inspirar tanto. Deste sopro transformador de vida evangélica, o Papa Francisco continua a fazer-se caixa de ressonância.
Da indiferença a uma cultura diferente
Do fechado ao aberto, do isolamento ao diálogo, do meu ao nosso, do monocolor ao poliédrico, por aqui vai o caminho proposto por Fratelli Tutti para reavivar e arriscar cumprir a necessidade e o anseio mundial de uma fraternidade entre todos. São oito as etapas. Oito capítulos. A luz bíblica para a caminhada é dada, no Cap. II, pela parábola eloquente do Bom Samaritano, registada pelo evangelista Lucas (Lc 10, 25-37). O Papa Francisco adverte: «A narração – digamo-lo claramente – não desenvolve uma doutrina feita de ideais abstratos, nem se limita à funcionalidade duma moral ético-social. Mas revela-nos uma caraterística essencial do ser humano, frequentemente esquecida: fomos criados para a plenitude, que só se alcança no amor» [68]. Como pano de fundo originário e, por isso, permanente, fica esse aguilhão que é a pergunta de Deus a Caim: “onde está Abel, teu irmão”. Só respondendo a esta pergunta se dará responsa conveniente à outra, a primeiríssima, feita a Adão: “onde estás?” (Gn 3, 9). Na verdade, a via que dá acesso à própria identidade é a mais longa, aquela que passa pelo outro, pela sua alteridade. A hora da verdade sobre si próprio acontece quando se cuida dos sofrimentos dos outros ou quando se passa ao largo; quando se debruça sobre o caído ou quando se olha distraído ou se acelera o passo [cf.70]. Em vários momentos e de vários modos, o Papa vai-o repetindo nesta Encíclica. Também vale para a Igreja e para a compreensão que tem da verdade que professa. Como diria Michel de Certeau, pas sans toi, não sem ti. Se quero ser eu mesmo, não o posso ser sem ti. Se queremos ser nós mesmos, não o poderemos ser sem o outro diferentes de nós, o outro cada homem e mulher, próximo ou afastado; o outro passado e que ainda há de nascer; o outro natureza; o outro história; o Outro transcendente que se dá e reclama responsabilidade em cada outro.
Encontrando-me inesperadamente com um estranho no caminho (Cap. II), o que faço? Ignoro? Olho para o lado? Passo à margem, indiferente? Escutada a parábola do Bom Samaritano, importa perguntar: «Com quem te identificas? É uma pergunta sem rodeios, direta e determinante: a qual deles te assemelhas? Precisamos de reconhecer a tentação que nos cerca de se desinteressar dos outros, especialmente dos mais frágeis». Se é verdade que crescemos em muitos aspetos – somos tecnologicamente avançados, somos esteticamente sofisticados estamos conectados mundialmente –, permanecemos «analfabetos no acompanhar, cuidar e sustentar os mais frágeis e vulneráveis das nossas sociedades desenvolvidas». Porque nos habituamos «a olhar para o outro lado, passar à margem, ignorar as situações até elas nos caírem diretamente em cima» [64]. Porém, «diante de tanta dor, à vista de tantas feridas, a única via de saída é ser como o bom samaritano» [67]. Porque «viver indiferentes à dor não é uma opção possível; não podemos deixar ninguém caído “nas margens da vida”. Isto deve indignar-nos de tal maneira que nos faça descer da nossa serenidade alterando-nos com o sofrimento humano. Isto é dignidade» [58]. Vêm à memória palavras fortes de outros momentos, que puseram o dedo na ferida da nossa insensibilidade ao sofrimento alheio, da nossa incapacidade de nos comovermos e de chorar pelo outro. Por isso, uma vez que a parábola não é para os outros e porque «o facto de crer em Deus e de O adorar não é garantia de viver como agrada a Deus» [74], concretamente para a Igreja, «é importante que a catequese e a pregação incluam, de forma mais direta e clara, o sentido social da existência, a dimensão fraterna da espiritualidade, a convicção sobre a dignidade inalienável de cada pessoa e as motivações para amar e acolher a todos» [86]. Para que a cultura da atenção, da escuta e do diálogo seja aprendida como caminho; para que a colaboração seja tida como conduta; para que o conhecimento mútuo passe a ser método e critério [cf. 284].
Das sombras de um mundo fechado à geração de um mundo aberto
Antes de percorrer a parábola, logo no Cap. I, Francisco começa por expor as sombras de um mundo fechado, as «tendências do mundo atual que dificultam o desenvolvimento da fraternidade universal» [9]. Não é sua intenção fazer «uma asséptica descrição da realidade» [56], mas levar a tomar consciência das grandes feridas e dos abismos do momento mundial que vivemos, para acolher o apelo imperioso da mudança de que são portadoras e para projetar sobre elas a luz do amor fraterno que brilha do Evangelho de Jesus Cristo, o amor tangível do bom samaritano, critério de verdade de uma vida humana.
São muitas e densas as sombras deste mundo fechado, em movimento de se fechar ainda mais. «Durante décadas, pareceu que o mundo tinha aprendido com tantas guerras e fracassos e, lentamente, ia caminhando para variadas formas de integração» [10]. «Mas a história dá sinais de regressão. Reacendem-se conflitos anacrónicos que se consideravam superados, ressurgem nacionalismos fechados, exacerbados, ressentidos e agressivos. Em vários países, uma certa noção de unidade do povo e da nação, penetrada por diferentes ideologias, cria novas formas de egoísmo e de perda do sentido social mascaradas por uma suposta defesa dos interesses nacionais» [11].
Importa tomar nota. A aldeia global em que nos tornámos esconde o isolamento, o afunilamento ideológico, o consumismo acrítico, o empobrecimento da riqueza cultural. A globalização e o progresso fazem-se sem um rumo comum, sob o domínio dos interesses e estratégias globais da economia e da finança, tantas vezes sem escrutínio político. Estes impõem globalmente um modelo cultural único. Somos tidos e tornámo-nos consumidores sem limites, individualistas sem conteúdo, personagens sem história, sem antes nem depois. Lisos, sem rugas, sem dramas, sem densidade, narcisistas, sem herança, sem rumo, sem história, como diria Byung-Chul Han. Tudo imediatamente, sem projetos comuns de longo prazo. Vivemos prisioneiros da virtualidade, das conexões imediatas e rápidas. Impacientes e inseguros, movemo-nos em círculos fechados, em bolhas protetoras reforçadas, agora, pela pandemia. Sem apreço pela fraternidade. Sem gosto pela realidade que se toca. A nível político, tende-se a exasperar, a exacerbar, a polarizar. Ridiculariza-se, desqualifica-se, lançam-se suspeitas para alimentar a controvérsia e a contraposição. Divide-se para reinar. Acentuam-se formas insólitas de agressividade. A cultura de descarte reforça-se. Descarte de coisas. Descarte de pessoas. Descarte de povos. Descarte de diversidade e de riqueza cultural. Promove-se e afirma-se uma mentalidade de medo e de desconfiança. A ética deteriora-se. Os valores espirituais enfraquecem, como enfraquece o sentido de responsabilidade. Esmorecem os sentimentos de pertença à mesma humanidade. O sonho de construir juntos uma humanidade comum é tida como devaneio, utopia ingénua de outros tempos. Globaliza-se a indiferença acomodada e fria.
Neste contexto cada vez mais fechado e monocromático, a indiferença insensível e a resignação passiva não podem ser caminho. Importa, por isso, pensar e gerar um mundo aberto (Cap. III). Pensar e gerar. Precisamos da ideia e da ação, começando por ter bem presente que «o ser humano está feito de tal maneira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode encontrar a sua plenitude “a não ser no sincero dom de si mesmo” aos outros», e que «não chega a reconhecer completamente a sua própria verdade, senão no encontro com os outros: “Só comunico realmente comigo mesmo, na medida em que comunico com o outro”. Isso explica por que ninguém pode experimentar o valor de viver sem rostos concretos a quem amar. Aqui está um segredo da existência humana autêntica, já que “a vida subsiste onde há vínculo, comunhão, fraternidade; e é uma vida mais forte do que a morte, quando se constrói sobre verdadeiras relações e vínculos de fidelidade. Pelo contrário, não há vida quando se tem a pretensão de pertencer apenas a si mesmo e de viver como ilhas: nestas atitudes prevalece a morte”» [74].
Sair de si para encontrar e se encontrar com os outros, os outros apreciados por aquilo que são, é por aqui o caminho de conversão e de reforma de vida, de estilo de vida, não só pessoal, mas também dos grupos e das instituições. O que põe o “corpo” em movimento em relação ao outro, para que passe de “corpo estranho” ou de “exilado oculto” [cf. 98] a irmão que me é caro, precioso e digno, é o amor. Não haverá que ter pudor com a palavra. Francisco usa-a também como categoria social e mesmo política [cf. 180ss], enquanto verdade das outras virtudes, segredo de relações humanas e institucionais que reconhecem no outro um irmão, carne da mesma carne, e não um simples sócio distante e funcional. É o amor que nos coloca «em tensão para a comunhão universal»; que faz harmonizar os direitos individuais com um bem maior; que gera benevolência, enquanto forte desejo do bem [cf. 112]; que promove solidariedade, gesto de quem se sente responsável pela fragilidade do outro, corresponsável com ele por um destino comum [cf. 114ss]; que leva a transcender-se a si mesmo e ao próprio grupo de pertença. «Ninguém amadurece nem alcança a sua plenitude, isolando-se. Pela sua própria dinâmica, o amor exige uma progressiva abertura, maior capacidade de acolher os outros, numa aventura sem fim, que faz convergir todas as periferias rumo a um sentido pleno de mútua pertença» [95]. O amor abre. Expande. Amplifica, geográfica e existencialmente. É aqui, sublinha o Papa, no «amor que se estende para além das próprias fronteiras» que está a «base daquilo que chamamos “amizade social”» [99].
Para se caminhar para a amizade social, que implica indivíduos e instituições, e para a fraternidade universal, sendo esta a garantia quer da liberdade quer da igualdade, sublinha o Papa que «há que fazer um reconhecimento basilar e essencial: dar-se conta de quanto vale um ser humano, de quanto vale uma pessoa, sempre e em qualquer circunstância». Só por si. Só por ser homem ou mulher. A ser assim, «se cada um vale assim tanto, temos de dizer clara e firmemente que “o simples facto de ter nascido num lugar com menores recursos ou menor desenvolvimento não justifica que algumas pessoas vivam menos dignamente”. Trata-se de um princípio elementar da vida social que é, habitualmente e de várias maneiras, ignorado por quantos sentem que não convém à sua visão do mundo ou não serve os seus objetivos» [106]. Por isso, «todo o ser humano tem direito de viver com dignidade e desenvolver-se integralmente, e nenhum país lhe pode negar este direito fundamental. Todos o possuem, mesmo quem é pouco eficiente porque nasceu ou cresceu com limitações. De facto, isto não diminui a sua dignidade imensa de pessoa humana, que se baseia, não nas circunstâncias, mas no valor do seu ser». Assim, importa ter claro que, «quando não se salvaguarda este princípio elementar, não há futuro para a fraternidade nem para a sobrevivência da humanidade» [107]. Mas não basta aceitar em abstrato igual possibilidade para todos, deixando efetivamente cada um à sua sorte. As leis de mercado, a eficiência, o mérito não bastam. «A verdade é que “a simples proclamação da liberdade económica, enquanto as condições reais impedem que muitos possam efetivamente ter acesso a ela (…), torna-se um discurso contraditório”. Palavras como liberdade, democracia ou fraternidade esvaziam-se de sentido […]». Uma sociedade humana e fraterna deverá ser «capaz de preocupar-se por garantir, de modo eficiente e estável, que todos sejam acompanhados no percurso da sua vida, não apenas para assegurar as suas necessidades básicas, mas para que possam dar o melhor de si mesmos, ainda que o seu rendimento não seja o melhor, mesmo que sejam lentos, embora a sua eficiência não seja relevante» [110]. Como consequência, é preciso abordar séria e amplamente temas como a função social da propriedade, o destino comum dos bens criados, os direitos elementares dos povos ou a rede de relações internacionais. «Se se aceita o grande princípio dos direitos que brotam do simples facto de possuir a inalienável dignidade humana, é possível aceitar o desafio de sonhar e pensar numa humanidade diferente». Se se tomar efetivamente como base a dignidade humana, assumindo, assim, o esforço de entrar numa outra lógica, será possível sonhar, pensar e agir uma humanidade diferente, percorrendo o caminho da paz assente numa «“ética global de solidariedade e cooperação ao serviço de um futuro modelado pela interdependência e corresponsabilidade na família humana inteira”» [127].
Um mundo aberto pede um coração aberto ao mundo inteiro
Procurando implicações práticas, o Cap. IV começa assim: «Se esta afirmação – como seres humanos, somos irmãos e irmãs – não ficar pela abstração mas se tornar verdade encarnada e concreta, coloca-nos uma série de desafios que nos fazem mover, obrigam a assumir novas perspectivas e produzir novas reações» [128]. Entre os desafios que exigem atenção, mudanças e ação, o Para Francisco reflete sobre os migrantes e a gestão das fronteiras; a relação com o diferente de si; as relações Ocidente-Oriente; as várias dimensões da tensão entre local e universal.
Obviamente, «para se tornar possível o desenvolvimento duma comunidade mundial capaz de realizar a fraternidade a partir de povos e nações que vivam a amizade social, é necessária a política melhor [sublinhado meu, tratando-se do título do Cap. V], a política colocada ao serviço do verdadeiro bem comum», movida pela caridade. Vários números deste capítulo [180-197] são dedicados ao melhor da política – ao “amor político” e à “atividade do amor político” – lugar onde os cristãos também devem estar presentes e dar testemunho qualificado e qualificador. «Mas hoje, infelizmente, muitas vezes a política assume formas que dificultam o caminho para um mundo diferente». Entre estas, o Papa Francisco presta especial atenção a traços marcantes e limitadores dos populismos e liberalismos. Também o poder internacional merece atenção. «“Torna-se indispensável a maturação de instituições internacionais mais fortes e eficazmente organizadas, com autoridades designadas de maneira imparcial por meio de acordos entre governos nacionais e dotadas de poder de sancionar”. Quando se fala duma possível forma de autoridade mundial regulada pelo direito, não se deve necessariamente pensar numa autoridade pessoal. Mas deveria prever pelo menos a criação de organizações mundiais mais eficazes, dotadas de autoridade para assegurar o bem comum mundial, a erradicação da fome e da miséria e a justa defesa dos direitos humanos fundamentais» [172]. Para o Papa Francisco, a necessária reforma da ONU deverá fazer parte deste processo.
Diálogo e amizade social (Cap. VI) é outro movimento vital de respiração de um coração aberto ao mundo inteiro. Entre a indiferença egoísta e o protesto violento, cabe dispor-se a praticar o diálogo, a promover a cultura do encontro. «Aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender-se, procurar pontos de contato: tudo isto se resume no verbo “dialogar”. Para nos encontrar e ajudar mutuamente, precisamos de dialogar. Não é necessário dizer para que serve o diálogo; é suficiente pensar como seria o mundo sem o diálogo paciente de tantas pessoas generosas, que mantiveram unidas famílias e comunidades. O diálogo perseverante e corajoso não faz notícia como as desavenças e os conflitos; e contudo, de forma discreta mas muito mais do que possamos notar, ajuda o mundo a viver melhor» [198]. Já a «falta de diálogo supõe que ninguém, nos diferentes setores, está preocupado com o bem comum, mas com obter as vantagens que o poder lhe proporciona ou, na melhor das hipóteses, com impor o seu próprio modo de pensar. Assim a conversação reduzir-se-á a meras negociações para que cada um possa agarrar todo o poder e as maiores vantagens possíveis, sem uma busca conjunta que gere bem comum». Porém, «os heróis do futuro serão aqueles que souberem quebrar esta lógica morbosa e, ultrapassando as conveniências pessoais, decidam sustentar respeitosamente uma palavra densa de verdade» [202], a começar pela verdade da dignidade humana. «Numa sociedade pluralista, o diálogo é o caminho mais adequado para se chegar a reconhecer aquilo que sempre deve ser afirmado e respeitado e que ultrapassa o consenso ocasional. Falamos de um diálogo que precisa de ser enriquecido e iluminado por razões, por argumentos racionais, por uma variedade de perspectivas, por contribuições de diversos conhecimentos e pontos de vista, e que não exclui a convicção de que é possível chegar a algumas verdades fundamentais que devem e deverão ser sempre defendidas. Aceitar que há alguns valores permanentes, embora nem sempre seja fácil reconhecê-los, confere solidez e estabilidade a uma ética social» [211].
A cultura do encontro ou o encontro feito cultura, estilo de vida, como forma concreta de amabilidade [cf. 222-224], implica dispor-se e implicar-se em percursos de um novo encontro (Cap. VII). Da verdade dos factos se deve partir. «Novo encontro não significa voltar ao período anterior aos conflitos. Com o tempo, todos mudamos. A tribulação e os confrontos transformaram-nos. Além disso, já não há espaço para diplomacias vazias, dissimulações, discursos com duplo sentido, ocultamentos, bons modos que escondem a realidade. Os que se defrontaram duramente falam a partir da verdade, nua e crua. Precisam de aprender a cultivar uma memória penitencial, capaz de assumir o passado para libertar o futuro das próprias insatisfações, confusões ou projeções. Só da verdade histórica dos factos poderá nascer o esforço perseverante e duradouro para se compreenderem mutuamente e tentar uma nova síntese para o bem de todos» [226]. Partindo daqui, o caminho não se fará sem assumir o árduo esforço por superar o que divide, sem perder o que dá identidade a cada uma das partes envolvidas. O sentido basilar de pertença e do bem maior que ainda se poderá procurar em comum deverão permanecer acima dos conflitos e ser fundamento do encontro gerador de paz. Se há lutas legítimas, o perdão não poderá deixar de fazer parte do percurso da fraternidade e da amizade social. Porque «o perdão livre e sincero é uma grandeza que reflete a imensidão do perdão divino. Se o perdão é gratuito, então pode-se perdoar até a quem resiste ao arrependimento e é incapaz de pedir perdão» [250]. «Aqueles que perdoam de verdade não esquecem, mas renunciam a deixar-se dominar pela mesma força destruidora que os lesou. Quebram o círculo vicioso, frenam o avanço das forças da destruição» [251].
Ainda neste capítulo, há lugar para abordar outros dois temas. Primeiro, a guerra, para qualificar como injustas todas as guerras, porque «toda a guerra deixa o mundo pior do que o encontrou. A guerra é um fracasso da política e da humanidade, uma rendição vergonhosa, uma derrota perante as forças do mal» [261]. Se olharmos para as vítimas reais, que é verdadeiramente para quem se deve olhar quando se fala de guerra, «consideremos a verdade destas vítimas da violência, olhemos a realidade com os seus olhos e escutemos as suas histórias com o coração aberto. Assim poderemos reconhecer o abismo do mal no coração da guerra, e não nos turvará o facto de nos tratarem como ingénuos porque escolhemos a paz» [261]. O outro tema, a pena de morte, para reiterar que «não é possível pensar num recuo relativamente a esta posição. Hoje, afirmamos com clareza que “a pena de morte é inadmissível” e a Igreja compromete-se decididamente a propor que seja abolida em todo o mundo» [263].
Por fim, a terminar Fratelli Tutti, o lugar d’As religiões ao serviço da fraternidade no mundo (Cap. VIII). «As várias religiões, ao partir do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura chamada a ser filho ou filha de Deus, oferecem uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da justiça na sociedade. O diálogo entre pessoas de diferentes religiões não se faz apenas por diplomacia, amabilidade ou tolerância». Porque «“o objetivo do diálogo é estabelecer amizade, paz, harmonia e partilhar valores e experiências morais e espirituais num espírito de verdade e amor”» [271]. A experiência de fé e da sabedoria religiosa «que se vem acumulando ao longo dos séculos e aprendendo também das nossas inúmeras fraquezas e quedas, como crentes das diversas religiões» permite reconhecer «que tornar Deus presente é um bem para as nossas sociedades». Que «buscar a Deus com coração sincero, desde que não o ofusquemos com os nossos interesses ideológicos ou instrumentais, ajuda a reconhecer-nos como companheiros de estrada, verdadeiramente irmãos» [174]. A fraternidade universal não rege unicamente assente sobre o contrato social. A dignidade humana pede o reconhecimento da sua transcendência. Também por isso importa não se resignar a que o debate público sobre o humano comum seja só ocupado e todo ocupado por “poderosos” e “cientistas”. Cabe reconhecer o direito de cidadania no espaço público ao fundo secular da experiência e da sabedoria religiosa. O Papa sublinha mesmo que o papel público da Igreja não se esgota na assistência e na educação. Por isso, «embora a Igreja respeite a autonomia da política, não relega a sua própria missão para a esfera do privado. Pelo contrário, não pode nem deve ficar à margem na construção de um mundo melhor nem deixar de “despertar as forças espirituais” que possam fecundar toda a vida social. É verdade que os ministros da religião não devem fazer política partidária, própria dos leigos, mas mesmo eles não podem renunciar à dimensão política da existência que implica uma atenção constante ao bem comum e a preocupação pelo desenvolvimento humano integral» [276].
Fratelli Tutti termina com uma oração, em duas versões [202]: Oração ao Criador e Oração Cristã Ecuménica. Assim se conclui o percurso feito e se relançam, oferecendo-os ao Senhor, os muitos contornos do novo sonho de fraternidade, para reagir à indiferença.
Impacto onírico e força profética do Papa Francisco
Diante do sobressalto que deveria provocar a pergunta bíblica originária “onde está Abel, teu irmão?”, dirigida por Deus a Caim acerca de seu irmão Abel que matara, e da tendência para responder de modo indiferente e frio “sou, porventura, guarda do meu irmão?” (Gn 4, 9), o Papa Francisco provoca-nos a reagir com um novo sonho de fraternidade. Por aqui vai passando a força profética de Francisco: estar atento aos apelos da realidade ferida e deixar-se olhar e ferir por aqueles que, excluídos, não têm voz e ficam abandonados e esquecidos na margem; deixar-se tomar pela força transformadora do Evangelho, para que, como afirma em Evangelii Gaudium, o anúncio cristão se centre «no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário» [35]; com os pés bem firmes na realidade, ousar sonhar e desejar um mundo diferente e melhor, promovendo uma outra lógica de vida que, com o cuidado da criação, assuma a humanidade que é comum, que é una, polifónica, poliédrica e atravesse o risco da fraternidade universal. Outra lógica que mova indivíduos, mas também instituições. Porque o que está em causa implica processos alargados e pactos mundiais. Para que ninguém seja excluído, para que ninguém fique para trás, para que os últimos tenham voz e se tornem protagonistas a partir da sua própria riqueza, para que a vida plena floresça e gere sempre novos frutos humanos de beleza e de bondade.
O Papa Francisco, que diz dormir bem, sonha. Também S. José compreendia a vontade de Deus enquanto sonhava. Em Querida Amazónia já tinha partilhado quatro sonhos: um sonho social sobre o cuidado da criação e a atenção aos últimos; um sonho cultural que passasse pela valorização do tesouro das culturas e a salvaguarda das suas raízes: um sonho ecológico, onde o olhar contemplativo e grato tem lugar primeiro e maior; um sonho eclesial de encarnação do Evangelho e de inculturação da Igreja. De algum modo, já antecipava este grande sonho sobre a fraternidade e a amizade social que agora oferece à Igreja e ao Mundo, como motivo e impulso de transformação humana e de progresso social. É extraordinário que o Bispo de Roma queira que a Igreja viva em escuta radical e, sem medo de se sujar e de perder algo de si, se exponha ao diálogo. Francisco tem claro, e repete-o mais do que uma vez nesta Encíclica, que a alteridade de sujeitos, de tempos e de lugares é o caminho longo para o conhecimento mais íntimo de si próprio. Abrir-se seriamente à diferença não significa renunciar à própria identidade. De todo. É a afirmação de si que pede essa exposição e passagem pelo outro, precisamente, porque não posso ser sem ele. A humanidade que partilhamos não me permite ser sem ti. E é extraordinário que Francisco queira que a Igreja seja capaz de se fazer intérprete de desejos dos homens e mulheres de hoje e que seja lugar de elaboração de sonhos. Uma Igreja em contato com o seu tempo e em atitude de escuta radical, não por condescendência ou porque o assunto “tem boa imprensa”, mas porque é esse o caminho de reelaboração profunda da própria identidade cristã. À substância da fé tem-se acesso pela história, o que vai pedindo novas formulações e outras práticas.
Por vezes, durante a leitura do texto podemos perguntar-nos como será possível realizar tal sonho. O próprio Papa vai partilhando essa compreensível perplexidade. Não será tudo um devaneio [127]? Passará de uma utopia de tempos já idos [180]? Não ficaremos só em palavras [6]? De facto, também a nós, quando terminamos o texto de Francisco, pode ficar a pergunta como será possível, atendendo ao estado de coisas, ao modo habitual das coisas acontecerem? O Papa Francisco aponta muito alto, não deixando nada nem ninguém de fora. Vai da conversão do coração à reforma da ONU; de uma nova lógica de vida à forma de fazer política e de organizar a economia global; da adesão a uma forma de vida com sabor a evangelho ao diálogo entre culturas, zonas do globo e religiões; do papel da razão e da fé religiosa para o estabelecimento do fundamento da dignidade humana ao amor político. Porém, no mais íntimo, fica o desejo de que o sonho possa ganhar corpo e gerar realidade, porque se trata do risco de sonhar um mundo novo, melhor e mais belo, que seja construído sobre o reconhecimento de cada um como um irmão. Precisamos deste sonho. O drama da pandemia que vivemos bem o demonstra. E não chega dizer que estamos todos na mesma barca. Precisamos de sentir que todos os que vão na barca são irmãos, carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, caminho que revela e realiza a verdade da minha vida.
Ouve-se frequentemente que nos faltam líderes. Aqui temos um que ousa sonhar, que cultiva as raízes, que cuida da alma humana, que aponta para longe, para uma humanidade melhor e mais bela. O seu sonho não é abstrato. Quando abre os olhos, começa por deixar-se olhar e tocar pelo irmão que está ao lado, talvez caído à beira do caminho. E faz-se próximo. Se é assim, todos podemos começar por aqui. O sonho de tutti fratelli e sorelle começará já a ser realidade.
Pe. José Frazão Correia sj
In: pontosj.pt
11.10.2020

Faz semanas que o louco não passa na avenida. Não à hora em que passava, no meio da madrugada, se valendo do silêncio do bairro para redobrar o alcance do seu grito. Não morreu de frio, isso é certo, porque, nas noites mais severas de inverno, ele ainda passava, sensivelmente mais louco, mais desesperado, nos amaldiçoando um por um. Então, uma noite, ele não veio. Outra noite e nenhum sinal dele. E daí para uma semana, duas semanas, três. Tem isso relação com as sirenes de polícia no lugar dos gritos? Ou tem a ver com uma pandemia desacreditada, o vírus correndo solto? Ou será que, num dos seus surtos circulantes, o louco topou com um desses neo-nazis de rua, caçadores de pretextos? O fato é que, depois de desaparecer, ele ressurgiu apenas uma vez, e à luz do dia, abafado pelo trânsito da avenida. Desde então se faz notar por sua falta. É sua falta que grita. Como se tivesse levado com ele, com seu berro animal, a urgência de uma revolta onde cabe tudo o que dói até o ponto do insuportável, uma revolta que não espera ocasião nem negociação: rebenta, revolta-se. Como se tivesse deixado conosco uma paz estranhíssima e imerecida, que fica ainda mais absurda quando cantam os passarinhos. Todos os sons da indignidade escamoteados, os sons da violência bem-sucedida escondidos. À falta do louco, nós do bairro temos essa quase alucinação coletiva de uma calma com passarinhos. Que ele volte, o nosso louco, o nosso bode-expiatório, para nos amaldiçoar como merecemos, e também para drenar os nossos gritos, e fazê-los circular pela cidade, como prévia dos jornais do dia, todo dia.
Mariana Ianelli
In: Rubem
19.09.2020

Há perguntas que nos fazem medo, e talvez não devessem. Há interrogações que não nos pedem unicamente informações, mais sérias ou mais banais que sejam, que estamos educadamente dispostos a fornecer, mas aquela verdade concreta de nós que nos custa reconhecer.
Há indagações que não são apenas técnicas, dirigidas às nossas competências e aos nossos argumentos defensivos. Há questões dirigidas a um território interior feito de silêncios, adiamentos, fadigas, sonhos que se extinguiram sem deixar espaço a outros sonhos.
Vem à minha memória um pequeno fato que me foi contado por um amigo. Um destes dias, quando trazia da escola para casa a filha, ela, com os seus quatro anos, perguntou-lhe: «Papai, os adultos são felizes?».
Ele tomou a menina nos braços, e só conseguiu abraçá-la com força, durante muito tempo. «Se respondo, desabo em lágrimas», dizia para si.
Ajuda-nos, Senhor, a colher a importância das perguntas que nos desestabilizam, em vez de nos tornarmos, com idade adulta, profissionais da fuga.
In Avvenire
Trad.: Rui Jorge Martins
Publicado em 28.10.2020 no SNPC
imagem: pexels.com

Há um refrão que Jesus repete muitas vezes, no final de uma parábola ou de um ensinamento, de tal maneira que se tornou uma expressão típica do seu falar: «Quem tem ouvidos para ouvir, ouça».
Teremos nós ouvidos para ouvir? Podemos dizer que sabemos escutar verdadeiramente? E realmente escutar Jesus? Grande desafio interior, o de nos pormos à escuta. Comporta uma autêntica conversão, uma espécie de renascimento da nossa alma.
O sentido da escuta tem a ver com a prontidão. Estar pronto para. Uma boa imagem da escuta espiritual é a dos atletas no início de uma corrida, recolhidos na expetativa do sinal de partida.
Quem escuta cria dentro de si uma vigilância, uma atenção que lhe permite agir com diligência e fidelidade em cada circunstância, sem exceções. A qualidade da escuta interior determina a qualidade da resposta.
Mesmo sem nos darmos conta, a cada momento estamos a responder, dizendo sim ou refutando, abrimos o nosso coração a Jesus ou barramos-lhe a porta. Olha que Eu estou à porta e bato: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Eu entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo» (Apocalipse 3,20).
In Avvenire
Trad.: Rui Jorge Martins
Publicado em 27.10.2020 no SNPC

«Não vos preocupeis com a vida» (Lucas 12,22). Isto diz-nos Jesus. E isto parece-nos a coisa mais paradoxal que alguma vez podemos escutar, porque, ao contrário, nós nunca nos libertamos das preocupações, que se tornam, quase sem nos darmos conta, o motivo principal da nossa existência.
Tu insistes: «Não vos preocupeis». A certo ponto, parece que a única coisa que sabemos fazer bem é preocupar-nos. Deixamos de saber criar, entretecer, projetar. Deixamos de sorrir sem uma razão, de estar com os outros gratuitamente, de passear sem um porquê ou de rezar sem tempo. Damo-nos conta, unicamente, do preso cru da vida, a responsabilidade nervosa por cada coisa, fazendo cálculos, procurando seguranças.
Mas Tu, Jesus, explicas-nos: «A vida vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste» (Lucas 12,23). Se não colhermos isto como uma verdade que apaixona, que salva, acabaremos por esgotar a vitalidade do dom, reduzindo-a a uma inútil luta.
Quando percebemos que a vida é mais, é então que cessamos de viver obcecados por aquilo que é mais pequeno, prisioneiros de detalhes ridículos que nos escravizam.
Ensina-nos, Senhor, que a espiritualidade não é, na realidade, uma preocupação a mais entre todas as outras. A verdadeira espiritualidade é aquela que se experimenta no abandono, apenas aí.
In Avvenire
Trad.: Rui Jorge Martins
Publicado em 23.10.2020 no SNPC
Página 8 de 22