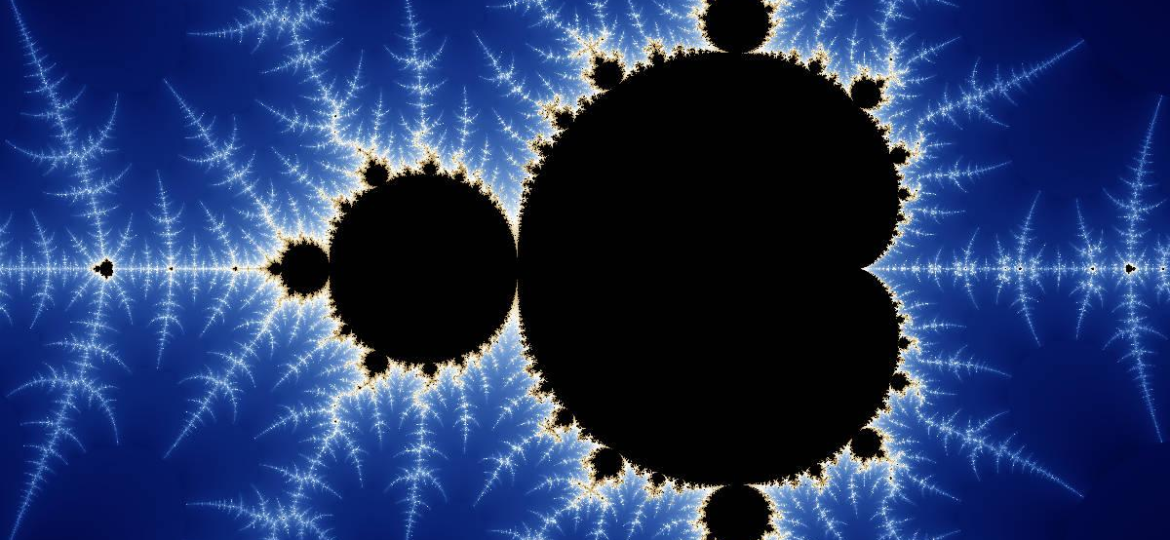Não acredites em quem te diz que as riquezas são o caminho para a alegria abundante. Os bens materiais são todos ainda mais passageiros do que nós.
Jamais alguém possuirá todas as coisas e, ainda que isto fosse possível, nem mesmo nessa altura veria a sua cega ambição acalmar. Porque a lógica de ter é acumular sempre, mais e mais. À satisfação de uma maior conquista segue-se uma fome por mais ainda. A pobreza precisa de muito menos do que a ganância.
Aprende a reconhecer o valor do pouco que tens, valoriza a liberdade de quem, por ter uma bagagem pequena e leve, pode ser tudo… e feliz.
Se os teus dias se passam a cuidares de não perder as coisas que tens e a procurares formas de ter mais, talvez seja tempo de te questionares sobre os resultados alcançados. Estás no caminho que planeaste? Por que razão há pessoas que têm tão menos do que tu, mas são muito mais felizes? Estarão elas iludidas? Ou estarás tu?
A vida passa e todas as coisas que temos deixarão de o ser em breve. O tempo que gastámos para as adquirir foi um bom investimento?
Não preciso mais do que pouco para viver aquela alegria que não é momentânea, mas um sentimento profundo que me habita, ilumina e fortalece, tornando-me capaz de viver cada novo dia apenas com o essencial, partilhando o resto com quem não o tem.
José Luis Nunes Martins
In: imissio.net 08.10.21

Penso nessa frase que G. E. Lessing escreveu: “O maior dos milagres é que os milagres verdadeiros nos apareçam como banais ocorrências de todos os dias.” De fato, precisaríamos de uma escola do olhar que nos ajudasse a compreender a natureza do que acontece e nos escapa. Precisaríamos de aprender a colher o sentido daquilo que efetivamente se joga diante dos nossos olhos, tanto no real que nos é distante como naquele que nos está mais próximo e se aloja, inclusive, dentro de nós. Por um estranho automatismo, nunca suficientemente criticado, damo-nos mais facilmente conta do mal do que do bem. O mal salta-nos à vista e como que nos obsidia. A ele reservamos a condição de coisa extraordinária: uma peça que se solta e se destaca, um elemento inesperado que se manifesta, uma contrariedade que emerge, um problema no qual imediatamente nos concentramos. Não nos apercebemos logo, mas à custa de nos focarmos na parcela de negatividade cria-se uma distorção do nosso olhar, já que perdemos a capacidade de considerar a vida na sua inteireza. E tal ocorre, em grande medida, por julgarmos ainda o bem uma banalidade; um pressuposto que nos é absolutamente devido e que, por isso, nem nos sentimos no dever de agradecer; um mero resultado fisiológico da existência ao qual não reconhecemos qualquer intencionalidade. Não admira que os grandes milagres nos passem ao lado como banais ocorrências para as quais reservamos apenas olhos sonolentos.
Bastaria, contudo, colocarmos em prática um exercício de observação contrária. Que arrancássemos a jornada enumerando, com gratidão, o interminável elenco do bem de que somos atores e testemunhas. A começar pelo prodigioso espetáculo da própria vida sem mais, a nossa e a das outras criaturas. Bastaria abrir a janela ao romper do dia e demorar uns instantes a percorrer como este mundo, mesmo no seu degrado ou nas suas aflições, não deixa de nos rodear sempre de elementos suntuosos, de miríades de detalhes luminosos que recordam como a graça pesa infinitamente mais no prato da balança. E, ainda quando sentimos o agravo daquilo que nos tirado, é sempre mais e mais espantoso o que nos é oferecido. Na origem da vida está, assim, a bênção e esta sua admirável excedência à qual deveríamos colar o nosso coração. Isso que, por exemplo, a poesia de Walt Whitman ensina, quando diz: “Não conheço nada que não seja um milagre:/ ou ande eu pelas ruas de Manhattan,/ ou erga a vista sobre os telhados/ na direção do céu,/ ou pise com os pés descalços/ a franja das águas pela praia,/ ou converse durante o dia com uma pessoa a quem amo/ [...] ou olhe os desconhecidos na carruagem/ de frente para mim [...]// Cada momento de luz ou de treva/ é para mim um milagre,/ milagre cada polegada cúbica de espaço,/ cada metro quadrado da superfície da terra por milagre se estende/, cada pé do interior está apinhado de milagres.”
Não há dia nenhum em que não sejamos visitados por um anjo. O grande desafio, porém, é o da hospitalidade que estamos ou não disponíveis a viver de forma concreta. Há um passo de um texto bíblico, a Carta aos Hebreus, que centra precisamente aí a necessária conversão da nossa atitude: “Não vos esqueceis de praticar a hospitalidade; pois agindo assim, mesmo sem o perceber, muitos acolheram anjos” (Heb 13:2). A maior parte das vezes, a questão não é inventar, mas reconhecer. Não é tanto forçar a irrupção do inédito, mas reaprender a ver o habitual. Não é a descoberta aparatosa, mas o abraço humilde à vida que nos é dada e às suas circunstâncias.
Dom José Tolentino Mendonça
In: imissio.net 30.08.21

Alguém distraído escorrega e, depois de tentar em vão equilibrar-se e evitar o inevitável, cai no chão sem se magoar. É algo que arranca pelo menos um sorriso à maior parte de nós. Pelo fato de não ter sentido nem valor.
Alguém que vê uma outra pessoa em risco e, sem olhar as consequências, se lança em seu socorro, acabando por se magoar de forma aparatosa. Aqui não há vontade de rir, nem de sorrir, porque o que aconteceu de negativo teve sentido e isso confere-lhe valor.
Um artista sacrifica vários meses da sua vida a produzir uma obra de arte porque ambiciona fazer uma grande venda, tornando-o rico e famoso. Outro artista produz, com o mesmo nível de sacrifício, a mesma obra de arte, mas a sua intenção é acrescentar mais beleza ao mundo, entregando o quadro a um museu em troca de entradas gratuitas para todas as pessoas desfavorecidas que o queiram visitar. O sofrimento deste artista faz mais sentido do que o do primeiro. Porque visa algo mais elevado do que o natural egoísmo.
Sofrer de forma absurda acrescenta dor à dor. Encontrar no sofrimento um meio para alcançar algo excelente dá-lhe sentido e valor.
Se eu viver a fugir ao sofrimento, talvez não chegue a viver um único dia de paz, muito por causa do medo que me impede de ser livre. Se eu for capaz de lutar pela felicidade, aceitando os sofrimentos que isso implica, então as dores terão sentido, e ainda que as feridas teimem em não sarar, eu serei digno de mim mesmo, porque lutei pelo melhor de mim, qualquer que seja o resultado que consiga.
Luta pelo melhor de ti sem medo de sofrer. Sofrerás as mesmas dores do que aqueles que as temem e delas passam a vida a fugir, mas as tuas terão sentido e valor. As deles serão a sua derrota, as tuas o preço a pagar pela vitória.
José Luís Nunes Martins
24.09.21 - In: imissio.net

O Papa Francisco inicia o Capítulo VI da Encíclica Laudato Si´, com uma lapidar afirmação: “antes de tudo é a humanidade que precisa mudar”, pois “falta a consciência duma origem comum, duma recíproca pertença e dum futuro partilhado por todos.” (nº 202) E prognostica: “Esta consciência basilar permitira o desenvolvimento de novas convicções, atitudes e estilos de vida” (nº 202). O desafio é definido então como “cultural, espiritual e educativo e implicará longos processos de regeneração.” (nº 202) Neste sentido, o Santo Padre aponta alguns caminhos práticos que podem ajudar a (re)estabelecer a aliança entre Criador e criatura e a harmonia entre todo ser criado.
O Pontífice insiste na busca por um novo estilo de vida, que seja capaz de resistir ao condicionalismo psicológico e social que é imposto pelo mercado de consumo e onde os consumidores possam exercer sua responsabilidade social. É necessário uma nova educação ambiental, onde se inclua uma crítica aos “mitos” da modernidade baseados na razão instrumental (individualismo, progresso ilimitado, concorrência, consumismo, mercado sem regras) e venha a recuperar “os distintos níveis de equilíbrio ecológico: o interior consigo mesmo, o solidário com os outros, o natural com todos os seres vivos, o espiritual com Deus.” (nº 210) Esta nova educação na responsabilidade ambiental pode incentivar vários comportamentos e hábitos diários, que terão incidência direta e importante no cuidado do meio ambiente. Uma educação onde seja difundido um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza, em contraposição ao modelo consumista, transmitido pelos meios de comunicação social e através dos mecanismos eficazes do mercado.
Neste sentido, o Papa Francisco propõe-nos uma verdadeira e profunda conversão ecológica. A conversão ecológica, para ser duradoura, tem de ser não somente individual, mas também comunitária. A conversão comunitária rompe com uma consciência isolada, com o individualismo e a autorreferencialidade nos quais consolidam a submissão ao consumismo e ao paradigma tecno-econômico por impedirem que se saia de si em direção ao outro. Este sair de si seria o passo inicial para a conversão, sair da individualidade imposta pelo paradigma tecnocrático e econômico e pelo antropocentrismo conveniente ao mercado e ao lucro. Um estilo de vida mais ecológico para a vivência diária do cristão implica transformações e rupturas, inicialmente com o consumismo e com o desperdício.
Dessa forma, poderíamos dizer que a conversão ecológica, na realidade, se trata de uma reconversão, ou seja, um chamado, para que os cristãos redirecionem suas vidas já marcadas pelo sinal divino para viverem “a vocação dos guardiões da obra de Deus” (nº 217). A Igreja aprimorou a Teologia da Criação e nela encontrou uma chave para que o discurso ambiental, que atravessa o planeta e seus habitantes, possibilitasse a convocação de seus fiéis a uma reconversão. Em termos de reconciliação com a criação “devemos examinar as nossas vidas e reconhecer de que modo ofendemos a criação de Deus com as nossas ações e com nossa incapacidade de agir.” (nº 218) Na Teologia da Criação, este pensar teológico encontra-se nos dois primeiros capítulos do livro do Gênesis e na literatura sapiencial, onde nos apresenta um Deus amoroso que cria todas as coisas, possibilitando o seu crescimento e desenvolvimento. Tendo criado o ser humano, o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, confere-lhe a tarefa de cuidar do jardim e a responsabilidade de administrar e zelar, a fim de dar continuidade à sua obra criadora. Isso significa que o ser humano deverá fazer toda a sua tarefa seguindo os mesmos princípios usados pelo criador: cuidar da casa que lhe foi confiada.
Os cristãos, ao se converterem ecologicamente, devem deixar emergir nas relações com o mundo que os rodeia, todas as consequências do encontro com Jesus que, pelo mistério da Encarnação, assume a carne humana num processo de comunhão. Desta forma, nada mais é estranho ao reino de Deus e à natureza. Tudo está envolvido pela salvação que Jesus veio trazer. É missão de cada ser humano trabalhar por esta comunhão intrínseca entre o Criador e os seres criados. Segundo o teólogo alemão Jürgen Moltmann, a comunhão é a correlação entre a criatura e o Criador:
Se a pessoa reconhece o mundo como criação, então ela experimenta a existência de uma Comunhão da criação e toma parte nela. A Comunhão da criação transforma-se, então, num diálogo perante o criador comum. O reconhecimento do mundo como criação é, na sua forma original, o agradecimento pela dádiva da criação e da comunhão nela e do louvor exaltante do criador.
Nesta comunhão universal entre todos os seres, o Papa Francisco convida-nos a promover a alegria e a paz refletidas no retorno à simplicidade que, permite saborear pequenas coisas, agradecer pelo que se tem, sem apego, e não lamentar por aquilo que não se possui. Uma vida simples, onde se encontre prazer e felicidade em coisas simples, que não se relacionem ao consumo. Uma integridade da vida humana, onde a humildade e a sobriedade estejam sempre presentes.
Por fim, o Santo Padre convoca-nos a uma fraternidade universal, que se expressa no amor civil e político, na responsabilidade para com os outros e para com o mundo, traduzidas em atitudes de bondade e honestidade. O amor social nos planos político, econômico e cultural seria a chave do desenvolvimento autêntico e uma norma constante e suprema do agir. Impulsiona-nos a pensar em grandes estratégias que detenham eficazmente a degradação ambiental e incentivem uma cultura do cuidado que permeie toda a sociedade. Nesse contexto, o Papa destaca as ações comunitárias que intervêm em prol do bem-comum, defendendo o meio ambiente natural e urbano na busca da construção de um mundo melhor.
Desta forma, a esperança futura volta-se para Jesus. A restauração de todas as coisas se dará a partir de Cristo, uma vez que Ele é o Primogênito de toda Criação que reconcilia em si, como que num ponto de atração, todas as coisas do céu e da terra, possibilitando que toda a criação grite as dores de parto à espera ansiosa da vinda do Reino de Deus (Rm 8, 18-25).
Pe. Me. Alexsander Baccarini Pinto
Universidade Católica Portuguesa, Lisboa
25.08.2021
Imagem: pexels.com

O tema das alterações climáticas não é novidade e é atualmente tão debatido científica e politicamente que se tornou para muitos um assunto banal. O mais recente relatório de avaliação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações Unidas reforçou as preocupações em torno dos acontecimentos climáticos e levantou alarmantes cenários futuros. Simultaneamente, assistimos à ocorrência de eventos extremos como fogos e cheias que são sinais destas alterações e que têm profundas consequências ambientais e sociais.
Com a quantidade de informação a que somos expostos, incluindo opiniões divergentes de especialistas como climatologistas, é difícil para os “meros mortais” como nós compreenderem com o que lidamos. De um lado, temos uma comunidade científica a alertar para os danos ambientais causados pela humanidade e a afirmarem que, a este ritmo, estamos a caminhar para a próxima extinção em massa. Do outro, temos os climatologistas céticos que afirmam que pouco se sabe com certeza; e, por isso, não devemos fazer inferências com base em pressupostos tendenciosos. Não obstante, há aspetos com os quais até os mais céticos concordam, nomeadamente que “as temperaturas à superfície aumentaram desde 1880”, que “os seres humanos têm vindo a lançar dióxido de carbono para a atmosfera” e que “o dióxido de carbono e outros gases com efeito de estufa têm um efeito de aquecimento no planeta” (em “Alterações Climáticas: o que sabemos, o que não sabemos”, de Judith A. Curry 2019).
Certo, o panorama é complexo, mas este debate incessante sobre a gravidade da situação, sobre quem é o mais culpado e sobre como será o futuro desfoca-nos do essencial. Não precisamos ser cientistas para sabermos que os recursos da natureza são finitos e para avaliarmos grande parte dos modelos de produção e consumo vigentes como insustentáveis.
Isto não é suficiente para nos responsabilizarmos?
Podemos começar com o nosso coração. Trabalhando a nossa humildade, crescendo na consciência de que não somos proprietários dos recursos naturais e reconhecendo as limitações dos ecossistemas. Na carta encíclica sobre o cuidado pela casa comum Laudato Si’, o Papa Francisco chama a atenção para esta introspeção e convida-nos a encontrar soluções “não só na técnica, mas também numa mudança do ser humano; caso contrário, estaríamos a enfrentar apenas os sintomas”. Façamos uma avaliação ao nosso estilo de vida: faço escolhas que contribuem para a destruição do ambiente? Se sim, a preço de quê? De comodidade? Consigo alterar algum tipo de comportamento em prol do cuidado pela casa comum? É fácil responsabilizar os dirigentes políticos e empresas e argumentar que as escolhas ao nível individual não representam muito, mas se estas escolhas influenciarem opções políticas ou empresariais já podem ser representativas. Façamos a nossa quota parte com coragem, passando “do consumo ao sacrifício, da avidez à generosidade, do desperdício à capacidade de partilha” (Laudato Si’, §9).
Se a Terra é casa comum, então, a forma como nos relacionamos com a natureza é indissociável aos conceitos de fraternidade e justiça. Na carta encíclica Fratelli Tutti do Santo Padre sobre a fraternidade e a amizade social, somos convidados a combater a indiferença globalizada e a promover uma nova forma de vida, capaz de recuperar a sede de “pensar e agir em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns” (116). Este sair da própria bolha e amar mais, não só o que nos são próximos, mas todos, exige tempo e esforço.
Por fim, destaco o papel da educação e liderança na responsabilidade ambiental. Os jovens e crianças são os decisores do futuro e, por isso, é fundamental que as instituições de ensino e as famílias apontem para outro estilo de vida, capaz de cuidar dos ecossistemas. Não apenas as escolas e as famílias: todos nós somos convidados a ser exemplo nas pequenas ações diárias – evitar o desperdício alimentar, reduzir o consumo de água, produzir menos resíduos, apagar as luzes quando não são necessárias, plantar árvores –, amadurecendo os nossos hábitos e influenciando o estilo de vida de outros. Esta transformação pessoal nos pequenos gestos “faz parte duma criatividade generosa e dignificante, que põe a descoberto o melhor do ser humano” (Laudato Si’, §211).
Para a semana, dia 1 de setembro, a Igreja assinala o dia mundial de oração pelo cuidado da Criação, e até dia 4 de outubro somos convidados a viver o Tempo da Criação, em memória de São Francisco de Assis. E se aproveitarmos este tempo para renovarmos o nosso compromisso pelo bem comum?
Margarida Pessoa Vaz
In: pontosj.pt 23.08.21
Imagem: pexels-pixabay-51951

Há quem tema o fim do mundo, se deixe esmagar pela certeza de que um dia todos deixaremos de estar aqui. Em momentos diferentes, mas todos vamos deixar este mundo.
Há quem desespere com essa verdade que parece impedir a esperança.
Talvez a verdade seja que a vida não é para adiar, é para cumprir, da melhor forma possível, sem nos perdermos em tempos que não são os nossos, que não podemos alterar. O passado e o futuro escapam-nos, e quando nos demoramos a pensar neles, perdemos o presente. O hoje. A vida.
É certo que o dia do fim chegará, e haverá um dia antes desse. E se nesses, como nos anteriores, tivermos sido mais fortes do que os medos que nos paralisam e do que os egoísmos que nos impossibilitam de sermos melhores, então, se tivermos tido essa coragem, a nossa vida foi felicidade, apesar de todas as dores.
O que podemos esperar depois do fim desta vida? Creio que tudo. Não somos capazes de compreender o porquê de tudo, mas somos inteligentes o suficiente para que nos seja evidente que o mundo e tudo o que há nele, visível e invisível, não são o resultado de uma explosão sem sentido. Até pode haver acasos, mas não será tudo um acaso!
Este mundo está cheio de sinais simples de que tem sentido.
O tempo passa e nós com ele. Como se a existência fosse um enorme palco onde todos são livres de escrever o seu papel. Um palco num comboio que vai parando para que uns entrem e outros saiam. As estações não são o nada, mas outro mundo.
As certezas que não temos não são mais importantes do que a fé que podemos ter.
A minha vida não é o mal que me acontece, é o bem de que sou capaz. Viver é acrescentar.
Que eu aprenda a estar atento ao que brota de novo em mim… e não é para mim!
Que hoje seja diferente, que haja mais luz no mundo e que uma parte brote de mim!
José Luís Nunes Martins
In: imissio.net 30.07.21
Imagem: pexels/pixabay

Sêneca dedicou os últimos anos da sua vida a construir um dos mais fascinantes epistolários latinos. Discute-se muito se o seu correspondente, Lucílio, existisse de facto ou fosse simplesmente uma entidade ficcional. Há, porém, um candidato plausível a ocupar o lugar: Lucílio, o jovem, um modesto escritor e político que exercia nesses anos (62-65 d.C.) o cargo de procurador imperial na província da Sicília. As cartas de Séneca têm tudo o que nos fascina nas cartas: a vivacidade visual do quotidiano, as marcações lentas e íntimas do tempo, as confidências, os sentimentos entrevistos, a espontaneidade, o humor, as observações não transcuradas. De facto, as cartas são uma incrível forma de escrita tridimensional: dão a ver (ou criam a ilusão de dar a ver) em direto a existência tal como ela é. Mas, a somar a essas características, as de Séneca são também preciosos tratados filosóficos em pequeno formato. Além de amigo, o filósofo sentia a responsabilidade de guiar através da reflexão o aperfeiçoamento do seu interlocutor. Assim, cada carta oferecia a possibilidade de abordar temas e de oferecer pontos de meditação onde o conhecimento da verdade se ampliava. E de fazê-lo — facto deveras admirável neste clássico de obrigatória leitura — como um diálogo escorreito entre amigos, partindo tantas vezes da experiência mais comezinha da vida, mas com a capacidade de reconduzi-la ao âmago do seu sentido.
A carta 23 é dedicada à verdadeira alegria, aquela que não se confunde com a satisfação imediatista ou com os prazeres prêt-à-porter que apenas armadilham e contraem o campo de possibilidade do desejo. A verdadeira alegria é a que nos faz trilhar com decisão um itinerário interior do qual resulta um crescimento e uma maior consciência de nós próprios. Há formas de contentamento que alegram momentaneamente o rosto, mas aprofundam a divisão e o vazio da alma. Séneca insiste: “É o espírito que se deve alegrar, elevando-se com confiança sobre os acontecimentos, quaisquer que eles sejam.” Para isso temos, porém, de acolher a exortação que ele faz a Lucílio: disce gaudere, aprende a alegrar-te.
Esta necessidade de uma aprendizagem, não raro árdua, requerida para a experiência efetiva da alegria é um dos pontos centrais da sua mensagem. A este, juntaria outros três. O primeiro deles é a descoberta de que a alegria deve ser encontrada em nós (“que a alegria te nasça em casa”), não no que nos acontece. Contudo como acontece com os metais — os de escasso valor encontram-se à superfície, enquanto que os preciosos se escondem nas profundezas da terra —, a verdadeira alegria é aquela que parte do fundamento e se expande a partir de dentro. O segundo ponto leva-nos a compreender que a verdadeira alegria é a alegria do bem que se exprime, segundo Séneca, por uma reta consciência, uma honestidade de intenções e uma concentração no essencial, como “quem percorre um único caminho”. O último ponto é a vigilância e o empenho necessários para levar a bom termo a aprendizagem da alegria: são poucos aqueles que conduzem realmente a própria vida; a maior parte deixa-se levar pelo curso das coisas.
O discurso da alegria serve assim a Sêneca para um apelo à responsabilidade de vivermos a fundo a vida. Não aconteça que partamos sem ter percebido a oportunidade que representou esta passagem ou, pior ainda, que desistamos “de viver ainda antes de ter começado”. E Sêneca despede-se dizendo, vale, adeus.
Dom José Tolentino Mendonça
In: imissio.net 26.06.21

Miserere: A nudez poética de Adélia Prado
Miserere é o sugestivo título da última obra poética de Adélia Prado. Neste livro, as palavras da poetisa enamoram-nos quer pela metafísica, quer pelo desvendamento do que frequentemente se vincula ao quotidiano, proporcionando-nos a descoberta da grandeza da vida nas pequenas coisas.
A poesia adeliana possui a capacidade de estabelecer um diálogo permanente com Deus e uma ponte para a transcendência, veiculando uma crença na perenidade da carne e na eternidade da alma. Miserere nobis sugere um título no qual a fé se expressa através da poesia e a poesia se assume discursivamente como uma manifestação de fé.
Diante do medo, da insegurança, da morte e do pecado, a fé é chamada a permanecer intrinsecamente unida ao Criador, que sempre Se volta para nós com os Seus olhos de misericórdia. Adélia convoca-nos a contemplar a beleza da vida que floresce, mas também a ver, com os olhos de Deus, a fraqueza da carne nos afazeres do dia-a-dia, na certeza de que em todas as circunstâncias, a Beleza nos acompanha provocando-nos o espanto diante da magnificência da existência humana, lugar onde a vulnerabilidade se converte num laboratório de vida.
Adélia Prado iniciou o seu percurso biográfico como professora de filosofia, exercendo o magistério durante vinte e quatro anos até que, em 1976, surge no cenário da poesia brasileira a sua obra Bagagem, marcada pela novidade formal, apreciada por exímios escritores como Carlos Drummond de Andrade e Affonso Romano de Sant´Anna. Nesta sua primeira obra, revela uma maturidade estilística que vai determinar todo o seu posterior percurso literário. A poesia de Adélia configura a revalorização do feminino nas letras e o papel da mulher como ser-pensante.
Uma relação entre literatura e religião que compreenda ambas como criaturas irmãs e seres da linguagem permite-nos pressupor que as experiências poética e religiosa são correlativas enquanto experiências de sentido e, uma vez que se expressam em linguagem simbólica, encontram-se numa analogia formal. A última obra de Adélia, intitulada Miserere, convida-nos a percorrer esse pressuposto e a questionar a mutualidade entre as funções estética e religiosa no interior da ação criativa do ser humano. Numa entrevista concedida ao jornal Folha de S. Paulo, Adélia afirma a dimensão epifânica da poesia:
(…) poesia é a revelação do real. Experimentar a poesia é experimentar o real, o que de fato é. Ela é desveladora da realidade, ela permite a você a desmistificação da vida. [...] o poeta é como o filósofo, é aquele que está centrado no real. Por isso, ele é tão importante no processo de humanização das pessoas. [...] o discurso poético é uma epifania, revelação constante. Revelação dirigida à sensibilidade, que não conta com a inteligência, que envolve.
No poema Quarto de Costura, encontramos os elementos simbólicos que remetem à sensibilidade religiosa, imbuída na poética adeliana. Com considerável simplicidade, Adélia valoriza neste poema a figura feminina na imagem de um óvulo que contém a potência de um universo. Demonstra uma questionadora interpelação ao entregar-se a Deus perante as perguntas, deixando-se levar pelo afazer quotidiano de um bordado esquecido. Realiza ainda uma referencialidade bíblica e filosófica que não resiste ao apelo do corpo como lugar e condição de uma realização última do ser humano.
Interessante é perceber que a fé, como experiência humana, se transforma em linguagem poética e que o poema adquire uma estrutura corporal. Adélia é fascinada pelo mistério da vida! Ela contempla toda a criação como um “espelho de Deus”, onde a multiplicidade pertence à Unidade, onde um “óvulo imaginado” se abre em universos, onde o Mistério da Vida acontece no desabalar do olhar da fé e do coração pulsante de Deus.
A poesia adeliana carrega em si o desejo de alcançar um entendimento para além de uma fé alienada e nesse sentido Adélia questiona e interpela a compreensão da sua existência. A presença de Aristóteles e Platão mostra a inquietação em busca dos conhecimentos das questões universais inerentes ao ser humano. É na aceitação da natureza humana, da sua fragilidade e mortalidade, na saudade de algo feito de “carne e ossos”, na “acidez do sangue”, que o sujeito poético encontra o que deseja como quem carrega a sua cruz, para nela dar a vida e mergulhar no mistério insondável de Deus.
Os poemas de Adélia revelam peculiaridades de uma reflexão metalinguística, reflexão na qual as palavras são encaradas pela poetisa com um efeito vivificador e questionador, vivenciando a experiência poética em toda a sua força e corporeidade, aproximando a poesia do sagrado. O campo poético adeliano revela uma mistagogia onde o humano e o divino se dão as mãos, onde o infinito se funde no finito, parecendo configurar uma unidade intrínseca. De fato, o eu lírico é permeado de dúvidas e crenças nas quais é simultaneamente possível tocar o transcendente, o incondicional. Adélia tem um olhar de águia, com o qual é capaz de ver a vida como uma existência criativa e repleta de sentidos. Em Pontuação, por exemplo, podemos perceber que o mundo adeliano suporta o encontro paradoxal entre a condicionalidade da existência e a incondicionalidade de sentido:
(…) O medo pode explodir-nos,
é com zelo de quem leva sua cruz
que o carregamos.
Por isso, Deus, Vossa justiça é Jesus,
o Cordeiro que abandonastes.
Assim, quem ao menos se atreve
a levantar os olhos para Vós? (…)
Adélia comunica um encontro com o mundo em que este ora transparece em lúcida revelação, ora de si prorrompe tudo aquilo que o transcende. A poesia é esta linguagem simbólica à qual a poetisa recorre para expressar a sua experiência de encontro com o mundo. Na sua obra, as coisas estão imbuídas de sentido e carregam em si as marcas de Deus, sensível aos olhos da fé. A poesia parece ser uma via de se chegar ao real, de se contemplar na realidade do dia-a-dia os rastros de Deus nas coisas. Nas palavras de Mircea Eliade, esta constitui uma peculiaridade da existência do ser religioso no mundo:
Qualquer que seja o contexto histórico em que está imerso, o homo religiosus crê sempre que existe uma realidade absoluta, o sagrado, que transcende este mundo, mas que se manifesta nele e, por isso, o santifica e o faz real. Crê que a vida tem uma origem sagrada e que a existência humana atualiza todas as suas potencialidades na medida em que é religiosa, ou seja, na medida em que participa da realidade.
Adélia concebe a criação literária como um mistério que é quase um sinónimo de fé, ou seja, algo que não se explica através da inteleção, mas advém da experiência com o sagrado. A poesia leva-nos a ler a vida humana com o pano de fundo do sagrado. É na luz do transcendente que as palavras poéticas ganham um sentido e se humanizam, revelando a beleza e o ser das coisas.
Na poesia adeliana está patente a força da fé! É esta fé, muitas das vezes provada, dura, desconcertante, desinstaladora, que conduz o sujeito poético ao amadurecimento na oração, na espera pelo tempo de Deus. O poema Sala de espera revela a ansiedade do eu lírico que procura um consolo e uma resposta para os seus questionamentos e, no fundo, só se confronta com a dureza das palavras das Escrituras Sagradas:
A Bíblia, às vezes, não me leva em conta,
tão dura com minha gula.
Nem me adiantou envelhecer,
partes de mim seguem adolescentes,
estranhando privilégios.
Nunca me senti moradora,
a sensação é de exílio (…)”
A Bíblia mostra-se “tão dura” perante a voracidade do desejo de alimentar uma espécie de carência existencial que não foi sanada pela maturidade, em que os questionamentos permanecem “adolescentes”, em contínuo desenvolvimento. Ao mesmo tempo, a confiança na sabedoria divina de que “Deus sabe o que fez” faz o sujeito poético superar o medo, tendo na sua fragilidade a condição primordial para o entendimento da matéria humana. Adélia termina o poema de uma forma mais esclarecida, consciente de que a “fraqueza me põe no caminho certo” e na esperança de que Deus nunca abandona ou desampara o homem. Em Jó Consolado, o eu lírico aparece já amadurecido, com uma sólida esperança, na qual compreende o sofrimento e lhe confere um sentido transcendente. Desta forma, o corpo cansado desperta e a língua feita de argila louva pelo Amor visceral que Deus tem pelo homem, libertando-o de toda a dor, vergonha e má sorte.
Na poesia adeliana, destaca-se um misto de temáticas inerentes à infância da poetisa, à sua ligação com os familiares e amigos. No poema A que não existe, fica patente a temática da saudade. Adélia adentra-se num saudosismo que é preenchido pela abissal confiança em Deus. A poesia transporta em si o poder de eternizar a beleza dos momentos vividos, de trazer à memória pessoas e acontecimentos que marcaram a nossa peregrinação sobre o chão desta terra. A poesia aporta sentido às lembranças e atribui forças para prosseguir na construção da história da humanidade, com o sentimento de gratidão, como bem expressa o poema Contramor, por aqueles que nos concederam o dom da vida.
A poesia conduz-nos à dialética entre vida e morte, alegria e tristeza, saúde e doença. Leva-nos a confrontar com as distrações no velório de Filipa e, ao mesmo tempo, nos “espasmos no santuário” faz-nos contemplar o amor que Deus tem pelo pequenino rebanho que, apesar das feridas que sangram, dá a vida àquele que na sua fragilidade se encontrava morto. É nas três aves juntas que a poetisa nos leva a mergulhar na perfeita alegria da Trindade Santa. Num dia de inverno, a poesia convida-nos a maravilhar com o sol nascente que ilumina a beleza linfática do mundo. O olhar puro e simples de Adélia traz cor e beleza às coisas, mesmo diante do incompreensível emerge um facho de luz que plenifica e rodopia a existência humana:
(…) Mas eis que a noite constela-se
e, com tanta acha de lenha
e tanta casca de pau,
já tenho como fazer uma fogueira bonita.
Espelho meu, estilhaça-te!
Escolho o baile,
quero rodopiar.
Na poesia de Adélia Prado, há um constante ir e voltar, numa conversa em que se cruzam vários assuntos. Em muitos deles, o sujeito poético começa um tema, passa para outro, faz um retorno ao primeiro e convoca um terceiro, tal como uma espiral. Isso ocorre, porque provavelmente o processo poético de Adélia se desenvolve com o olhar, com a contemplação e, finalmente, com uma reformulação. A beleza das coisas motiva o observador a expressar os seus encantamentos. É através da via da beleza e da forma que a realidade adquire o verdadeiro sentido e, por isso, é necessário olhar, contemplar e reformular o processo poético. A poesia tem, por isso, a capacidade de nos remeter para a beleza suprema das coisas que tudo purifica, que tudo transforma, que tudo recria. Alfredo Bosi, em sua obra O ser e o tempo da poesia, afirma que:
Belo é o que nos arranca do tédio e do cinza contemporâneo e nos reapresenta modos heroicos, sagrados ou ingênuos de viver e de pensar. Bela é a metáfora ardida, a palavra concreta, o ritmo forte. Belo é o que deixa entrever, pelo novo da aparência, o originário e o vital da essência.
Mesmo Fiódor Dostoiésvski afirmava: “A beleza salvará o mundo”. Com a Encarnação do Verbo, não há dúvidas de que esta Beleza tem um rosto e um nome: Jesus de Nazaré! É a própria Beleza que assume a forma humana para elevar e dignificar o homem, criado à sua imagem e semelhança. O título desta última obra de Adélia é uma feliz invocação à misericórdia desta Beleza encarnada: Miserere! É a beleza nua desta misericórdia que salva, que transforma e que recria. Jesus é a “palavra concreta” e o “ritmo forte” que dá vitalidade e beleza às coisas criadas.
O olhar de Adélia faz da poesia um sursum corda, um signo sagrado de ética religiosa aliada à opção estética. Confrontamo-nos com a afirmação de princípios poéticos e éticos, em que a metalinguagem é o ponto de partida para uma discussão existencial. Através do concreto, chega-se ao abstrato. Enquanto matéria palatável, o poema transforma-se em algo que se pode “lamber” e “devorar”: “Pus um ponto final no poema / e comecei a lambê-lo a ponto de devorá-lo”, diz Adélia em A Pontuação. Numa cena insólita, o sujeito poético é tomado por pensamentos caracterizados como estranhos: “numa bandeja de prata / uma comida de areia, / um livro com meu nome / sem nenhuma palavra minha”. Depois a imagem de uma cruz que é carregada pelo homem num ato semelhante ao de Cristo: “O medo pode explodir-nos, / é com zelo de quem leva sua cruz, / que o carregamos” – uma mistagogia que pode ser compreendida como metáfora para a aceitação do sacrifício da condição humana.
Miserere evoca o clamor da intimidade, onde a poesia dá voz e sabor ao brado da nudez existencial de cada homem e cada mulher. Miserere é o diálogo com Deus, através dos acontecimentos da vida humana. Nas fragilidades, nos sentimentos de inadequação, nos descompassos entre o corpo e o espírito, a luz da fé deve permanecer acesa, como evoca o poema Humano: “A alma se desespera, / mas o corpo é humilde; / ainda que demore, / mesmo que não coma, / dorme”.
Diante do medo e da instabilidade, a fé é convidada a permanecer constante. Construir, reconstruir, cair, levantar, carne, espírito, mistério, morte, vida, pecado, Deus. Tudo se transforma em poesia! Tudo se transforma em oração! Adélia convida-nos a amar a nudez da nossa carne. Amar sempre! O amor salva e liberta! E, quando não amamos, devemos suplicar: Miserere! Em Adélia, o pecado maior, que brada aos céus, que desfigura o corpo e a alma, é não amar, é recusar-se à abertura do coração. No dizer de Carlos Drummond de Andrade: “Não catei o verme / Não curei a sarna / Não amei bastante meu semelhante / Não amei bastante sequer a mim mesmo.” É deste pecado, mais do que de qualquer outro, que devemos ser perdoados e por isso rezamos o Miserere! O mistério da Encarnação dobra a cerviz, pois nele habita a infinda beleza de Deus que nos ama e nos conduz à Beleza do seu misericordioso Coração.
A nudez poética adeliana clama por um Miserere nobis, mas também ecoa uníssono um Laudato Si, como bem sugere poetisa:
“Louvado seja Deus, meu Senhor, porque o meu coração está cortado a lâmina, mas sorrio no espelho ao que a revelia de tudo se promete, porque sou desgraçado como um homem tangido para a forca, mas me lembro de uma noite na roça, o luar nos legumes e um grilo, minha sombra na parede. Louvado sejas porque eu quero pecar contra o afinal sítio abrasivo dos mortos, violar as tumbas com o arranhão das unhas, mas vejo tua cabeça pendida e escuto o galo cantar três vezes em meu socorro. Louvado sejas porque a vida é horrível, porque mais é o tempo que eu passo recolhendo os despojos. Velho é o fim da guerra como macabra, mas limpo os olhos, do muco do meu nariz, por um canteiro de grama. Louvado sejas porque eu quero morrer, mas tenho medo e insisto em esperar o prometido. Uma vez quando eu era menina quando abri a porta de noite, a horta estava branca de luar e acreditei sem nenhum sofrimento, louvado sejas.”
Bendita e louvada seja a nossa nudez!
Pe. Me. Alexsander Baccarini Pinto
Mestre em Teologia pela
Universidade Católica Portuguesa, Lisboa.

A vida não é, desengana-te e desengana quem te faz sentir e acreditar que é, sobre tudo o que vais somando e que te fazem sentir que tens de somar. A vida não é sobre tudo o que vais cumprindo e que te fazem sentir que tens de cumprir. A vida não é sobre o tanto que vais correndo e que te fazem sentir que tens de correr. A vida... a vida é sobre o que te enche as medidas da alma e do coração, até transbordar. A vida é sobre o que dá vida.
A vida é sobre os abraços que se fazem casa segura. A vida é sobre as mãos que se entrelaçam e seguram a alma. A vida é sobre os olhares que contam os segredos mais bonitos. A vida é sobre os sorrisos que tocam em cheio no coração. A vida é sobre os beijos que curam as dores. A vida é sobre as dores de barriga de tanto rir. A vida é sobre as lágrimas que se secam com a magia da cumplicidade. A vida é sobre as palavras ditas com o coração e sobre os silêncios escutados com o coração. A vida é sobre as músicas que arrepiam os sentidos. A vida é sobre os sonhos que fazem voar. A vida é sobre olhar o céu cheio de lua e de estrelas. A vida é sobre os momentos que se imortalizam. A vida é sobre as almas que se abraçam. A vida é sobre os corações que se sentem. E que se abraçam também. A vida é sobre as tuas pessoas. A vida é sobre viver e ser com o coração. A vida é sobre os gestos que salvam. A vida é sobre tatuar o mundo com amor.
Desengana-te e desengana quem te faz sentir e acreditar que não: a vida é sobre o amor.
Daniela Barreira
In: imissio.net 21.06.21
Imagem: Henri Cartier Bresson

Após ter anunciado aos discípulos e às multidões algumas parábolas a partir de uma barca encostada à praia, Jesus decide passar à outra margem do mar da Galileia (Marcos 4, 35-41): trata-se de uma “saída” da terra santa de Israel, para ir em direção a uma terra habitada por pagãos. Porquê esta decisão tão audaz? Porque Jesus, apesar de se sentir enviado primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. quer anunciar a misericórdia de Deus também aos gentios, quer combater Satanás e tirar-lhe terreno também naquela terra estrangeira e não santa. Esta é a razão que move Jesus. Jonas, chamado por Deus a ir a Nínive, cidade símbolo dos pagãos, foge, faz um caminho em direção oposta; Jesus, pelo contrário, enviado por Deus, vai ao encontro dos pagãos.
Os discípulos, portanto, iniciam a travessia do lago, «levando consigo Jesus» (expressão única, porque habitualmente é Jesus que leva consigo os seus discípulos: Ele está exausto devido à longa jornada de pregação, e na barca procura uma enxerga na qual se possa distender para repousar. Mas à vontade de Jesus opõe-se o mar, que é o lugar onde as forças do mal se desencadeiam em tempestade. Não se esqueça que para os judeus o mar era o grande inimigo, vencido pelo Senhor quando fez sair o seu povo do Egito; era a morada de Leviatã, o monstro marinho; era o grande abismo que, quando desencadeava a sua força, amedrontava os navegantes. E eis que o poder do demónio se manifesta numa tempestade de vento, que lança as ondas contra a barca e tenta afundá-la. É noite, é a hora das trevas, e o medo sacode aqueles discípulos, que deixaram de conseguir governar a barca. O naufrágio parece inevitável, e todavia Jesus, à popa, dorme.
Os discípulos, então, tomados pela angústia, ao ver Jesus adormecido, impacientam-se. Decidem por isso despertá-lo, e com modos decerto não reverentes, gritam: «;estre, não te importa que estejamos perdidos?». Esta maneira de se exprimirem é já eloquente: chamam-no “mestre” e com palavras bruscas contestam a sua inércia, o seu sono. Palavras que na versão de Mateus se tornam uma oração - «Senhor, salva-nos, estamos perdidos!» - e na de Lucas um chamamento - «Mestre, mestre, estamos perdidos!». Marcos recorda melhor as relações simples e diretas, até pouco gentis, dos discípulos para com Jesus…
Perante esta falta de fé, Jesus repreende o vento e exorciza o mar. «dizendo-lhe: “Cala-te, acalma-te”. E subitamente o vento cessou e houve grande bonança». Este milagre realizado por Jesus – não escapa a ninguém – tem sobretudo um grande alcance simbólico, porque cada um de nós, na sua vida, conhece horas de tempestade. Também a Igreja, a comunidade dos discípulos, por vezes encontra-se em situações de contradição tais, que se sente imersa em águas agitadas, em grandes vagas, num vórtice que ameaça a sua existência. Nestas situações, em particular quando duram muito tempo, tem-se a impressão que a invisibilidade de Deus é, na realidade, um seu dormir, um não ver, um não sentir o grito e os gemidos de quem se lamenta. Sim, a pouca fé faz os crentes gritar: «Deus, onde estás? Porque dormes? Porque não intervéns?» (cf. Salmos 35, 44, 59, etc.).
Devemos confessá-lo: ainda que acreditemos ter uma fé amadurecida, de sermos cristãos adultos, na provação interrogamos Deus sobre a sua presença, chegamos inclusive a contestá-lo e por vezes a duvidar da sua capacidade de ser um Salvador. O sofrimento, a angústia, o medo, a ameaça à nossa existência pessoal ou comunitária tornam-nos semelhantes aos discípulos na barca da tempestade. Por isso Jesus tem de os repreender com palavras duras. Não só lhes pergunta «porque estais tão amedrontados?», como acrescenta: «Ainda não tendes fé?». Discípulos sem fé, sem adesão a Jesus: seguem-no, escutam-no, mas não colocam nele plena confiança.
E eis que diante destas palavras tão críticas de Jesus, mas também diante do prodígio que viram com os seus olhos, aflora nos discípulos uma pergunta: «Quem é verdadeiramente este rabi, este mestre, que até o vento e o mar a Ele se submetem?». Contudo, também deste acontecimento não saberão extrair uma lição, porque, quando chegar para Jesus e para eles a grande tempestade, a hora da sua paixão e morte, desencorajar-se-ão por causa da sua falta de fé. De facto, esta provação da tempestade no mar é anúncio da grande provação que os aguarda em Jerusalém, onde todos o abandonarão e fugirão. Depois, perante Jesus morto e sepultado, verificarão um grande malogro do mestre e do seu grupo. E só o túmulo vazio e o contemplar Jesus vivo, ressurgido da morte, gerarão neles uma fé sólida, que os conduzirá a confessar Jesus enquanto vencedor sobre o mal e sobre a morte. Então, enquanto testemunhas do Ressuscitado, tornar-se-ão também capazes de enfrentar, por sua vez, a tempestade que se abaterá sobre eles: a perseguição por causa do nome de Jesus e da fé nele.
Quando Marcos escrevia o seu Evangelho e o entregava à Igreja de Roma, a pequena comunidade cristã na capital do Império estava na tempestade e reinava nela um grande medo, ao ponto de impedir àqueles cristãos a missão junto dos pagãos. Assim Marcos convida-os a não temer a “saída” missionária, convida-os a conhecer as provações que os esperam como necessárias; provações e perseguições nas quais Jesus, o Vivo, não dorme, mas está no meio deles. A tempestade sobre o mar da Galileia é uma metáfora da luta contra as potências do mal, luta que Jesus Cristo venceu. Jesus aparece então como Jonas, mas um Jonas ao contrário: não relutante, mas missionário rumo aos pagãos, em obediência a Deus. Em todo o caso, Jonas e Jesus são dois missionários de misericórdia, e ambos pregam a preço muito caro: descendo ao vórtice das águas e enfrentando a tempestade, porque só atravessando-a se vence o mal. É por isso que Jesus dirá que à sua geração será dado apenas o sinal de Jonas, ou seja, a parábola da misericórdia anunciada ao preço da descida às águas da morte, ao preço de ir até ao fundo.
Quanto é cristã a frase: “Naufragium feci, bene navigavi”. Naufraguei, mas naveguei bem, porque aportei ao reino de Deus.
In Il blog di Enzo Bianchi
Trad.: Rui Jorge Martins
Imagem: pexels.com/johannes-plenio
Publicado em 18.06.2021 no SNPC

Não há nada que não possa magoar um coração. A sua sensibilidade deriva de uma capacidade de decisão única e extraordinária de não se deixar endurecer apesar do que sofre.
Muitas pessoas afastam-se do seu próprio coração. Tentam ser outras que não elas, mas o que resulta é que acabam por criar algo pior…
A nossa identidade depende muito da forma mais ou menos irracional como lidamos com o mundo, mais do que das nossas ideias claras e da lógica do que julgamos ser.
O coração é simples: ou se alegra e sorri ou, entristecido, sofre. Algumas vezes fica em paz, mas nunca por muito tempo, porque não gosta de estar vazio e quer experimentar cada coisa, seja ela real, possível ou impossível. Aliás, estas distinções não fazem sentido do seu ponto de vista.
No coração cabe o infinito e a eternidade, dimensões inacessíveis à razão humana. É capaz do céu e do inferno, como se fosse uma escada que vai desde o fundo do poço até ao mais alto dos céus.
Amar é um ato de coragem suprema, porque implica abrir os braços para abraçar e ser abraçado, mas, quando assim alguém se dá, abre-se a ser trespassado por algum punhal que o outro traga escondido.
O milagre que é também um mistério é que não se pode matar um coração. Pode sofrer, mas morrer não. Talvez porque não há mal maior do que o bem. Talvez porque, de certa maneira, sofrer traga algum bem que não faça sentido à razão…
Se já sentes os dias todos iguais e á em ti uma grande indiferença face a tudo o que te rodeia, então é tempo de te retirares e cuidares do teu coração danificado. Muitas vezes, ele desliga quando teimamos em não o escutar ou em fazer o que o faz sofrer.
Não devo ser escravo do meu coração, mas também de nada me vale tentar dominá-lo. A felicidade nasce da paz. Só serei feliz se estiver em paz com o meu coração.
Que nunca o teu coração deixe de ser um castelo onde há espaço para tudo, onde a porta está aberta, tanto para acolher todo o bem como para expulsar todo o mal.
José Luis Nunes Martins
28.05.2021
In: imissio.net
Imagem: pexels.com

Um dos equívocos, dos quais mais penoso é nos libertarmos, reside na concepção de útil e de inútil. Declaramos apressadamente útil tudo que o que se mensura em dinheiro e produtividade, em efeito imediato, em promoção ou retorno visível. Associamos o útil à resolução das necessidades materiais e rodeamo-lo, assim, daquele prestígio próprio das ações indispensáveis. Enquanto que desclassificamos o inútil vendo nele um esbanjamento, uma excentricidade, quando não um desperdício. Assumimos o útil como um dever. Ao inútil concedemos um estatuto eventual, entendido como uma espécie de resto, em relação ao qual não sentimos o apelo e a pressão social de desenvolvimento ou transmissão. E contudo, pensando bem, se do lado do inútil não estarão os deveres, está, porém, algo igualmente precioso: a maturação profunda do que somos. Se não alinhamos da parte do inútil os afazeres que garantem a nossa sobrevivência, podemos, contudo, colocar aí a experiência interior decisiva que representa encarar a vida e a morte, a memória e o desejo, a solidão e a alegria. Se não organizamos no campo do inútil a construção dos diversos saberes que nos servem, a verdade é que sem ele não transitaremos para a sabedoria. Como recorda um poema de Pedro Tamen, “o caracol conhece pouco mundo,/ mas é colado a ele que o conhece”. O inútil, que tem a forma de aéreo assobio, cola-nos diretamente ao mistério da vida e dá-nos um tipo de conhecimento que, de outro modo, não alcançaríamos.
Por isso, devemos mais do que supomos aos mestres do inútil. Normalmente são pedagogos casuais e aquilo que nos dão não se configura, à partida, como ensinamento. Que se tratou de uma poderosa lição de vida damo-nos conta depois. Vínhamos apenas para ver e esses discretos mestres mostraram-nos, por exemplo, a importância da contemplação, abriram-nos ao diálogo com essa sede de êxtase que trazemos alojada na carne. Viajávamos com um propósito fixo e eles conectaram-nos ao perfume daquilo que não tem porquê.
Um dos contos mais extraordinários (e demolidores) de Flannery O’Connor fala disso, apresentando-nos a história de O.E. Parker aos 14 anos quando, numa feira ambulante, tropeça na visão de um homem tatuado dos pés à cabeça. Esse encontro desencadeou nele uma viragem, mas de modo tão delicado que ele não conseguia aperceber-se bem do sucedido. Como explica Flannery, até aquele momento, “nunca lhe passara pela cabeça que a sua própria existência pudesse ser a expressão de alguma coisa fora do comum”. O elenco das visões inúteis que nos espantam é longo e pessoalíssimo. Porém, o seu propósito é sempre esse: o de nos revelar que a nossa pequena existência pode ser o espaço para alguma coisa maior.
Ora, esta consciência, que nos chega pelo espanto, pode-nos chegar também pelo sentimento de fracasso que, por vezes, nos toma. Na última entrevista do sociólogo Zygmunt Bauman, concedida ao jornalista Peter Haffner, a dada altura fala-se de José Saramago como de um mestre admirado. E Bauman refere o significado que teve para ele o encontro com uma página diarística escrita por Saramago aos 86 anos, em que este confessa sem filtros o seu falhanço. As intuições a que havia chegado não pareciam ter influência alguma no curso da história. Por consequência, fazia a si mesmo (fazia contra si mesmo) uma drástica pergunta: porquê, então, pensar? A resposta de Saramago iluminou Bauman: nós pensamos porque não conseguimos evitar, não somos capazes de atravessar o mundo de outra maneira. O pensamento é um exercício humilde e espontâneo, um facto equivalente ao transpirar.
Dom José Tolentino Mendonça
24.05.2021
In: imissio.net
Imagem: pexels.com

No ar que hoje todos respiramos, surge várias vezes, logo afastado, o temor do fracasso. Com efeito, o objetivo que é proposto, e que ressoa como resultado determinante da felicidade e do êxito de uma vida, é o sucesso. E não só o sucesso é perseguido, como é considerado aquilo que salva uma existência. De outra maneira, a pessoa sente-se uma falhada, contada entre os descartados da sociedade.
Esta parece-me ser uma doença espiritual do nosso tempo, e muitos estão convictos de que o sucesso deve ser procurado como o desejo por excelência a inocular nas novas gerações. Não foi por acaso que Pier Paolo Pasolini escreveu: «Penso que é necessário educar as novas gerações para o valor da derrota. Para a sua gestão. Para a humanidade que dela brota. Para construir uma identidade capaz de percepcionar uma comunhão de destino, onde se pode falhar e recomeçar sem que o valor e a dignidade sejam atacados. Para que não se tornem conquistadores sociais, para que não passem sobre o corpo dos outros para chegar primeiro».
Também os cristãos, arrastados e habituados a procurar a aprovação dos outros para os seus comportamentos bons, caritativos e conformes ao Evangelho, perseguem uma espécie de êxito, de sucesso no mundo, e portanto tornaram-se incapazes de entrever a possibilidade da fraqueza e do consequente fracasso.
O drama que vivem nesta reviravolta epocal nas sociedades ocidentais é precisamente determinado por um falhanço da evangelização, da pastoral, da incapacidade de contrapor uma presença de minoria significativa diante da humanidade de hoje. E os seus prantos, as suas lamentações não são diferentes das do profeta Jeremias na cidade santa de Jerusalém. No entanto, declaram-se discípulos de um profeta (este, pelo menos, era-o!) que conheceu como resultado da sua vida um impiedoso fracasso após alguns anos de pregação, de vida comunitária, de ação benéfica entre as pessoas. Traído e abandonado, foi considerado nocivo ao bem do seu povo e blasfemador da autoridade religiosa, e portanto condenado à morte pelo poder imperial romano. Que fim!
Por isso o fracasso deve ser inscrito no itinerário da existência cristã, assim como, bem o sabemos, no da existência humana. A queda e o fracasso não podem ser removidos porque estão inscritos na “infermitas” das vidas humanas, na fragilidade que nos conduz a falhar. Pode chegar a hora da queda e, como dizia um padre do deserto, «no fracasso vai-se ao fundo, toca-se o fundo, mas no fundo descobre-se o fundamental».
A queda e o fracasso que nos esmagam por vezes são legíveis e motiváveis, outras vezes permanecem na obscuridade e são enigmáticos, sobretudo as crises interiores, existenciais, quando caímos no “nada” e deixamos de ser capazes de reencontrar o sentido das coisas e da vida. Então reina a noite, a treva, e também Deus é percepcionado como mudo e ausente pelo crente. Bernardo de Claraval, após uma vida repleta de sucessos, ao ponto de ter sido decisivo inspirador do papa, viveu uma crise terrível: deixou o mosteiro, retirou-se em solidão num bosque, e chegou a reconhecer «ter passado rente ao inferno, caindo e caindo». Mas depois daquela crise escreverá: «Ó desejável fraqueza!».
Não quero concluir estes pensamentos com a cereja da esperança, mas simplesmente despertar a consciência de que também o fracasso faz parte da vida e não deve ser afastado; seja então proclamado: «Feliz fraqueza»!
Enzo Bianchi |In Il blog di Enzo Bianchi
Publicado no SNPC em 07.05.2021
Imagem: pexels.com

Não sejas um egoísta básico, daqueles que só pensam em si a curto prazo. Agarram-se a tudo o que lhes dá prazer e fogem de qualquer sacrifício ou dor. Nunca são felizes, porque vivem desassossegados por nunca saberem quando lhes acaba o que julgam ter ao seu dispor de bom, ao mesmo tempo que vivem com medo de que algo de mau lhes aconteça.
Os egoístas primários não compreendem que são eles próprios os responsáveis pela sua inquietude sem fim. Só são infelizes porque, apesar de até poderem estar no caminho certo, estão a caminhar na direção errada!
Também há os egoístas sábios. São pessoas que procuram o que é melhor para si, não no imediato, mas a médio e longo prazo. Só pensam em si mesmas, apesar de compreenderem que é quase sempre necessário pagar um preço para alcançar algo de importante. E, porque o pagam, a vida sorri-lhes mais do que aos básicos. Embora isso te possa parecer muito equilibrado, não te deixes cair na armadilha deste tipo de pessoas interesseiras, que só fazem algo se tiverem a quase certeza de um lucro qualquer no futuro.
O egoísmo que importa aprender é aquele que coloca a sua meta muito para lá de qualquer interesse, ao ponto de compreender que qualquer gesto que busque um benefício vindo de fora é estúpido e só nos afasta do verdadeiro bem.
O bom egoísmo é aquele que compreende que só quem é capaz de se dar sem esperar nada em troca, só quem consegue escutar o outro sem fazer julgamentos cria verdadeiras ligações, só quem é o que de melhor pode ser… é que atinge a felicidade! Aquela que não passa, a que permanece mesmo quando se tem de carregar uma cruz às costas.
Devemos pensar em nós mesmos, mas como meios e instrumentos da felicidade dos que nos rodeiam.
O amor é a condição da felicidade. Se queres ser feliz, esquece-te de ti e concentra-te no que és, no que que te é possível e no que te rodeia. Contempla o mundo como algo em que podes e deves fazer alguma coisa de bom.
Mais do que procurarmos ser felizes, devemos querer ser merecedores da felicidade.
Se o seremos ou não, isso já não depende apenas de nós.
José Luis Nunes Martins
23.04.2021
In: imissio.net

A árdua travessia que estamos a viver reforça a evidência de duas premissas que interpretamos agora, porventura, melhor. A primeira prende-se com a importância da saúde pública. As dificuldades da hora presente acentuam a sua primazia como direito e valor fundamental que precisa de ser devidamente tutelado e garantido, pois é uma espécie de requisito prévio para que a vida, nas suas múltiplas expressões, se possa afirmar. A vida, que é sempre mais frágil e mais forte do que pensamos, está construída com o sistema das peças do dominó, isto é, numa dependência mútua. Por isso, uma devastadora crise sanitária como a que vivemos não é apenas uma crise sanitária, mas um abalo global. Porém, que precisamente reconhecendo o impacto poliédrico da pandemia, as nossas sociedades tenham elegido, como bem primeiro a salvaguardar, a saúde dos cidadãos é alguma coisa que as qualifica eticamente. Nesse sentido, a dramática e quotidiana luta, que há meses se vem jogando no campo da saúde pública, constitui o mais belo elogio àquilo que representa a ideia de um país. E aqui uma palavra de gratidão é devida aos atores que intervêm diretamente no campo da saúde, partindo das suas competências, mas operacionalizando-as com admirável espírito de abnegação, entrega e sacrifício.
Hoje temos assim mais clara a centralidade atribuída à saúde pública. Mas não só. Como que emerge uma visão mais integradora desse conceito, uma visão que o reconfigura, ajudando-nos a compreender a necessidade de construir um novo paradigma, sobre o que é a cura, o cuidado e a saúde. Não podemos continuar a reproduzir um esquema restritivo ou apenas técnico. A complexa experiência da pandemia impele-nos a identificar novos instrumentos de saúde pública que tenham em consideração a abrangente e intrincada fenomenologia da existência humana. Dois breves exemplos sobre os quais muito se poderia dizer: o consenso cada vez mais assente de que a solidão é uma doença mortal que tem de ser tratada com o mesmo empenho que colocamos no tratamento das outras patologias; e a consciência do papel fulcral que cabe à esperança nos processos terapêuticos e de reconstrução.
Lia, estes dias, uma interessante entrevista com o arquiteto Renzo Piano, que está neste momento a projetar três hospitais, um deles na região norte de Paris e que será o maior hospital de França. Neste último ano, vimos todos insistentemente mais imagens de hospitais do que no resto das nossas vidas. E que lição podemos retirar? O que é que nós vimos? Se pensarmos, o desenho dos hospitais espelham um entendimento social da sua função. Os hospitais no século XIX eram estruturados em diversos pavilhões, consoante as disciplinas médicas, formando um gentil arquipélago clínico, mas de ilhas separadas. No século XX triunfou a concepção do hospital monobloco, onde a técnica médica registou um efetivo domínio e obteve um funcionamento mais unitário, mas onde igualmente a dimensão humana se reduziu, a ponto de desaparecer. Por isso, mesmo se alguns o possam talvez acusar de excessivo otimismo, Renzo Piano defende que a aceleração trazida pela pandemia tornou os tempos maduros para um salto cultural: os hospitais deste surpreendente século XXI são chamados a expressar um novo humanismo. Procurando colocar em diálogo elementos que têm estado desligados: a excelência médica e a excelência de humanidade que se possa viver, o olhar integral à pessoa humana (que é corpo, mas também espírito, sentimento, emoções...), o exercício da ciência e o sentido de beleza, a funcionalidade dos espaços e a relação com a natureza.
Dom José Tolentino Mendonça
19.04.2021
In: imissio.net
Imagem: pexels.com

Entramos na semana que os cristãos chamam “santa” porque é a semana que exprime a fé dos seguidores de Jesus, este galileu que com as palavras e a vida quis narrar-nos Deus e entregou-nos uma mensagem humaníssima. De várias maneiras (ritos, orações…) os cristãos fazem memória sobretudo dos últimos dias de Jesus, da sua paixão e morte, e afirmam que o amor vivido por este homem venceu a morte. Gostaria, se disso for capaz, de procurar exprimir que significado pode ter para todos, inclusive para os não-cristãos, esta memória de acontecimentos ocorridos há cerca de dois mil anos.
De acordo com o quarto Evangelho, Pilatos, o procurador romano, durante o processo apresenta Jesus torturado à multidão que lhe quer a morte com as palavras: «Eis o homem!». Um homem fraco e atingido com violência pelos soldados, um homem ridicularizado, desprezado e desfigurado, homem que está sempre presente na História e que devemos ver no pobre, no oprimido, na vítima do poder, em quem não conta nada neste mundo.
Aquele espetáculo da vigília de Páscoa no pretório é o espetáculo de que continuamos a ser espetadores no nosso hoje. Não se trata de alimentar visões doloristas, mas simplesmente estar conscientes de que aquela paixão, aqueles acontecimentos de injustiça e de violência mortífera, continuam no presente, e que cada um de nós deve dizer: «Eis o homem!». Eis a humanidade! E pensar, naquela condição desumana que não queremos ver, ou ver com resignação: «Se este é um homem…».
Esta é também a epifania do que significa estar na desumanidade, estar no profundo da alienação, ser um refugo nesta corrida que o mundo faz sem se interrogar sobre a violência, a exploração, a guerra e a injustiça de que é capaz. Nos séculos passados, a cristandade, precisamente para não assumir a responsabilidade da violência por ela perpetrada aos seres humanos, inventou o deicídio atribuindo-o aos judeus, impedindo assim de ver na de Jesus a paixão de um inocente perseguido.
Reler, meditar a paixão de Jesus não nos conduz a concluir que estamos ao abrigo do sofrimento, mas revela-nos que pode haver uma confiança que não claudica mesmo em quem sofre, que se pode viver o amor que se dá e que se recebe mesmo quando se é atingido pelo poder do ódio, que se pode alimentar a esperança também no aparente fracasso. E devemos reconhecer que igualmente outros humanos, homens e mulheres como Jesus, souberam viver assim a sua “paixão”.
Sim, Jesus foi condenado pelo poder religioso antes de mais porque libertava o ser humano de imagens perversas de Deus, e foi morto pelo poder imperial totalitário porque era “perigoso”, como, devemos reconhecê-lo, tantos o são ainda hoje. Mas por todas estas vítimas da História é nosso dever fazer memória que nos caminhos do sofrimento pode resplandecer a capacidade da humanidade de amar, de esperar, de perdoar, para esmagar o círculo infernal do ódio e da violência.
A narrativa da paixão de Jesus conclui-se com as palavras: «Começavam a brilhar as luzes do sábado» - um novo dia na história da humanidade
In Il blog di Enzo Bianchi
Trad.: Rui Jorge Martins
Imagem: Bigsotock.com
Publicado em 30.03.2021 no SNPC

A misericórdia divina é uma temática que ainda não está superada, antes é uma mensagem de grande atualidade. É justamente a atualidade desta temática que nos estimula a escavar na tradição do pensamento humano por uma resposta à nossa situação.
Nas Sagradas Escrituras, encontramos a misericórdia de Deus em diferentes formas de revelação. No Antigo Testamento, esta aparece, algumas vezes, associada ao nome de Iaweh, outras à santidade de Deus, outras ainda à fidelidade do Senhor de Israel.
São Tomás de Aquino, na célebre Suma Teológica, apresenta-nos a Misericórdia associada à Justiça de Deus.
Ao recorrermos ao pensamento do Doutor Angélico, é de esclarecer que, com esta temática tocamos no fundamento e no mistério profundo do cristianismo, no Mistério de um Deus que se faz pequeno para resgatar a indigência da condição humana. Por misericórdia e justiça, Deus se enamora da nossa pequenez, manifestando um amor visceral por cada um de nós: “Ao longo do caminho da história, a luz que rasga a escuridão revela-nos que Deus é Pai e que a sua paciente fidelidade é mais forte do que as trevas e do que a corrupção. (…) A mensagem que todos esperavam, que todos procuravam nas profundezas da própria alma, mais não era que a ternura de Deus: Deus que nos fixa com olhos cheios de afeto, que aceita a nossa miséria, Deus enamorado da nossa pequenez” (Papa Francisco, 2014).
Por isso mesmo, Tomás de Aquino nos mostrará que a misericórdia e a justiça pressupõem um fundamento geral, que remonta à criação do ser humano. O homem é querido e precioso aos olhos do Pai. Pela Encarnação de seu Filho Unigênito, Ele nos justifica e nos eleva até ao seu Coração Misericordioso: “São Tomás mostra, de modo convincente, que a misericórdia opera já na criação. Segundo ele, a misericórdia é a condição sine qua non da justiça, pois a justiça pressupõe sempre a existência de alguém a quem se deve justiça; a existência das criaturas é imerecida e deve-se unicamente à bondade de Deus” (Kasper, A Misericórdia – Condição fundamental do Evangelho e chave da vida cristã, 2015).
Afirmar que Deus é Justo e Misericordioso é compreender que Deus tem um amor incondicional pelos miseráveis, que Ele não é um Deus alheio às mazelas humanas, distante, mas antes se compadece e se deixa tocar pela indigência do homem. Não que Deus se comova mas, por causa da sua soberania amorosa, num sentido ativo e livre, Ele se deixa comover e tocar pela miséria humana. Em Deus não há paixão, mas há compaixão.
Tudo isto refere-se à bondade suprema do Criador. O amor e a bondade em Deus nunca têm fim e estas estão intrinsecamente relacionadas com a justiça. Percebemos aqui que é possível conciliar justiça e misericórdia, como bem demonstra S. Tomás: “Deus dá a cada um o que é devido. É devido a Deus que seja realizado nas coisas aquilo que na sua sabedoria e bondade se manifesta” (S. Th., I, q. 21, a. 1). Por outras palavras, a ideia da misericórdia e da justiça em Deus não são meras ideias abstratas, mas é uma realidade experiencial, na qual Ele próprio revela o Seu amor incondicional. No dizer do Papa Francisco, na Bula Misericordiæ Vultus, nº 6, “é verdadeiramente caso para dizer que se trata de um amor «visceral». Provém do íntimo como um sentimento profundo, natural, feito de ternura e compaixão, de indulgência e perdão.”.
Um sacerdote dominicano, ao falar destes atributos divinos, descreve que “se a justiça é um galho da árvore do amor de Deus, esta árvore não é senão a sua misericórdia e a sua bondade, sempre desejosa de comunicar-se aos homens e irradiar-se” (Garrigou-Lagrange, Providence, 1998). Em suma, compreendemos que a justiça divina sempre se manifesta na vida dos homens através de um amor entranhado e da misericórdia incondicional de Deus Pai. A existência das criaturas deve-se unicamente à bondade misericordiosa de Deus e, por isso mesmo, não é a justiça que fundamenta a misericórdia de Deus, mas antes a misericórdia é que é a prima radix à qual se há-de atribuir todo o resto (cf. S. Th., I, q. 21, a. 3).
Desta forma, percebe-se em S. Tomás a precedência primordial da misericórdia, através da Graça Divina, em relação ao pensamento unilateral da justiça castigadora. O próprio apóstolo Paulo, na Carta aos Romanos, exalta a revelação da justiça misericordiosa de Deus: “Agora, porém, independentemente da Lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela Lei e pelos Profetas, justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem, - pois não há diferença, visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus - e são justificados gratuitamente, por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus” (Rm 3, 21).
Assim sendo, não podemos compreender a justiça de Deus numa perspectiva legalista, reduzindo o seu sentido original ou obscurecendo o seu valor profundo, pois nas Sagradas Escrituras e, também no pensamento tomista, a justiça é concebida como um abandonar-se inteiramente nas mãos ternurentas de Deus, com plena confiança e perseverança no amor misericordioso.
O Beato Miguel Sopoko, confessor de Santa Faustina Kowalska, dizia que um fator decisivo para a obtenção da misericórdia Divina é a confiança. A confiança em Deus deve ser firme e perseverante, sem hesitações nem fraquezas.
S. Tomás diz que “a misericórdia deve ser ao máximo atribuída a Deus; porém, como efeito e não como emoção, fruto da paixão” (S. Th., I, q. 21, a. 1). Pode-se compreender que a misericórdia divina é a perfeição da ação de Deus, que Se debruça sobre os seres humanos com o objetivo de retirá-los da miséria e de apagar as suas falhas. O ato singular de misericórdia é a compaixão, e o estado imutável de compaixão é a misericórdia. Este é o grande mistério de um Deus que revela a Sua ternura perante a fraqueza humana. A sua justiça consiste em sarar as feridas abertas no coração de cada homem.
Afirma o Papa Francisco: “A misericórdia vai além, faz a vida de uma pessoa de tal modo que o pecado é colocado à parte. É como o céu. Nós olhamos para ele e vemos tantas estrelas, mas quando vem o sol, pela manhã, com tanta luz, não as vemos mais. Assim é a misericórdia divina: uma grande luz de amor, de ternura. Deus perdoa não com um decreto, mas com um carinho, acariciando as nossas feridas do pecado. É grande a misericórdia de Deus, é grande a misericórdia de Jesus. Ele nos perdoa e nos acaricia” (Homilia em Santa Marta, 15 de abril de 2015).
A união da miséria humana somada ao Coração de Deus, cheia de amor, resulta na misericórdia. A misericórdia divina não consiste no entristecer-se de Deus com os nossos defeitos, pois Ele é perfeito e entristecer-se é algo impossível para Deus; porém, a sua misericórdia consiste em eliminar os nossos defeitos (cf. S. Th., I, q. 21, a. 3). Conforme nos exorta Tomás de Aquino, Deus atua sempre com justiça, pois tudo o que faz nas coisas criadas, o faz com ordem e proporção. A misericórdia não suprime a justiça, antes é a plenitude da justiça. É o momento que Deus Se doa totalmente para resgatar o género humano. Por isso mesmo, o perdão só é possível à mercê da ação salvadora de Deus em Cristo Jesus: “Mas agora foi sem a Lei que se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela Lei e pelos Profetas: a justiça que vem para todos os crentes, mediante a fé em Jesus Cristo. É que não há diferença alguma: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Sem o merecerem, são justificados pela sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Deus ofereceu-o para, nele, pelo seu sangue, se realizar a expiação que atua mediante a fé; foi assim que ele mostrou a sua justiça, ao perdoar os pecados cometidos outrora, no tempo da divina paciência. Deus mostra assim a sua justiça no tempo presente, porque Ele é justo e justifica quem tem fé em Jesus” (Rm 3, 21-26).
Quando Deus concede o dom do perdão é então que somos introduzidos na alegria celeste, como reza a Oração de Coleta da XXVI Semana do Tempo Comum: “Senhor, que dais a maior prova do vosso poder quando perdoais e Vos compadeceis, infundi sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste.”
A fé é uma virtude teologal, pela qual o homem adere a Deus, movido pela vontade que recebe o influxo da graça. A fé alimenta a esperança, a caridade e a misericórdia. S. Tomás afirma que toda a vida cristã se resume na misericórdia pelos outros quanto às obras exteriores. Porém, o sentimento interno da caridade, que nos une a Deus, está por cima tanto do amor como da misericórdia pelo próximo. Essa caridade se funda na fé. De facto, a caridade nos faz semelhantes a Deus, unindo-nos a Ele, agindo também com misericórdia para com o nosso próximo.
Santa Maria Alacoque diz que do Coração do Senhor brotam três canais de graça: a misericórdia, a caridade e o amor: “O primeiro é o da misericórdia, que infunde o espírito de contrição e penitência. O segundo é o da caridade para auxílio de quantos padecem tribulações e em especial dos que aspiram à perfeição, a fim de que superem todas as dificuldades. O terceiro é de amor e luz para os seus amigos verdadeiros, que deseja unir a Si participantes da sua ciência e dos seus desígnios” (Vie et Oeuvres, 1991). Também nós, depois de experimentar a eficácia do amor divino, somos convidados a testemunhar a Verdade da misericórdia e da graça santificante de Deus.
Por isso mesmo, a prática da misericórdia consiste num verdadeiro processo de conversão, que nasce do encontro pessoal com Cristo e do seguimento da Sua Palavra. De fato, a palavra de Deus vem ao nosso encontro, ilumina o nosso agir e convida-nos a seguir o caminho da misericórdia. As obras de misericórdia são motivadas pela fé que age pela caridade. A conversão do coração consiste sempre na descoberta da Sua misericórdia, daquele amor que é paciente e benigno como o é o Criador e Pai, fiel até às últimas consequências, na história da Aliança com o homem; até à cruz, morte e ressurreição do seu Filho. A conversão a Deus é sempre fruto do retorno do filho pródigo para junto deste Pai, que é rico em misericórdia.
O Apóstolo Paulo rende graças ao Pai da Misericórdia: “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação” (2Cor 1, 3). Segundo Walter Kasper, é por isso que “a Igreja tem de narrar a história concreta do Deus compassivo com os homens, tal como ela é testemunhada na Antiga e na Nova Aliança; e deve apresentá-la do modo como Jesus o fez nas suas parábolas, dando testemunho do Deus, que revelou definitivamente a sua misericórdia na morte e na ressurreição do Seu Filho” (A Misericórdia – Condição fundamental do Evangelho e chave da vida cristã, 2015).
O verdadeiro significado da misericórdia não consiste apenas no olhar, ainda que este seja o mais penetrante e o mais cheio de compaixão, mas sim quando reavalia, promove e sabe tirar o bem de todas as formas de mal existentes no mundo e no homem.
No Mistério Pascal de Cristo está a força, a justiça e a misericórdia de Deus. É na cruz e ressurreição do Senhor que encontramos a ternura divina que nos envolve nos amorosos braços do Pai onde, pelo Seu Espírito e através da Santa Mãe Igreja, continua a dispensar as graças necessárias para que cada homem alcance a plenitude da vida eterna.
Pe. Alexsander Baccarini Pinto
Mestre em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa, UCP / Lisboa
e Investigador do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião, CITER / UCP
12.03.2021

Os cristãos começam esta semana a quaresma: um ciclo espiritualmente intenso de 40 dias que os prepara para celebrar a Páscoa. A quaresma é um segmento do chamado ano litúrgico onde, numa experiência circular da história, os crentes repetem e atualizam nas suas vidas o impacto da salvação de Cristo. De facto, não se trata apenas de fazer memória das várias etapas da existência histórica de Jesus, mas de receber e maturar, a essa luz, uma nova visão deles próprios. Nesse sentido, não admira que, por exemplo, Carl Jung tenha individuado nos diversos momentos do ano litúrgico uma espécie de sistema terapêutico, pois os ritos são também essenciais ferramentas de cura. Importa, por isso, libertar a quaresma dos reducionismos que a neutralizam. A casuística e a moleza acomodatícia depressa desfiguram o espírito e, aquilo que nos é oferecido como uma oportunidade de aprofundar com autenticidade a vida, descamba numa enésima forma de escapismo. Gosto do modo como um clássico contemporâneo, Romano Guardini, define a liturgia: é uma expansão da vida que toma posse da sua plenitude, já que os tempos e os rituais litúrgicos não são coisas que criamos, mas obras de arte que somos ou em que nos tornamos.
O passo do evangelho que se lê no primeiro domingo da quaresma — e que lhe serve de chave — é o que relata as tentações de Jesus no deserto. O desafio é que aceitemos escutar a vida que nos pertence como se estivéssemos realmente num deserto, sem armaduras nem desculpas, deixando que as perguntas fundamentais nos habitem de novo, interrogando-nos sobre o que fizemos da nossa liberdade ou do nosso amor, reconhecendo que o vazio desprotegido da paisagem é afinal simétrico ao nosso camuflado vazio, urdido por este vício nosso de viver às metades. Mesmo sabendo, como escreveu Sophia de Mello Breyner Andresen, que “Meia verdade é como habitar meio quarto/ Ganhar meio salário/ Como só ter direito/ A metade da vida”. O texto evangélico das tentações é um mapa para readquirir a inteireza e coloca-nos perante três núcleos de questões: 1) se é certo que não vivemos só de pão, vivemos de quê para lá do pão? Qual é verdadeiramente a nossa fome e a nossa sede? Onde é que elas acabam? Aonde nos conduzem? 2) a fé serve-nos para quê? Para submeter Deus às condições que consideramos necessárias para acreditar nele ou, antes, para nos abrirmos, como nómadas e peregrinos, à radicalidade do mistério? 3) estamos dispostos a renunciar ao equívoco do domínio e da posse, quaisquer que eles sejam, como supostas fontes de realização e de sentido, reduzindo a isso o horizonte de significação da vida? O que fazemos com as coisas que possuímos? E também: o que é que as coisas que possuímos fizeram de nós?
A quaresma é uma proposta de discernimento e viragem. Os instrumentos práticos que apresenta para que operemos esta transformação espiritual são de ordem prática, não abstrações: o jejum, a oração e esmola. O jejum, como explica o Papa Francisco na mensagem quaresmal deste ano, é uma experiência de privação voluntária (de alimento ou de um tipo de alimentos; de dependências de todo o género, pequenas e grandes; dos consumos fáceis a que nos permitimos, etc.), adotando um estilo assumidamente frugal que ajude a devolver-nos liberdade. A oração volta o nosso olhar para Deus, para as coisas grandes e amplia a nossa respiração. A esmola retira-nos do conforto autorreferencial. Torna objetivos a compaixão, a solidariedade e o cuidado que nos permitem passar da indiferença à responsabilidade pelos outros, sobretudo os mais vulneráveis.
Dom José Tolentino Mendonça
In: imissio.net 02.03.2021
Imagem: pexels-pixabay-67642.jpg

CFE 2021 - Fraternidade e diálogo: compromisso de amor
“Cristo é a nossa paz. Do que estava dividido fez uma unidade” (Ef 2,14a)
Pe. Geraldo De Mori SJ
A Igreja Católica, junto com várias Igrejas cristãs membros do CONIC (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil), participam, na quaresma deste ano de 2021, de mais uma Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE). Paradoxalmente, o que está em jogo nesta CFE, a fraternidade e o diálogo, é posto rudemente à prova pelas polêmicas desencadeadas nas últimas semanas por diversos grupos, dentro e fora da Igreja, semeando confusão, escândalo e desorientação na cabeça dos fiéis e das pessoas que de fora seguem as discussões acaloradas contra e a favor da CFE de 2021. Este texto não tem a pretensão de “jogar mais lenha na fogueira”, mas quer ser uma contribuição no aprofundamento da intenção profunda do tema escolhido para preparar-se para celebrar o “grande mistério da fé” cristã, neste ano: a paixão, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré.
Já há alguns anos o mundo e o Brasil experimentam um processo de polarização de origem política, social, cultural e religiosa. Sob muitos pontos de vista, discordar é constitutivo da existência humana. De fato, a dissenção é a assinatura da diferença e, neste sentido, é extremamente positiva. São muitas as diferenças a partir das quais há discordância nos grupos humanos: sociais (ricos e pobres), gênero (homem e mulher), étnicas (brancos, negros, amarelos), religiosas (cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, budistas, tradições religiosas afro e ameríndias), familiares (pais, filhos, irmãos). Essas discordâncias fazem surgir a originalidade e a particularidade, e isso, em si, não é negativo, pois pode aportar uma nova perspectiva a determinado debate ou ponto de vista. Nem sempre, porém, a diferença, com as discordâncias que suscita, é experimentada como enriquecimento, sendo muitas vezes vivida como oposição e ameaça, tornando-se então rejeição, intolerância e violência, como o atesta a dramática história da humanidade.
Certos períodos da história humana são mais acolhedores das discordâncias introduzidas pela diferença e outros mais intolerantes. A primeira metade do século XX, por exemplo, foi marcada pelas guerras mundiais que eliminaram milhões de pessoas em nome de interesses de todo tipo (étnicos, ideológicos, econômicos etc.). Já na segunda metade desse mesmo século, parecia que a abertura a acolher a diferença havia vencido. Contudo, desde que ingressamos no século XXI, vivemos várias “guerras aos pedaços”, como tão bem se expressa o Papa Francisco. Essas guerras não se reduzem apenas aos conflitos entre nações, grupos étnicos e religiosos, mas se introduziram no coração mesmo das sociedades plurais e hipertecnológicas que compõem boa parte do mundo atual. Somos muitas vezes seus promotores ou difusores, por meio das redes sociais e das campanhas de todo tipo que buscam tornar o outro inimigo porque não pensa como nós.
Em grande parte, a última encíclica do Papa, Fratelli tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, quer ajudar os cristãos e todas as pessoas de boa vontade a mergulharem na riqueza que é a diferença, com todas as discordâncias e ameaças que pode representar, apontando o caminho que conduz à sua acolhida e ao enriquecimento mútuo que pode provocar. Digno de nota nessa encíclica, que também se encontra no tema e no lema da CFE de 2021, é o texto bíblico a partir do qual o Papa busca aprofundar o tema da fraternidade e da amizade social: a parábola do bom samaritano. O próximo do homem espoliado e jogado à beira do caminho, segundo a resposta do doutor da lei à pergunta de Jesus, foi aquele que “usou de misericórdia com ele” (Lc 10,37). Esse texto é fundamental para se pensar o incômodo das inúmeras discordâncias suscitadas pela diferença do outro.
No Texto Base da CFE de 2021, o lema remete a Ef 2,14a: “Cristo é a nossa paz. Do que estava dividido fez uma unidade”. Nessa passagem, Paulo recorda o “muro” construído no templo de Jerusalém, que separava o espaço reservado aos pagãos (gentios) do espaço reservado aos judeus. Segundo o Apóstolo, em Cristo esse muro foi derrubado, do que estava dividido ele fez uma unidade. Em Gl 3,27, “Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus”, Paulo é ainda mais radical. Ele evoca não só a diferença religiosa, como a que aparece na parábola do Bom Samaritano, que é a base bíblica da encíclica do Papa Francisco, mas também a diferença social (escravo e livre) e de gênero (homem e mulher), mostrando como o ter sido revestido de Cristo pelo batismo, provoca uma mudança radical, que elimina tudo o que na diferença é motivo de separação, ódio, violência, guerra, intolerância, inimizade.
Só nos enriquecemos com as discordâncias da diferença se nos abrirmos ao diálogo. Este é o convite da CFE de 2021. Portanto, mais que nos deixar “distrair” pelos falsos argumentos que pretendem salvar uma suposta “catolicidade” da fé, urge, nesse tempo de quaresma, acolher o convite ao diálogo. A verdadeira fraternidade só é possível se nos abrirmos à acolhida daquilo que o outro possui como próprio, único, que me é oferecido como dom, da mesma maneira que eu, ao entrar em diálogo com o outro, me torno oferenda para que ele possa acolher-me e enriquecer-se com aquilo que lhe ofereço.
O caminho do diálogo não é, porém, fácil. Todos sabemos o quanto é difícil “abrir mão” do que Santo Inácio de Loyola chama do “próprio querer e interesse”. Sob muitos pontos de vista queremos impor nossa opinião, nosso ponto de vista, nosso jeito de ser e de fazer. Nem sempre estamos dispostos a viver no cotidiano os processos implicados no verdadeiro diálogo, temos muita dificuldade de “dar o braço a torcer”. Cientes disso, as igrejas cristãs que fazem parte do CONIC, inserem a dinâmica do diálogo na conversão, para a qual esse tempo da quaresma nos convida, preparando-nos para a celebração do mistério pascal, no qual Cristo reconciliou consigo o que estava dividido.
Oxalá possamos aproveitar a oportunidade única que nos é dada com essa CFE, destruindo os muitos muros que nos separam e criam inimizades e construindo espaços de reconhecimento e enriquecimento mútuos, nos quais experimentamos o sentido da paz!
Pe. Geraldo de Mori SJ
17.02.2021
In: site da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de BH

A dúvida é um extraordinário patrimônio humano partilhado por nós todos. A etimologia latina da palavra dúbium reconduz-nos ao termo “duo”, dois. E também no sânscrito ou no grego a semântica é a mesma. Podemos dizer que existe a dúvida, porque existem duas possibilidades de interpretação, por vezes dolorosamente contrárias entre si. Existe o sim e o não, a noite e o dia, o claro e o escuro, o nítido e o fosco, o verso e o reverso. E essa dualidade costura de modo universal a humanidade de que somos feitos. Por um lado, constatamos em nós a aspiração a uma unidade, a uma empatia que nos avizinhe do que amamos de modo irrevogável, que nos permita realizar uma experiência de inteireza e comunhão. Por outro, percebemos que a nossa existência se debate continuamente com dualidades, dentro e fora de si. Pode ser que a sentença do Livro do Eclesiastes esteja certa: “Deus criou-nos simples e diretos, mas nós complicamos tudo” (Ecl 7:29). O que constatamos, porém, é que nos descobrimos e maturamos numa viagem que compreende incertezas, ambivalências, ambiguidades, hiatos, distâncias e interrogações. E que nos obriga a todos a aprofundar o que seja a dúvida.
A filosofia, a ciência e o pensamento em geral devem uma parte significativa do seu desenvolvimento à dúvida, pois ela é um dos motores de busca internos mais ancestrais que o ser humano conhece. O teólogo e filósofo medieval Pedro Abelardo (séc. XII) dizia: “Duvidando chegamos à necessidade da procura, e procurando percebemos a verdade.” Quer dizer, a dúvida não é um ponto de chegada no qual fixamos convicção e morada, mas é sim um instrumental desafio ao nomadismo do espírito, à realização de um percurso indagativo, uma tentativa de aproximação à verdade que, da nossa parte, está sempre em curso e nunca está completa.
Na sua lição inaugural como professor no Collège de France, Roland Barthes recordou que “há uma idade em que se ensina o que se sabe; mas vem em seguida outra, em que se ensina o que não se sabe: a isso se chama pesquisar”. “O que não se sabe” é o território para onde a dúvida — mas, do mesmo modo, também a fé, também a sabedoria ou o amor — nos reenviam, por uma operação de descolagem que não está longe, por exemplo, daquilo que no léxico do cristianismo se chama quenosis, essa espécie de subversão que acontece pela experiência voluntária do esvaziamento. Como está escrito na Carta de São Paulo aos Filipenses, Cristo sendo de condição divina esvaziou-se da forma de Deus para se tornar semelhante aos homens, e não só dos homens de bem, mas para assumir na carne a humanidade desprezada dos últimos (Fil 2: 1-11). A dúvida, à sua maneira, é também um precioso “operador quenótico” com o qual nos precisamos reconciliar, lendo-a não apenas como demolição, mas como relançamento do caminho.
É importante sublinhar que o património da dúvida tem sido enriquecido tanto pelos não-crentes como pelos crentes. Não me esqueço da maneira franca e iluminante como o poeta italiano Tonino Guerra, de quem tive a felicidade de ser amigo, se definia “um não-crente com dúvidas”. Nem daquilo que escreveu o monge trapista Thomas Merton: “O crente que não experimentou jamais a dúvida não se pode dizer um crente. Porque a fé não é propriamente a remoção da dúvida... A dúvida só se vence atravessando-a.” Na verdade, a dúvida não é a linha divisória ou a fronteira que separa a descrença da crença. Muitas vezes é um hífen, o traço de união, a zona enigmática de contato que nos revela a todos de mãos vazias diante da vastidão do mistério. Embora, é claro, a interpretação desse vazio possa ser muito diferente.
José Tolentino Mendonça
In: imissio.net 30.01.2021
Imagem: pexels.com/Foto de Aleks Magnusson
Página 7 de 22