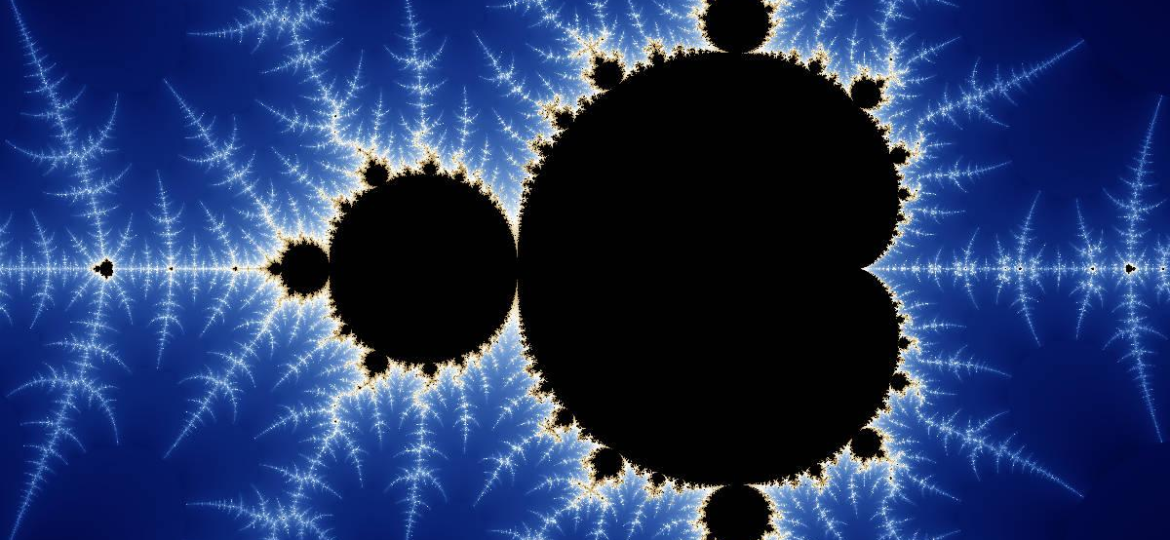Não é a ausência de som, mas de ruído.
Em 1951, o compositor americano John Cage visitou a câmara anecóica mais avançada do mundo da época. Com o seu ouvido apurado poderia ouvir apenas o silêncio, mas não. Ouviu dois sons. Saindo da câmara falou com o técnico e perguntou-lhe que dois sons eram os que tinha ouvido. Um mais elevado e outro mais baixo. Juntos perceberam que Cage tinha escutado o som do seu sistema nervoso e o bombear do sangue. Imaginam?
Silêncio é a escuta daquilo que nos dá vida e faz viver. No silêncio não nos abstraímos do mundo à nossa volta, mas encontramos diversos momentos presentes que se cruzam e entrecruzam em infinitas tonalidades. É a sinfonia da vida escutada em momentos de quietude.
”Não podemos ter medo do silêncio, pois, tem tanto para nos ensinar.” (Ryan Holiday, ‘Stillness is the Key’)
Quando cultivamos o silêncio abrimos a mente ao mar por onde navegam os pensamentos mais íntimos e criativos. Lembras-te daquela ideia luminosa que proveio do silêncio?
Mas hoje o desafio é muito grande porque o ruído não chega apenas através dos ouvidos. Chega também pelos olhos colados nos diversos ecrãs, ou pelos pensamentos exteriores que consomem a nossa atenção para a converter em preocupação. Vemos muita informação. Tanta que a sua suposta luminosidade cega-nos ao longo do tempo. Tanto que perdemos toda a riqueza visual que o silêncio revela.
”A totalidade da vida reside no verbo ‘ver’.” (Teilhard de Chardin s.j.)
O silêncio revela o espaço entre as notas.
”Com as notas lido melhor do que muitos pianistas. Mas as pausas entre as notas - ah, é aí que reside a arte!” (Arthur Schnabel, pianista)
A ausência de momentos de pausa no dia deixa-nos sem fôlego e surdos. Não é, por isso, de admirar quanta dificuldade sentimos ao escutar os outros. Não temos tempo. Nem sequer temos tempo para estar a sós com os nossos pensamentos, em silêncio.
Daí a dificuldade de tantos os que se dirigem a Deus e sentem que Ele não responde. Ele que tanto fala pelo silêncio, simplesmente, não consegue fazer-Se ouvir. Conto-te um segredo… shh… podemos sempre recomeçar.
Miguel Oliveira Panão
In: imissio.net 14.11.2019

Uma das piores coisas que pode acontecer a teologia é perder o trem da história, passando a dizer coisas que não fazem mais sentido para o tempo em que é feita. Infelizmente, isso se mostrou em muitos momentos da história do cristianismo, quando ela se negou a trazer questões importantes de determinado momento para o bojo de suas reflexões por estar presa a dogmatismos e ancorada em uma versão de verdade absoluta.
Que ao longo do tempo sempre tenham surgido movimentos de cunho fundamentalista, parece óbvio a quem leia sobre história do cristianismo ou das religiões. Eles desejavam a todo custo voltar a uma “teologia pura”, em que se teriam verdades bem definidas e imutáveis, criadas desde a eternidade.
Em sua maioria, ainda hoje, esses movimentos visam manter o status quo. Não estão dispostos a repensar seus pressupostos, mesmo que sejam os responsáveis por fustigar parcelas consideráveis da população. Quando o fazer teológico é tomado por posturas dogmáticas e fundamentalistas, partindo do princípio de que a “verdade última” lhe foi dita por Deus, passando a ser, portanto, imutável, a própria teologia começa a ser vista como algo que não faz sentido. Ela, assim, serve somente para redizer normas e ordenanças que visam cercear a liberdade de todas as pessoas, porque está convicta de que o que diz é a vontade de Deus. Claramente, a categoria da imutabilidade divina é mal compreendida por tais movimentos. Não se atentam para o fato de que o texto bíblico, principalmente João, mostra Deus como imutável em seu amor, o que nada tem a ver com imutabilidade dogmática.
Toda teologia, portanto, caso queira fazer sentido na sociedade em que está inserida, não pode ser pensada como possuidora da verdade última sobre as coisas. Deve sempre assumir a postura de quem aprende e ouve para, a partir disso, propor respostas para as questões que determinada comunidade levanta.
Crescem movimentos fundamentalistas e retrógrados, que tentam a todo custo fazer com que o cristianismo se torne fechado em si mesmo, surdo às questões atuais. Nesses tempos, é tarefa dos teólogos reafirmar que toda teologia deve ser feita como resposta a determinada comunidade, influenciada e a partir de um contexto social, cultural, político e econômico específico.
Em outras palavras, é necessário que se formem teólogos que saibam ouvir a sociedade, que tenham humildade para se reconhecer como apenas mais um colaborador entre outros, de diversas religiões, na luta por um mundo que haja justiça social, paz, fraternidade e sororidade entre as pessoas. Implica também que assumam o lugar de quem escuta antes de responder, principalmente para não se propor respostas para questões não perguntadas.
Somente uma teologia que observa a realidade ao seu redor é capaz de dizer algo que alcance os corações. Uma teologia somente dogmática – com respostas prontas desde sempre, indisposta a repensar suas categorias e suas formas de explicá-las – tende a ser somente um antro para pessoas reacionárias, certas de alcançar as respostas últimas para todas as coisas e exigentes do extermínio ou conversão à sua verdade por parte dos grupos que não se adéquam à sua visão. No entanto, esse tipo de teologia se mostra perigoso e a história já nos mostrou isso, seja durante a Idade Média, seja durante o período dos sistemas totalitários. Ambos, no nível religioso, ancoravam-se na certeza de que determinada ação era a vontade de Deus para “limpar” o mundo do pecado em que se encontrava.
Com isso em mente, ser teólogo hoje se torna uma tarefa não somente social, mas também intelectual. Sem repensarmos novas formas de fazer teologia, de maneira que esta faça sentido para as pessoas que sofrem, esta sempre ficará relegada ao ambiente eclesial, não tocando a realidade do mundo que está fora da Igreja.
Somente uma teologia que escuta e observa pode tocar a realidade na qual é feita. Do contrário, não passa de ideologia utilizada por classes dominantes para manter as coisas como estão.
*Fabrício Veliq é protestante e teólogo. Doutor em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte (FAJE), Doctor of Theology pela Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Bacharel em Filosofia (UFMG) E-mail:
IN: domtotal.com 23.10.2019

Existem poetas que nos atraem para dentro de uma cela, a olhar para os cantos das paredes e ouvir o que murmura o branco. Existem aqueles que nos chamam para um jardim com fino tato de monge ou borboleteios de criança. Há os que nos puxam para o meio de um tumulto, e falam alto. E há os mais íntimos, os que nos chamam de lado, apagam o resto da casa e nos levam para a cama. Vinicius é um desses íntimos, que podemos dizer nosso.
Cedo descobri, numa antologia de 1967, da saudosa editora Sabiá, que minha mãe era uma das mulheres de Vinicius. O livro amaciado de muito manuseio também acabou passando por minhas mãos. Eu menina também me deitava num chão de morangos, também me chamava Maria, e era flor de melancolia, me chamava Ariana, uma amiga entre as amigas que se perdiam e achavam gosto em se perder. Quis ser também a onda que o poeta via, distante das praias, e das luas quis ser a que reflete na água, e ser o ventre novo no qual um pensamento de amor semeia sua continuidade.
Tudo o que Vinicius fazia com as palavras para encantar a namorada desconhecida me alcançava, seu ar trágico de tão apaixonado, seu confessar-se menino de alma delicada, sua tara pela beleza das mulheres meninas garças. Queria me fazer cada uma de suas palavras, ser mar de acolher suas âncoras de promessa, ser a face imaginada, vinda do futuro, a face da ausente, resto de nuvem, ave de tempestade. Que polícia, que tribunal dos bons costumes, que nada. Eu menina me deitava com Vinicius, ele o meu monstro de delicadeza, eu uma de suas amigas ignoradas.
Mariana Ianelli é escritora, mestre em Literatura e Crítica Literária pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
In: Rubem.wordpress.com

Passamos a vida (e o tempo) à espera. À espera que a sorte mude. À espera que o vento não seja tão frio. À espera que nos devolvam a chamada. À espera que se lembrem que existimos. À espera que nos atendam num balcão, numa fila, numa loja. À espera do amor-para-sempre. À espera da oportunidade que nos mude a vida. À espera do momento certo para começar a fazer tudo como deve ser. À espera que nos peçam desculpas. À espera que nos perdoem. À espera do Verão. Dos dias de sol e do calor a tostar a pele. À espera que a maré desça para não perdermos o pé. À espera que o país fique melhor. À espera que se acabem os dias tristes. À espera que se acabem as dívidas (as financeiras e as outras). À espera que nos apreciem, apenas, por aquilo que somos e não por aquilo que podemos oferecer. À espera no trânsito que não anda. À espera do verde que não cai. À espera da felicidade que os romances mais bonitos nos prometeram. À espera do jantar, no restaurante. À espera que o arroz fique no ponto. À espera que se acabe a fome nos lugares mais sujos e mais recônditos do mundo. À espera. De tudo. De todos. De tanto.
No entanto, enquanto esperamos, podemos aprender lições valiosas: a lição (duríssima) da paciência. A lição da humildade de quem sabe estar no seu lugar e esperar pela sua vez. A lição de deixar acontecer cada coisa na janela do seu tempo. A lição de valorizar o futuro que espreita de mansinho e que não se impõe.
Precisamos muito de aprender a esperar melhor. Com mais alegria. Com mais paciência. Com mais coragem. Ninguém gosta de esperar. É sempre tarde para quem está à espera. E é sempre difícil deixar que o tempo passe sem nos aborrecermos com ele. E com a sua velocidade-tartaruga.
Aprende a esperar, mas aprende, também, o momento certo para deixar de o fazer. Quem decide esperar para sempre deixa de estar à espera e passa a ser refém de uma promessa que pode não se cumprir.
Aprende a esperar. Aprende a esquecer. Aprende a colocar ponto final e a fazer parágrafo.
Estás à espera de quê?
Marta Arrais
In: imissio.net 9.10.2019

Há peregrinos e caminhos bonitos. Brilham pelos passos que dão e pela coragem que têm em confiar sem saber muito bem como, mas deixam-se abraçar pela fé que lhes impulsiona a querer sair em direção a novas estradas.
Saem às cegas para não se deixarem ficar na escuridão das suas vidas. É esta a ânsia daqueles que percorrem novos caminhos numa descoberta plena de si, do outro e de tudo o que lhes rodeia. Dão-se ao luxo de nascerem de novo. Irradiam em si a certeza de que a vida é digna em todo e qualquer momento. Espelham a esperança de que haverá sempre bonança em qualquer chegada, em qualquer encontro face a face.
Há peregrinos e caminhos bonitos. Caminhos que nunca seriam imaginados, nem planeados. São rotas desenhadas pelos questionamentos e traçadas ao milímetro de cada avanço dado num arriscar cheio de riscos. São vias alternativas para vidas a quem ninguém dava uma única alternativa. São rodovias sem limites de velocidade e com permissões de paragens e de estacionamentos para que todos os que a percorrem posso encontrar a beleza de se deixarem contemplar. São vielas para os belos e belas que um dia decidiram atravessar o fundo dos seus cantos e recantos e, assim, partirem de novo para os seus verdadeiros encontros.
Há peregrinos e caminhos bonitos. Histórias de vida que não precisariam de muitas palavras para nos converterem às suas formas de ser e de estar. São testemunhos verdadeiros que nos trocam as voltas da vida dando-nos a reviravolta em tantas das nossas revoltas. São a prova viva de que o bom e o belo não se deixam reluzir, mas convidam, sempre, a sentir.
Há peregrinos e caminhos bonitos. Há, em toda a nossa vida, quem passe por nós dando-nos a saída aos nossos becos sem saída e permitindo, de novo, que possamos entrar diretos na estrada das nossas vidas!
Emanuel Antonio Dias
In: imissio.net 27.09.2019

Precisamos de ficar mais vezes. De ficarmos conosco mesmos. Decifrarmos o que existe em nós e que, tantas e tantas vezes, não conseguimos dar uma explicação. Permitirmos descobrirmo-nos inteiramente sem medo das respostas que possam advir deste caminhar, muitas vezes turbulento, mas que no final se transforma em bonança cheia de esperança. Temos de ficar mais tempo em nós, não num mero ato de egoísmo, mas sim num alinhamento de um caminho percorrido, frequentemente, à pressa e sem tempo para deixarmos que a vida nos conte os seus sinais.
Precisamos de ficar mais vezes. De ficarmos uns com os outros e deixarmos que eles se alonguem em nós nas conversas, nos sorrisos, nos choros, nos olhares e nos abraços. Estarmos uns com os outros para podermos estar plenamente connosco. Estarmos uns com os outros para que se dê bom nome à vida e, assim, dar bom nome àqueles que partilham, em comunhão com a nossa humanidade, este verdadeiro dom. Ficarmos nos outros sem tempo, nem demoras. Sem preconceitos, nem cobranças. Simplesmente ficarmos com a certeza de que não será só mais uma passagem. Necessitamos de ficar mais vezes, mas que fiquemos eternizados no coração de cada um de nós.
Precisamos de ficar mais vezes. De nos deixarmos habitar por sítios que nos convidam a fazer morada. Não existe morada permanente, mas existem pessoas e locais que nos ajudam a alcançar essa morada eterna. Sabermo-nos colocar em contemplação e sentir que cada pedaço de terra nos relembra de onde vimos e para onde vamos. Sentirmos que cada brisa nos convida a esta liberdade autêntica e desafiadora. Sentirmos que cada montanha nos incita a procurar a grandeza dos pequenos. Sentirmos que podemos ser, efetivamente, morada para tantos e tantas que se cruzam nas nossas vidas.
Precisamos de ficar mais vezes se quisermos chegar mais longe na vida e com a vida!
Emanuel Antônio Dias
In: imissio.net 20.09.2019

Lembro-me de que, há uns anos, num encontro de narratologia, ouvi um conferencista explicar que a forma simples de sensibilizar o leitor, para o complexo jogo de referentes que uma narrativa põe em ato, era pedir-lhe que contasse, por palavras dele, um relato. Aí, o que parecia uma teoria intrincada (com o seu debate sobre pontos de vista, estatuto do narrador, trama, personagens...), tornava-se acessível de um modo muito direto. Este professor ensinava Novo Testamento numa grande universidade norte-americana, mas mantinha uma presença frequente em faculdades de países africanos. E citava o que acontecia, por exemplo, quando estudantes das duas geografias recontavam um episódio clássico do evangelho de Lucas: a parábola do filho pródigo. Na identificação do motivo pelo qual o filho pródigo se vê precipitado da confortável situação de herdeiro à aspereza de um sem-teto, os norte-americanos apontavam o facto de haver dissipado o seu capital de maneira descontrolada, enquanto que os africanos colocavam em primeiro lugar a devastadora fome que se abateu sobre a região. Tinham ambos sustentação textual, pois o evangelho cita os dois motivos. O que é curioso, porém, é compreender o significado daquilo que nos faz nem nos apercebermos de umas coisas e ver imediatamente outras.
Tenho uma história engraçada com o poeta brasileiro Eucanaã Ferraz. Encontramo-nos durante uns instantes em Lisboa, não foi mais do que isso. Eucanaã é um dos grandes criadores a escrever na nossa língua. Nesse encontro, breve, denso e comovido, a conversa levou-nos não sei como a Clarice Lispector. E ele contou-me esta história, que teria lido num dos seus livros. A escritora lamentava-se de que nunca lhe aconteciam milagres. Quando ouvia, a outras pessoas, a narração de milagres na primeira pessoa, ficava cheia de esperança, mas também de revolta, pois se perguntava: “E porque não a mim?”. Milagres nunca lhe aconteceram, a dizer a verdade, exceto um. Certo dia, caminhava pela rua, e sentiu-se escolhida por uma folha. Isso apenas: uma folha que, entre os milhões de possibilidades, veio lentamente rodopiando e bateu, ao de leve, nas suas pestanas. Naquele momento, Clarice achou que Deus possuía uma infinita e consoladora delicadeza. Semanas depois, dei por mim a procurar o volume de crônicas de Clarice em busca desse relato. Não foi difícil chegar a ele. Chama-se “O milagre das folhas”. Nesse texto, a autora conta, de facto, que nunca lhe aconteceu nenhum outro milagre, mas o das folhas se repete tanto que ela passou a considerar-se, “a escolhida das folhas”. E que, quando anda pela cidade, sabe que novas folhas virão sempre coincidir com ela. A folha que se embateu contra os seus cílios foi simplesmente mais uma. Contudo, o relato de Eucanaã não deixava de ser agudo e completamente verdadeiro em relação ao original de Clarice. E a isso, acrescentava ainda um prazer que os amigos sabem partilhar: o do reencontro. Talvez ele, de antemão, soubesse que eu iria no encalço daquele texto e que, o confronto com o que me contara, nos permitiria prosseguir, mesmo à distância, um diálogo que não podia ter lugar ali.
Um dos textos de que mais gosto do escritor Eduardo Galeano está em “O Livro dos Abraços”. É a história de um menino, Diego, que viaja para o sul com o pai para olhar o mar pela primeira vez. Quando chegam à praia, depois de muito caminhar, o mar está diante dos seus olhos. Era uma azul e contínua imensidão sem palavras. E o filho, colado ao pai, pediu-lhe baixinho: “— Ajuda-me a ver!” Penso que é isso que pedimos aos livros, à cultura, às histórias que ouvimos, aos amigos... e a Deus.
D. José Tolentino Mendonça
27.04.2019

Claro que falar do viver como sendo uma profissão tem o seu quê de insólito. A vida não é um ofício, é uma condição. Mas referir-se a ela desse modo talvez nos ajude na compreensão de quanto a vida nos pede de aprendizagem, iniciação e sucessivos recomeços. Era Erich Fromm quem dizia que as pessoas felizes são aquelas que encaram todo o curso da sua vida como um processo de nascimento, rompendo com a gramática mais comum que considera que cada um de nós só nasce uma vez, só tem uma grande oportunidade, só percorre um caminho antes de se precipitar no fim. Erich Fromm defendia que tal modo de pensar gera este efeito devastador: vermos tanta gente morrer sem sequer ter chegado a nascer. De facto, o verdadeiro e exigentíssimo desafio que se coloca ao ser humano é levar a cumprimento o seu nascimento. Nisto, nós humanos diferenciamo-nos das outras criaturas, que em pouco tempo já são completamente aquilo que são. Nós, ao contrário, somos inacabados; recebemos a vida como dom, mas também como tarefa; vivemos no decurso do tempo o processo do nosso próprio parto; precisamos de muitos anos (e de muito trabalho interno) para chegar a exprimir o que há em nós de original. Os mestres estoicos, na Antiguidade, motivavam os discípulos a construir a sua própria estátua. Quer dizer, exortavam-nos ao labor de si para edificar a sua própria humanidade, esse labor face ao qual todos os outros que desenvolvemos são simplesmente preparatórios.
As nossas sociedades concentraram demasiado a sua aposta de formação em saberes técnicos e científicos, ou então assumidamente parcelares e especializados, apontando como horizonte o resultado sobretudo econômico e, como consequência, damos por nós analfabetos, vulneráveis e desprovidos nas dimensões fundamentais do viver. Uma das patologias contemporâneas é este défice de sabedoria, esta falta de uma arte da existência. Por isso, não só um a um e em doloroso contraciclo, como na melhor das hipóteses acontece, mas como comunidades no seu conjunto teremos de confrontar-nos com aquelas perguntas que T. S. Eliot coloca num dos seus poemas: “Onde está a vida que perdemos vivendo? Onde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos com a informação?”. Eliot tem razão: a vida não só se ganha, também se perde quando nos tornamos prisioneiros do imediato, do desagregado e do fragmentário, sem espaço para reelaborar o vivido a partir de razões mais profundas.
Por sua vocação, o ser humano não se realiza apenas na luta pela sobrevivência. A par dessa, ele precisa de conhecer-se a si mesmo, viver na exterioridade e na interioridade, precisa de avizinhar-se com vagar da “espantosa realidade das coisas”, escutar o visível até ao fim e para lá do visível, porque a vida é surpresa e mistério. Precisa de acreditar e duvidar, recolher e lançar o mesmo propósito muitas vezes, precisa de dizer e calar, abraçando assim esse movimento que é afinal imobilidade e essa imobilidade que é afinal movimento. Atiramos as experiências de vida contemplativa para uma periferia e olhamos para essas expressões (religiosas, culturais, humanas) com indiferença, como se não tivessem nada a ensinar-nos. Dispersamos assim um patrimônio espiritual de que as nossas sociedades carecem absolutamente. Friedrich Nietzsche escreveu: “Por ausência de quietude a nossa civilização está a desaguar numa nova barbárie. Nunca como hoje o ativismo dos irrequietos gozou de tamanha consideração. Por isso, uma das correções a introduzir no modo de vivermos a nossa humanidade seria reforçar largamente o elemento contemplativo”.
D. José Tolentino Mendonça
04.05.19

Entre um ano que termina e outro que começa, a braços com o tempo que corre fora e dentro de nós, e sentindo-nos talvez de maneira mais sensível modelados por aquele invisível oleiro que é o tempo, damo-nos conta de que a nossa é uma vida exposta.
É impossível não detetar os sinais do tempo em nós: linhas de fragilidade, sombras, sobressaltos, erosões, áreas mais desvitalizadas, insuficiências. A unidade interior é um trabalho imenso. Assemelha-se à tela que Penélope tecia de dia para a desfazer à noite, na sua espera quase desesperada. Mas não podemos desistir de construir esta unidade do ser. Só o que amamos até ao extremo do amor não nos será tirado.
Dizer, por exemplo, que a vida é marcada pela vulnerabilidade, significa reconhecer quanto ela está exposta á possibilidade de ser ferida. “Vulnus” é o correspondente termo latino e, como já anotava Virgílio, mas não alude unicamente ao que nos fere a pele, mas “vivit sub pectre vulnus”: a ferida que sangra oculta no coração. A vulnerabilidade é um fato total.
Todavia, descobriremos que é por seu intermédio que nos chega também aquilo que nos redime. Só a vulnerabilidade nos eleva, como numa dança, à altitude do infinito, onde a gravidade é vencida pela graça.
D. José Tolentino Mendonça | In "Avvenire" 20.08.2019

Greta Thunberg. Ahed Tamimi. Yeonmi Park. Malala Yousafzai. O rosto da infância do nosso século tem um pouco do rosto de cada uma dessas meninas. Rosto sério de criança que protesta, presença incômoda em frente ao parlamento, diante do soldado, na travessia do deserto, numa cidade destruída.
Essa infância que agora reclama sua voz não está para brincadeira. O que essas meninas reivindicam não é coisa de criança, é algo mais urgente. Não é espaço para sonhar, é a própria terra. Não são jogos fantásticos da imaginação o que elas querem. É a vida ela mesma, a vida antes de tudo. São medidas concretas para que ainda haja mundo daqui a um século.
Greta falta à escola para protestar em frente ao parlamento sueco. Ela exige dos políticos uma resposta à mudança climática. Nada de discurso nem de promessa. Greta tem pressa, não por ela, mas pela criança que virá depois dela. E esta urgência desde que viu pela primeira vez, na escola, fotos de ursos polares famintos, quando tinha cerca de oito anos de idade. “Por que devemos ir a escola se não há futuro?” – ela pensa. “E por que devemos aprender sobre fatos, se os fatos mais importantes não importam?”. Ao primeiro apelo solitário de Greta, em agosto do ano passado, já se juntaram mais de cem países e um milhão e meio de estudantes.
Ahed, a menina palestina, também protesta. Levanta a voz e a mão para o soldado diante dela. As armas não intimidam Ahed, antes a enfurecem. Aos doze anos ela estapeia um soldado pela primeira vez. Na segunda vez, com dezesseis anos, é presa. Passa oito meses em cativeiro, em Israel, e, quando sai, continua a protestar contra a ocupação com a mesma força felina.
Yeonmi tem treze anos quando foge da Coreia do Norte com sua mãe, pelas mãos de traficantes de gente. Mãe e filha são vendidas a fazendeiros chineses, negociam a vida com o que têm e conseguem atravessar o deserto de Gobi rumo à Mongólia. De lá, partem para a Coreia do Sul. Livre do terror, literalmente desassombrada, Yeonmi agora denuncia publicamente o pesadelo de vigilância e controle mental que sofre quem vive sob o regime da dinastia Kim.
Malala tem doze anos quando aparece na televisão defendendo a educação de meninas no vale do Swat, onde nasceu e vivia com a família, região do Paquistão sob ocupação dos talibãs. Aos quinze anos, é baleada na testa, num ataque dirigido, quando entrava numa van escolar. Transferida para um hospital na Inglaterra, ela se recupera e reaparece tal como a conhecemos hoje, mais jovem Nobel da Paz, com seu lema também mundialmente conhecido, de que “uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo”.
Todas essas meninas fazem uma nova cruzada de crianças. Sobreviveram a zonas profundas de realidade onde não vale a tarja restritiva para menores de dezoito anos. Encararam a guerra, a prostituição em troca da vida, o fechamento de escolas, o silêncio repressivo, o terrorismo. Em algum momento decisivo, desacataram ordens, autoridades, soberanias. Tudo por um mundo que lhes é de direito. Porquanto destruímos, elas vêm se sentar à nossa mesa e tomar parte no debate sobre crimes ditos crises, crise migratória, crise climática, crise dos direitos humanos. E nós lhes devemos ouvidos. Sem falsa complacência. A sério. Nós devemos às crianças o mundo por inteiro e elas vêm nos cobrar agora. Elas são o próprio amanhã nos cobrando enquanto é tempo.
Mariana Ianelli
In: Rubem.wordpress.com 24.08.2019

A vulgaridade é lixa áspera em que me ralo toda. E a vulgaridade está comandando o momento. Tento entender como queimamos as pontes que nos ligavam a comportamentos mais elegantes.
Somos seres de rituais. Do café da manhã ao casamento, tudo é ritualizado. E cada rito é um combo que vem com seus próprios trajes e linguagem. Não participamos dos rituais com as mesmas roupas com que enfrentamos o batente. Nem com o mesmo espírito. Como um instrumento, o ritual exige embocadura.
Os juízes do Supremo usam togas, os padres usam batina, os generais usam fardas. Os trajes dizem do cargo. E, quando no cargo, quem os veste fala linguagens condizentes.
Mas o presidente fala à nação envolto na capa do barbeiro e com voz displicente diz inverdades ofensivas, enquanto o profissional faz seu serviço de tesoura cuidando para não encobrir o cliente. Não se trata de acaso nem descuido. A cena bem concebida faz parte da estratégia “gente como a gente”.
Produto dos tempos modernos, essa estratégia destina-se a falar diretamente com o eleitor que gosta de se ver representado ipsis litteris, quase como em uma caricatura, e busca entre os candidatos aquele que replica não só seus pensamentos como suas próprias atitudes, que diz frases de botequim como ditas diante do balcão. É o eleitor que ainda não assimilou o conceito de representação simbólica. E, ao que parece, há muitos.
Estratégia idêntica comanda frases como: “Os caras vão morrer na rua igual baratas, pô. E tem que ser assim”, em que o desleixe da frase veste de cores populares a ferocidade do conteúdo, e angaria seguidores a favor da “retaguarda jurídica”, porta aberta para os policiais matarem livremente.
É o mesmo princípio da propaganda que, em frases destinadas ao grande público, comete erros propositais de português para facilitar a identificação e garantir a aquisição do produto.
As redes sociais, veículo favorito do clã presidencial, aninham alto grau de estratégia e de vulgaridade. A estratégia mais frequentada consiste em mostrar-se melhor do que se é na realidade. Chama-se a isso “construir a imagem”. Arriscada arquitetura que põe na fachada somente o belo, e deixa o feio escondido, corroendo as estruturas –bom exemplo disso está na novela das nove, com a vilã construindo imagem impecável enquanto peca nas coxias. “Construir a imagem” tornou-se lícito, não sendo considerado imoral ou sequer expediente enganoso.
A vulgaridade vai por conta da exibição. No passado remoto em que fui educada, exibir-se ou gabar-se era deselegante. Hoje é dever de cada um, atalho certo no caminho que conduz aos tapetes vermelhos e aos milhões de seguidores. Fomos engolidos pela multidão, só ganha destaque e dinheiro aquele que consegue emergir. E todos os meios para isso são considerados válidos, legítima defesa contra a escuridão do anonimato. Mais brilha quem mais se exibe.
Tenho me perguntado para que porta-voz oficial se quem porta a voz do presidente é ele mesmo, galopando desenfreado no dorso do Twitter ou em situações nada oficiais. O palavreado chulo, grosseiro, que não faz questão de disfarçar o ódio, brota inesperado e nos cobre de vergonha.
As pontes para a elegância foram queimadas há tempos em favor do mercado, e progressivamente cada um queimou as suas. Parafraseando o poeta, a elegância é só um quadro na parede, mas como dói a sua ausência.
Marina Colasanti
In: marinacolasanti.com

Todo dia tem sua hora clandestina, dessas que roubamos à transparência e à claridade. Momentos em que a mente vagamundeia, passando a fronteira das nossas horas cheias de propósito. Por fora a fuga quase não se nota (não nos traíssem, quase sempre, os olhos). Estamos aqui e não estamos. Estamos aqui e em outra parte. As circunstâncias mais banais fazem a ponte. Poder ser, por exemplo, o tempo de um café, o tempo de um banho, ou picando tomates. Aproveitamos o oportuno da hora e soltamos os gatos dos nossos pressentimentos, dos nossos desejos cegos, das nossas saudades. Vamos com eles errando por aí, errando com gosto de errar. Monologamos, cantamos baixo, rimos sem razão aparente, fechamos a cara, também sem razão aparente, como que transtornados. Sobrerrondamos ontens e amanhãs. Lembramos de alguém e essa lembrança não necessariamente nos comove, às vezes apenas passa por nós, como que se vingando do nosso desprezo, assim, por se fazer lembrar. Deixada à própria sorte, a mente é esse gato sem raça definida, meio de casa, meio das ruas, em ziguezague pelos telhados, sobre os muros, por caminhos que vão riscando o ar num louco emaranhado invisível, e pode até calhar que um gato passeie com outros gatos, e eles se enrosquem, e troquem cheiros e carinhos telepáticos, enquanto seus respectivos donos, em suas respectivas casas, parecem agir normalmente, três colheres cheias de pó de café no coador, o vapor quente da água nublando o banheiro, e aqueles olhos vidrados, mirando nada, de tão longe.
__________
* Mariana Ianelli é escritora, mestre em Literatura e Crítica Literária pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Falar do silêncio. Dita assim, a frase parece um paradoxo, uma contradição dos termos. Por outro lado, acontece como para todas as realidades grandes e essenciais: só se compreende bem colocando-o em confronto/contraste. Como a vida se compreende bem à luz da morte, assim o silêncio assume sentido se confrontado com a palavra.
Com a qual, contudo, se reconcilia, porquanto silêncio e palavra são duas formas de uma mesma coisa, a linguagem, que é por essência modalidade da comunicação, da relação que se cria entre nós e qualquer coisa que é “outra”, até com aquela parte de nós próprios que sentimos como região “diferente” e obscura para a qual não encontramos palavras. Não falamos nós de “voz” ou “som do silêncio”? Recorda-me uma bela canção, porque o silêncio é também música.
Não quero começar com divagações pseudofilosóficas. Ao escrever sobre o silêncio, vêm à minha mente duas experiências.
Escrevi uma poesia…
A primeira tem a ver com os anos distantes e felizes quando ensinava nos meios de comunicação. Recordo que alguns alunos, quando de alguma forma entravam em confidências, traziam-me bilhetinhos, dizendo-me: «Prof, escrevi uma poesia». Eram uma ternura. Tratava-se quase sempre de textos onde de vez em quando se ia até metade da linha, ou onde por vezes apareciam aqui e ali rimas. Ingenuidade, certamente, mas por trás das quais havia duas intuições importantes.
A primeira é que para fazer uma “poesia” é preciso que as palavras respirem em “espaços de silêncio”, que era a zona “branca” em que estavam imersas. A prosa, a narrativa, e também a descrição, podem ocupar toda a linha: a poesia não, porque a emoção de que nasce precisa de ser “protegida” de espaços de não-palavra.
Também a rima – eis a segunda intuição – tem a sua importância, porque a poesia deve, de alguma forma, “cantar”, e como consegui-lo sem fazer tilintar as sílabas umas sobre as outras? Mais raro é o aparecimento naquelas folhinhas de vestígios de ritmo, mas o essencial estava lá: é o importante é que o silêncio é pedido para fazer cantar os momentos fortes que queremos confiar à poesia.
A outra memória é musical. Aconteceu-me duas vezes nestes meses de escutar na rádio, entre o ofício da Vigília e o das Laudes, um magnífico prelúdio de Debussy, sugestivamente intitulado “De spas sur la neige” (passos sobre a neve), uma música que parece feita de ar, macia como uma névoa luminosa, leve como a própria inconsistência da neve, e – sensibilizou-me pela primeira vez – uma pequena célula de duas notas que se repete com a insistência confortante de uma presença familiar, ou que talvez faz pensar numa pessoa que caminha com ligeireza na neve.
Uma “só” pessoa, todavia, como a pega negra que faz de fulcro à sinfonia de brancos na belíssima “Pie” (a pega) de Monet. Soube depois que o pianista era o grandíssimo Arturo Benedetti Michelangeli. Não me tinha enganado: a execução era demasiado bela, mágica, quase uma experiência visionária! E aqui a ideia do silêncio colou-se a mim sobre aquela de uma leveza delicada, de uma solidão feliz e, ao mesmo tempo, de uma profundíssima paz.
É tempo, agora, de tentar sintetizar alguns significados do silêncio, e portanto o lugar que tem, que pode ou que deve ter na nossa experiência de vida. Terminei recentemente um ensaio sobre a “retórica do silêncio” como “linguagem para dizer Deus” na poesia de R.S.Thomas, e não é difícil fixar algumas conclusões.
O silêncio como entorpecimento
Há momentos na vida em que nos tornamos “mudos”, diante dos quais é-nos instintivo dizer: «Estou sem palavras!». Podem ser uma grande alegria ou um grande sofrimento: o elemento comum é a intensidade da emoção que nos deixa como inebriados, dolorosamente ou alegremente.
Pense-se no que acontece quando um luto imprevisto, a morte trágica ou precoce de uma pessoa querida nos tira a palavra, e a comunicação é deixada para os olhos ou para os abraços.
Pense-se quando, quiçá numa volta da estrada, ou após uma curva na montanha, nos encontramos imprevistamente diante de uma paisagem arrebatadora, que nos deixa sem palavras, ainda que talvez se balbuciem ou se “exclamem” monossílabos sem sentido.
Que sentido tem este silêncio? Porque tem sentido. E diga-se já: recorda-nos a pobreza, a “miséria”, para o dizer com S. Bernardo, das nossas “palavras” (veja-se o esplêndido n. 111 dos “Sermões vários”), quando somos excedidos por alguma coisa de tão grande, que o vocabulário, por muito volumoso que seja, se revela um pobre trapo inútil. É um silêncio que nos ensina a humildade, e que denuncia desapiedadamente a radical futilidade de muito falatório que hoje grassa em todo o lado. Paradoxalmente, é o silêncio a ensinar-nos que a palavra é uma coisa séria.
O silêncio como opção
Se se faz a experiência dos “benefícios” do silêncio, chega-se ao ponto de o escolher até ao ponto, em certo sentido, de o programar. Entre as vantagens do silêncio, acompanhado como irmã natural da solidão, há a de nos fazer “atentos” e/ou de nos colocar à “escuta”, não só através dos ouvidos, mas também dos olhos, que nos fazem ler os outros no seu rosto e nos seus gestos, além do que nas suas palavras.
Silêncio como ir ao encontro. Seja evocada a família dos termos que têm o verbo “tender” (do latim “intedere”) como coração: “atender/atenção” (cuidar de, ter em consideração, estar com atenção), “estender” (do interior par o exterior), “entender” (tender para o interior, apossar-se do sentido), “protender” (estender para a frente, alongar), incluindo-se as versões negativas de “contender” e “pretender”, em que a “tensão” se torna belicosa e agressiva.
Este estender-nos para aquilo que é outro e fora de nós é protegido e bem governado só pelo silêncio, essa “pausa” que perscruta sentimentos, instintos, objetivos que evitem recontros ou equívocos, sobretudo com as pessoas para as quais nos “estendemos”.
O silêncio como antena
É outra modalidade da anterior, e trato-a à parte porque não diz respeito tanto à relação com as pessoas (escuta), mas com as coisas e os acontecimentos. Nasce da habituação ao silêncio físico e à solidão como lugar no qual se reencontra, por um lado, o seu centro, e, por outro, como capacidade de colher esses momentos imprevistos e imprevisíveis a que chamamos “epifanias”. Só se não estivermos distraídos pelo ruído, externo e interno, chegaremos sem esforço, impercetivelmente, a descobrir um raio de beleza numa florzinha amarela, grande quanto uma ponta de dedo que desponta da fenda de uma parede de cimento, e talvez nos sugira uma reflexão sobre a força da vida.
Recordo que há alguns dias, durante uma leitura bíblica, o olhar escapou-me para um vaso de flores aos pés do altar, sobre o qual naquele momento tinha chegado da janela um raio de sol que as acendeu, isolando-as da penumbra. Instintivamente disse-me: que belo! A “palavra de Deus” não me dizia nada naqueles instantes, mas Deus estava a falar-me nas flores acesas pelo Sol.
Gostaria de acrescentar que – é sempre o poeta R.S.Thomas que o recorda –, como a solidão, também a lentidão é irmã do silêncio, permitindo-nos dirigir o olhar “para o lado”, onde está a acontecer um milagre. Cada um pense em como, além do ruído, a pressa é outra desgraça do nosso tempo…
O silêncio “con-centração”
Ruído e pressa são duas das coisas, entre muitas, que nos trazem para fora (dis-traem-nos) daquele centro em torno do qual devemos construir a unidade interior da nossa pessoa. O remédio é encontrar a maneira de nos con-centrarmos, porque só assim é possível navegar entre as tempestades da vida.
Quando parece que nos afogamos, pode caminhar-se com a cabeça fora da água que nos envolve apenas se os pés se apoiam sobre um fundo sólido. Esse fundo é garantido pelo silêncio, um “lugar” a construir e enriquecer com uma série de recursos que cada um deve saber encontrar. Porque um “silêncio vazio” é insuportável, e tem como fruto apenas a procura espasmódica de distrações, num círculo vicioso sem saída.
Os recursos são aquelas formas de “contemplação” que permitem povoar o silêncio até o apreciar, até sentir dele uma necessidade física. São a arte, a literatura, a música, que chamam o silêncio e ao mesmo tempo o alimentam, epifanias de beleza saboreadas a sós ou em conjunto, para lhes partilhar o bem-estar que delas deriva, e cimentar assim a amizade.
O silêncio repouso
Quando se percebe toda a potencial riqueza do silêncio, não é difícil compreender que ele “envolve” a palavra no sentido que é o terreno fecundo que a gera e, simultaneamente, o ponto de chegada mais alto da comunicação, quando as “palavras” acabam por ser inúteis, e até fastidiosas.
Num belo livro dedicado à figura do Card. Martini, intitulado “História de um homem”, o autor, Aldo Valli, conclui reconhecendo quanto é verdade que «amigo é aquele com quem se pode estar em silêncio». Sem embaraço, sem necessidade de mais». É o silêncio em que a ausência de palavras define com felicidade não um vazio, mas um espaço de comunhão profundamente partilhado em que se está bem.
Na poesia “The gap”, R.S.Thomas evoca um Deus que se defende da “agressão” dos homens que pretendem chegar até ele com uma “torre de palavras”. Aqui o silêncio rima com “mistério”, a entender como aquele espaço de sentido que nunca acabaremos de explorar.
O tempo e as férias
Estamos em tempo de férias, e aqui surge-me outro paradoxo, que na realidade é apenas aparente, como o que se declarou ao início na expressão “falar do silêncio”.
E é esse duplo significado que tem em latim o verbo “vacare”, que em francês deriva em “vacance” e em italiano em “vacanza”. Enquanto hoje o termo indica, na maior parte dos casos, um “vazio”, ou um tempo “livre do trabalho”, no latim não se tratava só de uma “liberdade de”, mas sobretudo de uma “liberdade para”, como que a dizer que a primeira podia ser condição para a segunda.
E o segundo sentido de “vacare” era o de ocupar-se de alguma coisa com toda a concentração possível para criar/produzir alguma coisa de belo e de útil. Torna-se assim significativo o contraste tantas vezes evocado na literatura monástica medieval entre “vacatio” e “vagatio”: a primeira é condição para usar melhor o tempo, a segunda é um fútil e estéril perder-se e desgastar-se naquela vã curiosidade que contrasta com a sã.
Não será o caso, antes de ir “de férias”, de perguntar-se, talvez, no silêncio, que uso entendemos fazer do tempo?
Nico Guerini
In Settimana News
Trad.: Rui Jorge Martins
Publicado em 31.07.2019 no SNPC

Inácio de Loyola foi um homem da mudança, da transição no tempo, dos tempos novos, agitados, turbulentos, de transbordantes novidades que punham em questão tudo o que até então ele recebera; mas não se fechou a elas e, sim, abriu-se ao diferente e novo. Um novo “movimento” começa em sua vida e Inácio passa a viver a aventura de contínuos deslocamentos, internos e geográficos. Torna-se o peregrino do Absoluto.
Sempre em marcha, sem encurtar os passos, o peregrino Inácio avança como homem livre, sem deixar-se aprisionar por nada nem por ninguém, aberto aos acontecimentos, pronto a servir a Deus ali onde O encontra. A peregrinação interna e geográfica o torna mais humano, com maior visão, grandes desejos.
A grande originalidade na história e na vida de Inácio não é a que ocorreu fora, mas a que aconteceu dentro dele mesmo. Sua principal contribuição à história da humanidade não é o que pessoalmente ele realizou em suas atividades de apostolado e de governo, ou sua obra exterior mais conhecida, a Companhia de Jesus, mas a descoberta de seu “mundo interior” e, através dela, a descoberta desse continente sempre inexplorado e surpreendente, que é o coração de cada ser humano, onde acontece o mais importante e decisivo em cada pessoa.
Imobilizado e impossibilitado fisicamente, Inácio se surpreende a si mesmo escavando e trazendo à tona toda sua capacidade de aventura neste continente inexplorado (o de seu mundo interior e o da ação de Deus nele). Enquanto seus contemporâneos aventuravam-se na descoberta de novas terras, seu descobrimento não é menos importante, e é de maior alcance humano que o daqueles. Sem ruído, sem galeões, sem dinheiro, sem pólvora, sem armas, sem sangue, sem violência, sem vencidos e humilhados, Inácio abrirá caminhos nesse continente interior, próprio e de cada ser humano, “conduzido, sabiamente ignorante” do que vai encontrar, deixando-se levar e observando como é levado.
A partir do seu percurso interior, inicia-se um movimento de itinerância geográfica. Mais que um simples se deslocar, trata-se de um modo de viver e de situar-se no mundo. Depois de ter posto materialmente seus pés sobre as pegadas de seu Senhor e beijar o solo que Ele havia pisado, Inácio compreende que a terra de Cristo era o vasto mundo de seu tempo. Desde então, para além do deserto e da peregrinação a Jerusalém, abre-se diante de seus olhos, outro caminho.
Iluminado pela luz divina, faz-se peregrino de Deus. Peregrinar é avançar pelos caminhos do mundo, conhecer povos e costumes, escutar ideias novas e opiniões diferentes, sentir-se solidário com outros caminhantes.
Assim se dilataram infinitamente seus horizontes.
Decididamente, Inácio se volta para o mundo, esse borbulhar de acontecimentos sócio-político-religiosos, no qual reconhece o lugar da Encarnação.
Buscando considerar todas as coisas em sua referência a Deus, Inácio quer servi-lo em toda circunstância. Dado que seu Criador e Senhor está presente e ativo em todo e qualquer lugar, ele se dirige ao mundo sem temor a nada, seguro de que cada um de seus passos o conduz ao lugar da adoração e do serviço.
Inácio contempla o mundo com Deus; longe de representar um espaço de perdição e de dispersão, o mundo é para ele o lugar do serviço. O olhar que pousa sobre a realidade reacende nele a saudade de Deus e o sentimento de sua presença.
A partir de então, o mundo o aproxima de Deus e a saudade de Deus não o afasta do mundo.
Àqueles que desejam segui-lo, Inácio lhes propõe um itinerário para “encontrar Deus em todas as coisas”: olhar a criação, acolher cada criatura e cada acontecimento como uma mensagem divina, aceitar a própria história e deixar-se levar por seu dinamismo.
Inácio de Loyola foi um homem universal: basco, castelhano, catalão, parisino, veneziano, romano e europeu. Seu coração era tão grande como o mundo, sempre livre para a maior glória de Deus.
Para fazer-se presente neste vasto mundo, de uma maneira original e criativa, decidiu “estudar”. Formou-se em Paris, onde conquistou o título de Mestre em Artes.
Ali se matriculou com um nome novo, no dizer de Ribadeneira, “por ser mais universal”: Inácio.
Mesmo durante o período de l541 até 1556, ano de sua morte, quando se instalou em Roma, continuou sendo o peregrino que escolheu ser. A partir de seu pequeno quarto, estava presente em todos os pontos do mundo onde algo novo brotava.
Suas preocupações e suas cartas estão cheias de nomes de toda a geografia universal até então conhecida, desde o Congo ao Brasil, desde Espanha até a China ou Etiópia.
O basco Inácio de Loyola alcançou, assim, sua plenitude humana e divina precisamente porque foi capaz de abrir-se à universalidade de todas as terras, de todos os povos e de todas as culturas, sem distinção de raças nem exclusão de ninguém. Foi norma sua que “o bem quanto mais universal, mais divino”.
Nestes novos tempos, tão conturbados e carregados de violência preconceituosa e intolerante, o Espírito continua chamando cada um de nós a uma presença mais aberta e livre, mais inspiradora e compassiva, no relacionamento com todos aqueles que são os outros. Afinal “somos pessoas para os outros e com os outros”.
A cultura do mundo no qual agora vivemos requer outro tipo de presença: “viver a cultura do encontro, frente à cultura da indiferença” (Papa Francisco)
Somos desafiados a “viver uma vida no mundo e no coração da humanidade” (P. Kolvenbach).
Tal desafio implica fidelidade à realidade que nos cerca, para poder descobrir a novidade de Deus numa experiência “mística” que nos faça tocar no mais profundo desta mesma realidade.
Não se trata de fugir da realidade, mas de perceber sua última dimensão, na mais profunda dinâmica, ali onde o Espírito de Deus e o nosso se fundem em uma combustão que nos torna criadores da novidade neste mundo.
Estes nossos tempos, novos e turbulentos, pedem de todos nós, críticos, inquietos e vigilantes, uma constante releitura dos novos “sinais” que surgem, a necessidade de viver em estado de atenção permanente, capaz de nos deixar impactar por tudo o que acontece e, no discernimento, assumir decisões mais ousadas e criativas.
Se alguém se mantém constantemente de olhos abertos diante do que está vivendo, como fez Inácio, se está aberto às novas formas de socialização que estão transformando o nosso mundo, se alimenta as novas esperanças de uma humanidade que é diferente, se valoriza as novas formas de expressar a experiência religiosa..., certamente estará assumindo uma atitude ativa e acolherá tudo o que humaniza e rejeitará tudo o que desumaniza.
Que S. Inácio nos inspire a “estar no mundo..., sem sair do mundo”, à maneira de Jesus, com o coração cheio de compaixão, com os pés sempre em movimento quebrando distâncias, com as mãos sempre abertas para o serviço solidário...
Pe. Adroaldo Palaoro sj

Amar é aceitar e respeitar. Mais do que esperar por mudanças ou tentar que elas aconteçam, amar é receber o outro como ele é, não como alguém que poderá ser melhor, mas sim como alguém que é bom tal como é.
Amar supõe humildade, uma grande humildade, uma vez que nunca me posso julgar ser melhor do que ninguém, até porque, na realidade, não o sou.
O que devo então fazer? Dar espaço e tempo para que quem eu amo possa ser quem é. Amar não é impor condições, é o contrário, aceitar sem exigências.
Amando, entregamos ar puro à vida do outro. Amando, lançamos luz sobre as escolhas de quem amamos, não para as censurar, mas para as tentar compreender. E, ainda que não as compreendamos ou que, mesmo compreendendo, não concordemos com elas, jamais o amor nos incentivará a interferir nas opções do outro.
O ser humano concreto é sempre livre. Quem não respeita esta verdade não terá capacidade para amar.
Amar não é admirar tudo no outro, é sim entregar-me a alguém que, tal como eu, vive uma vida autêntica. Com medos, erros e outra forma de escolher os caminhos melhores.
Mas o que posso fazer? Com simplicidade e de forma sincera, expressar a minha perspetiva e as minhas conclusões. Mas também tenho o dever de lhe declarar, vezes e vezes sem conta, o que sinto: o amor, revelando sempre o facto de ele ser incondicional.
Escolher um caminho é escolher as suas consequências. Quem decide amar, e o amor é mesmo uma escolha, consente a existência de um outro, diferente de si, na sua vida. Isso implica muitos desencontros, mas se se respeitarem, então hão de ser felizes. Porque se encontraram um ao outro e a si mesmos.
Dois iguais não se amam. É sempre mau quando se tentam mudar um ao outro, quando lutam para que o outro se torne mais semelhante a si ou, até, quando julgam que amar é instruir o outro. Amar é aceitar alguém, defender e promover o seu ser. Mesmo nas questões em que se diferencia de nós.
Amar é reconhecer a mais profunda dignidade que há em cada ser humano. A sua absoluta originalidade. Somos todos muito parecidos, mas não haverá, em toda a humanidade, duas pessoas iguais. E isso é bom. Faz-nos a todos mais fortes, porque nos podemos entreajudar.
E tudo isto faz quem ama, não para ser amado, mas para ser feliz!
Há uma verdade absoluta no que diz respeito ao amor: A humildade é o preço do céu.
José Luís Nunes Martins
In: imissio.net 26.07.2019

Há dores que nos fazem perder o sorriso, mas também nos secam as lágrimas, de tão profundas que são. A vida é dura, quase injusta. Chegam a ser incompreensíveis as tantas adversidades contra as quais estamos obrigados a lutar pela sobrevivência do que somos.
Há pessoas que se conseguem manter puras, apesar de terem de passar por vales tenebrosos. Guardam-se na esperança de que, mais adiante, haverá espaço e tempo para continuarem a ser quem são. Uma fé que é força. Uma bondade que é paciência. Um amor, não pelo que são, mas por aqueles a quem dão a sua vida.
Certos sofrimentos trazem o dom de nos revelarmos a nós mesmos como mais fortes. Despem-nos de todo o lixo que tantas vezes julgamos ser riqueza, proteção e beleza. O que fica? O que somos e podemos ser, o que persiste e resiste face à tempestade. Não é algo que a sociedade considere digno de contemplar, pois que a verdade crua é sempre algo em que é difícil fixar o olhar.
Há mudanças na vida, mais ou menos súbitas, que nos parecem tragédias, mas que depois se revelam como o exato ponto de partida de uma enorme aventura. Sim, quase sempre as longas viagens passam pelo menos um grande deserto árido.
O amor é a poesia da vida. Que cada um de nós se faça poema. Há instantes mais valiosos do que coroas de reis… são aqueles em que, de forma simples, chegamos a ser quem somos. Apesar das dores, por causa das dores ou para vencer as dores.
Podemos ser as asas invisíveis que outros sentem a elevá-los quando são amados.
Da janela que das trevas se abre para a luz pode contemplar-se uma beleza que parece resolver todos os problemas e mistérios da existência. Demora a encontrar. A escuridão tenta ocultá-la. Está no alto. É preciso construir uma escada e depois subi-la…
Pode a existência ter um sentido que não somos capazes de compreender? Sim. A inteligência humana é limitada sendo capaz de ter consciência da verdade de outras dimensões que ultrapassam o seu entendimento.
As asas que sinto ter, e aquelas que quase oiço à minha volta, dão-me a estranha certeza de que algo não deixa de ser verdade apenas porque não tenho provas.
Este mundo não é o todo. No entanto é nele que somos chamados a viver, a amar e a aceitar ser amados.
A vida quer viver. Sempre.
Desgraçado de quem julga que a vida é sua, que a verdade é determinada pela sua liberdade e que este mundo é tudo o que há.
O amor costuma despertar-nos com dores que animam.
José Luís Nunes Martins
In: imissio.net 16.02.2018

Na esmagadora maioria dos casos, a ansiedade é uma resposta racional e sensível aos acontecimentos e contextos estranhos, incertos e arriscados desta nossa vida.
O ser humano é frágil, a nossa constante atenção e capacidade de previsão são armas que visam proteger a nossa integridade, tanto a nível exterior como interior.
No entanto, a nossa imaginação e inteligência tendem muitas vezes a complicar o que, na realidade, é simples. O que nos faz pagar um preço alto, uma vez que a nossa própria paz é afetada sempre que nos enredamos em confusões que não existem senão dentro de nós, mas cuja criação não dependeu apenas da nossa vontade.
A verdade é que possuímos muita informação, mas é muito pouco e quase irrelevante para nos ajudar nas decisões concretas da nossa vida.
Mais, a sociedade segue a um ritmo tão acelerado que não há tempo para descansar. Parece impossível que alguém consiga parar, pensar e sentir, desfrutar ou sofrer… Como se a nossa existência acontecesse dentro de um comboio que anda sem parar. Tudo é passageiro, momentâneo… até o descanso não pode ser nunca mais do que isso.
Há quem perca a sua autenticidade, outros até a identidade, mas a maioria vive em confronto constante com esta dimensão aflitiva da vida. A inquietação permanente de uma presa exposta que não se pode distrair, sob pena do seu predador a caçar.
A ameaça é constante porque tudo pode mudar num breve instante.
Alguns colocam a sua felicidade na expetativa da admiração e amor dos outros, mas como não controlam nem as necessidades nem as esperanças dos outros, esta sede de ser amado torna-se uma inquietude sem fim. Alguns, quando sentem a afeição do outro a escapar-lhes, tentam impedi-lo de forma rude, como se fosse possível forçar alguém a amar quem quer que seja, menos ainda quem o toma por um degrau para uma satisfação egoísta.
Mais, quase todos passamos o tempo ansiosos e… preocupados com que isso não se perceba. Como seria bom que todos assumíssemos as nossas ansiedades quotidianas.
A ansiedade é um sintoma da existência. Vivemos mesmo dentro dos mistérios de um mundo estranho, desarrumado e ameaçador.
Talvez a solução seja parar. Descansar. E aceitar a ansiedade como parte da vida. Depois, à distância, compreender as suas causas concretas em cada um de nós e tomar a sua existência não como uma derrota, mas antes como algo inevitável que até pode ser colocado ao serviço dos nossos interesses mais profundos.
É a confiança que faz diminuir a ansiedade. Abraçando-a com aquela firme certeza de que, mesmo que sejamos ridículos, não perderemos a dignidade. Nunca.
Para surpresa de muitos que se julgam maduros e sábios, só quando, amando, somos capazes de deixar de ser o centro do nosso mundo e das nossas preocupações nos é dado a ver melhor o que somos e a razão dos nossos medos.
Vivemos na história, mas não somos o que nos acontece, somos a resposta que damos ao que nos acontece. Essa é a nossa história. Isso é o que somos.
Somos uma narrativa sem espaço para sucessos e fracassos, porque está cheia de vida. E a vida é uma fusão de alegrias e tristezas, onde podemos escolher ir aprendendo a confiar, a amar e a ser felizes, amando.
Somos muito mais do que gotas de água que nada podem contra correntes, ondas e marés. Por vezes, a ansiedade é um sinal simples de que é tempo de descansarmos e de deixarmos que o nosso espírito paire sobre as águas. Confiando.
José Luís Nunes Martins
In: imissio.net 19.07.209

Não somos fruto de pó de perlimpimpim, mas de um sonho maior e infinito d’Alguém que quer o nosso maior bem e nos ama infinitamente. Sempre!
Acredito profundamente que a cada um e a cada uma de nós foi dada a oportunidade de uma viagem – longa ou breve no tempo cronológico, mas única e irrepetível – de saborear a vida plena, numa matéria que é o nosso corpo.
E esta vida é feita de pessoas, escolhas, lugares, idiomas, cheiros, memórias, pensamentos, ações, sorrisos, lágrimas, encantos e desencantos, medo, coragem e determinação…tanto a inventariar!
Penso que o maior desafio que se nos coloca em cada dia é a possibilidade de nos (re)criarmos. Como no dia da nossa fecundação. Esse momento Divino!
(Re) criar passa pela decisão de não nos deixarmos envolver demasiado pelas pré-ocupações da vida, pela possibilidade de escolhermos não ser o exterior a determinar as nossas decisões mais íntimas e mais estruturantes. (Re) criar passa por manter a agenda da vida sem espaço para o que não lhe acrescenta vida. E sobretudo paz. (Re) criar passa por não corre o risco de viver adormecida, anestesiada ou apressada, sem tempo para que a vida manifeste as carícias das suas surpresas providenciais.
A vida tem uma melodia nem sempre harmoniosa, mas que, ainda assim, nos pode abrir sempre uma porta para o divino e o eterno. E é a escolha de entrar ou não por essa porta que nos pode ajudar a não viver…ou a viver! E ter como horizonte uma vida (com)sentida, porque fecunda!
Cristina Duarte
In: imissio.net
11.07.2019

O que nos torna semelhantes a Deus não será, certamente, o nosso subtrair-nos aos outros, mas, ao contrário, a descoberta da possibilidade de durar no amor, muitas vezes em contraposição com o primeiro juízo emitido pela razão ou com o peso daquelas que consideramos ser as evidências.
Cedemos com grande facilidade à tentação de fechar portas, consumar rupturas, resignarmo-nos a certas perdas (ou também, cinicamente, delas nos tranquilizarmos).
Se assimilarmos como regra de vida o pragmatismo da expressão «dos presentes não falta ninguém» (pragmatismo mais espalhado entre nós do que talvez tenhamos consciência), não poderemos compreender porque é que o pastor, na parábola de Jesus, deixa as noventa e nove ovelhas no deserto e parte à procura daquela perdida (Lucas 15, 4,7).
Nem compreenderemos porque é que a mulher se dá ao esforço (negligenciando, provavelmente, outros afazeres mais imediatos e urgentes) para encontrar a moeda que tinha perdido dentro de casa (Lucas 15, 8-10). Não tinha ela outras nove na bolsa?
Nos itinerários pessoais ou comunitários que estamos a fazer, há um dado que emerge com suficiente clareza: não nos aproximaremos do mistério da misericórdia se não pusermos dentro de nós aquilo que o grande teólogo Nicolas Cabasilas chamou «o amor louco de Deus pelos homens». A verdade de Deus e incindível do amor.
D. José Tolentino Mendonça
In Avvenire
Trad.: Rui Jorge Martins
Imagem: D.R.
Publicado em 09.07.2019

Falta-nos, talvez, descobrir ainda quanto a escuta é um sentido adequado para acolher a complexidade daquilo que a vida é. A verdade é que escutamos tão pouco e, dentre as competências que desenvolvemos vida fora, raramente está a arte de escutar. Na Regra monástica de São Bento há uma expressão essencial, se quisermos perceber como se ativa uma escuta autêntica: “Abre o ouvido do teu coração.” Quer dizer: a escuta não se faz apenas com o ouvido exterior, mas com o sentido do coração. A escuta não é apenas a recolha da malha sonora do discurso. Antes de tudo, é uma atitude que se pode descrever como um inclinar-se para o outro, uma disponibilidade para acolher o dito e o não dito, uma abertura tanto ao entusiasmo do visível como ao seu avesso, à sua dor. O conhecimento de que mais precisamos provém dessa forma de hospitalidade que a escuta representa.
Sabemos que uma árvore que tomba faz mais barulho que uma floresta a crescer. E se um camião se desloca vazio ou com meia carga faz mais rumor do que se for realmente cheio. O vazio pode ser muito ruidoso e a plenitude completamente silenciosa. Um Padre do Deserto contava que a capacidade de escuta de um discípulo era tão grande que conseguia distinguir, à distância de muitos metros, uma agulha a cair. Ora, muitas vezes, nós nem a poucos centímetros somos capazes de ouvir a vida a tombar. A escuta pede, por isso, exercitação e treino. Numa cultura de avalancha como a nossa, ela configura-se como um recuo crítico perante o frenesim das palavras e das mensagens que a todo o minuto nos submergem. Os modelos de vida hoje em vigor são atordoantes, e a única compensação para as nossas existências extenuadas parece ser o entretenimento. Porém, a própria palavra ‘entreter’ fala por si mesma: entreter significa ter ou manter entre, numa espécie de suspensão que nos captura. E a dada altura, nessa terra de ninguém, não vivemos já em lado algum, nem em nós próprios.
Há uma outra história dos ditos e feitos dos Padres do Deserto (Edição Assírio & Alvim, 2004), que dá que pensar. Um mestre tinha doze discípulos e o seu preferido era o que se ocupava da caligrafia. Isso naturalmente gerava problemas aos restantes, que não percebiam aquela predileção. Então o mestre decidiu colocá-los à prova em conjunto. E, um dia, em que estavam todos ocupados a trabalhar, cada um em sua cela, o mestre clama: “Eia, meus discípulos, vinde a mim.” O primeiro que apareceu foi o discípulo calígrafo e só depois, pouco a pouco, chegaram os outros. O mestre levou-os então à cela do calígrafo e disse-lhes: “Vede, ele estava aqui a desenhar a letra ômega e interrompeu o desenho de uma pequena letra para acorrer ao mestre.” Então os discípulos responderam: “Percebemos agora. Amas aquele que verdadeiramente te escuta.”
Mas há, porém, um paradoxo com o qual temos de contar: é que a verdadeira escuta pede que nos tornemos surdos. Diz Evagro Pôntico, um antigo mestre espiritual: “Esforça-te por conservar o teu espírito surdo e só assim poderás rezar.” Que surdez é esta? É aquela que brota do abandono. A nossa escuta é permanentemente interrompida por urgências que se impõem, sobretudo falsas urgências, ficções que nos povoam e barram a experiência essencial. Sempre que a nossa escuta desiste de ir até ao fim, ela desiste de si. Por isso Evagro recomenda: “Torna-te surdo.” A verdade é que se não formos capazes disso, não mergulharemos no silencioso oceano da escuta. Convite paradoxal a se perder para encontrar-se. Teremos de aprender a trocar a potência do ruído pelo murmúrio do silêncio. E a ser como os rebanhos que nos campos seguem o sopro trémulo da flauta do pastor em vez do vento.
D. José Tolentino Mendonça
In: imissio.net 29.06.2019

Gosto de pensar que a mesma raiz etimológica une, em grego, o adjetivo “belo” (“kalós”) e o verbo “chamar” (“kaléo”). A beleza surge assim como um chamamento.
Cada vocação humana é a resposta à atração de alguma coisa (ou de alguém!) que nos chama. Sem este apelo fundamental, a nossa vida seria privada de motivação, e cada vez mais distante da sua realização autêntica.
A verdade é esta: se a alegria do encontro, se a surpresa de um enamoramento, de um «que belo!» gritado com o coração, não precede as renúncias ou os sacrifícios, estes não geram a não ser tristeza, rigidez, rigorismo e frustração. A vida não começa com a ética, mas com a estética. Avança não por obrigação, mas graça à força da atração.
Na vida não se segue em frente por decreto. Como na parábola de Jesus, o ponto de transformação é a descoberta da pérola oculta ou do tesouro no campo. Só assim experimentaremos que «onde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração».
A vida humana não é estática, mas extática. A vida é êxtase, movimento, desejo de união ao objeto do amor. Consuma-se por uma paixão que germina de uma beleza capaz de nos iluminar.
Todavia, pertencemos a um tempo e a uma cultura que parecem ter renunciado à beleza. Para a redescobrir, teremos provavelmente de abraçar o silêncio e a lentidão dos caminhos menos frequentados.
D. José Tolentino Mendonça
In: Avvenire
Página 11 de 22