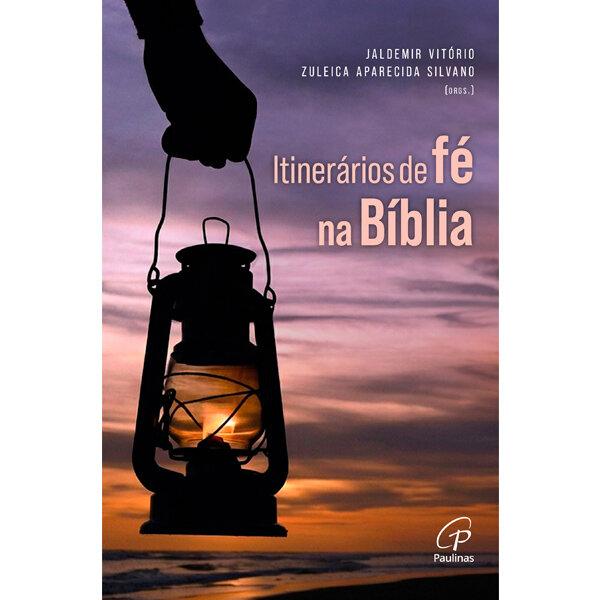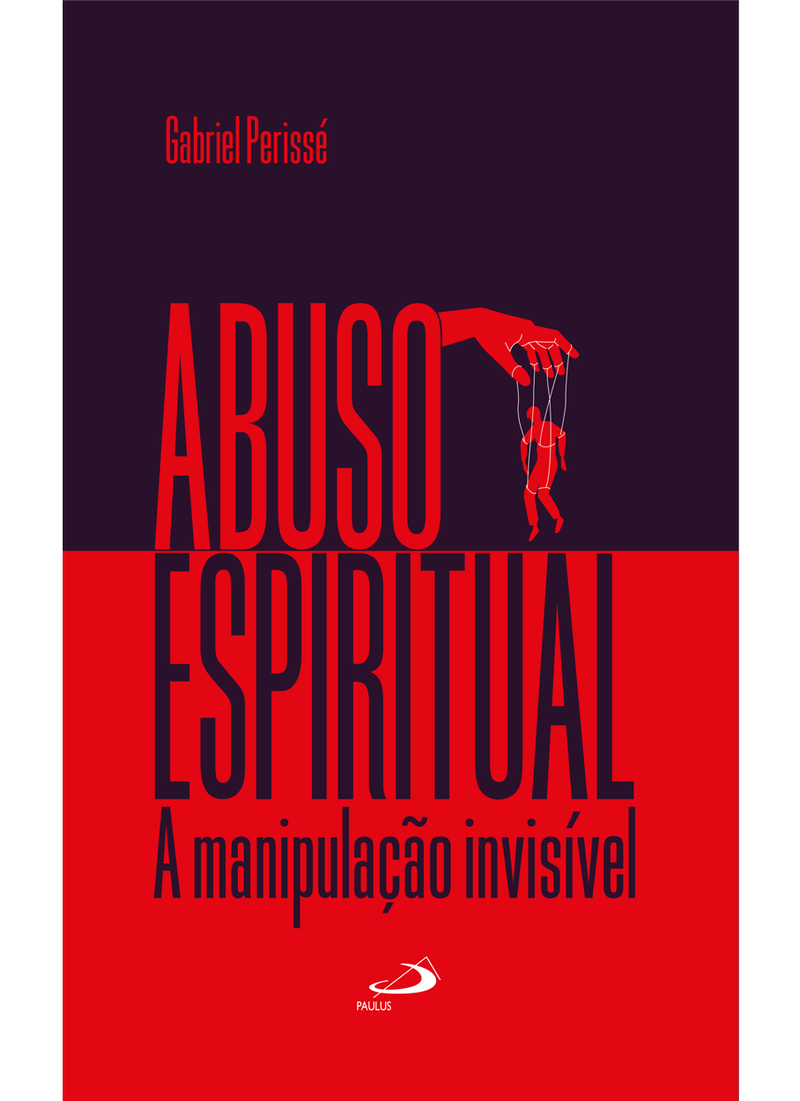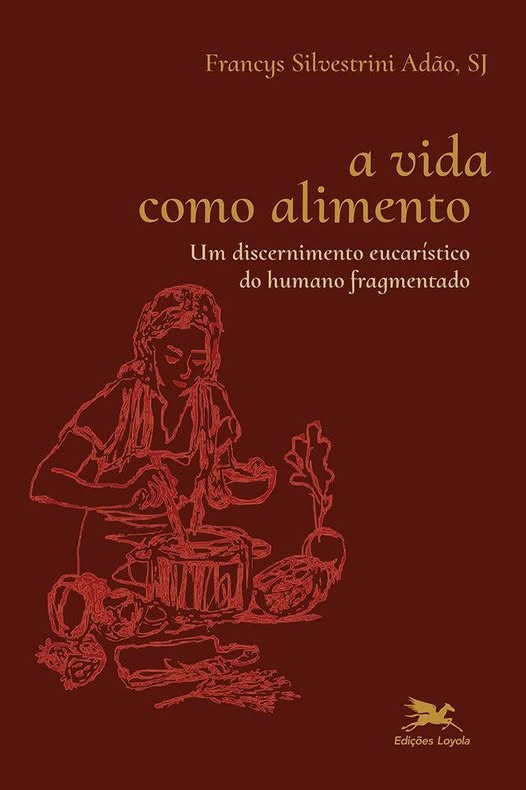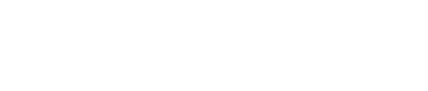Título: Teopoética: mística e poesia
Organizadoras: Maria Clara Bingemer e Alex Villas Boas
Ano de publicação: 2020
Número de páginas: 352
Edições Paulinas e Editora PUC-RIO
Teopoética: mística e poesia evoca este exercício de produção do paradoxo em que possibilita o impossível na linguagem. Essa capacidade poética compreende como Palavra divina, seja ao poeta, seja ao místico, quando na condição de ser palavra inspirada. Entretanto, para evocar Michel de Certeau, a poesia como prática discursiva também está relacionada a uma prática social, com duas funções: ética e crítica. Assim, em tempos de muros, a teopoética é chamada a ser ponte, e aqui não somente porque une o velho e o novo continente, mas porque a esperança que doa nos aproxima dos dias que ainda não se realizaram plenamente, mas que já estão presentes nos mais nobres sonhos de humanidade que habitam nossos desejos, e alimentam a resistência. A poética dos místicos, naturalmente insurgentes, não autoriza a desistência do ético, e todo discurso ético é de algum modo místico, sobretudo em novos tempos de teodiceia que buscam justificar o antiético.
Teopoética: mística e poesia, livro organizado por Maria Clara Bingemer e Alex Villas Boas, apresenta uma área de intersecção importante dentro do diálogo entre teologia e literatura.
A obra traz o discurso da “teopoética” destacando a relação entre mística e poesia como um lugar de entrelaçamento cultural, onde se conectam teologia, literatura, estética, espiritualidade e todas as formas da arte.
“Teopoética: mística e poesia evoca este exercício de produção do paradoxo em que possibilita o impossível na linguagem. Essa capacidade poética compreende como Palavra divina, seja ao poeta, seja ao místico, quando na condição de ser palavra inspirada”, complementa Alex Villas Boas, coorganizador da obra.
O livro teve origem a partir das discussões desenvolvidas no VII Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Literatura e Teologia (ALALITE), com o tema “Mística e poesia”, realizado na PUC-Rio.
Sobre os organizadores:
Maria Clara Bingemer é doutora em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Gregoriana (1989). Atualmente é professora titular no Departamento de Teologia da PUC-Rio e durante dez anos dirigiu o Centro Loyola de Fé e Cultura da mesma Universidade.
Alex Villas Boas Coordenador científico do CITER - Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Professor no Mestrado e no Doutorado da Faculdade de Teologia da mesma Universidade.

Livro: Sabedoria da Carne
Uma filosofia da sensibilidade ética em Emmanuel Lévinas
Autor: Nilo Ribeiro Junior
Edições Loyola
O mote que atravessa esta obra inspira-se na expressão sabedoria do amor, cunhada pelo filósofo Emmanuel Lévinas. Pretende-se aqui dar passos concretos em vista de conduzir o leitor aos meandros da escritura de Lévinas tendo-se presente a diversidade do conjunto de sua publicação ao longo do arco de sua vida, na qual a temática do corpo e da carne se inscreve de matizadas formas. O percurso exegético-hermenêutico da obra levinasiana se dará em três etapas: a primeira parte da investigação se ocupa de pontuar a maneira como Lévinas bebeu da fenomenologia histórica contemporânea de Husserl e Heidegger e como ele se distancia dela graças à apropriação de outro imaginário filosófico proveniente da tradição hebraico-talmúdica; a segunda parte visa acentuar a assimilação das categorias de criação, revelação e redenção advindas da influência do judaísmo de Franz Rosenzweig para associá-las à relação ética com o outro; a terceira parte da investigação recairá sobre o sentido do corpo-redenção, uma vez que a obra Autrement qu’être será especialmente explorada à medida que a investigação avança. Por último, a obra ocupa-se da passagem do corpo-ético ao corpo-político. Na sequência dessa problemática se enquadra o último passo da obra a partir da qual a sabedoria da carne será posta em confronto com o pensamento encarnado de outros dois expoentes da filosofia da tradição francesa: Merleau-Ponty e Michel Henry. Como se trata de um olhar prospectivo se procurará evidenciar apenas alguns traços da fecundidade dessa intriga entre diversas posturas filosóficas. Afinal, se é verdade, como assevera Lévinas, que a filosofia é “um drama de muitos personagens”, a sabedoria da carne deverá contar com a trama e a exposição de diversos corpos que se dizem no discurso filosófico cientes de serem antecedidos pelo Dizer de um Rosto.
Equipe do site
11.11.2020

“L” de diferença, de Clovis Salgado Gontijo
Concepção da obra
A obra “L” de diferença, de autoria de Clovis Salgado Gontijo, é composta por três contos. Cada um deles aborda um tipo específico de diferença, experimentado por seu protagonista. Tais diferenças fazem com que três jovens, pertencentes a variadas épocas e contextos, sejam alvo de atos de discriminação, bullying e exclusão, perpetrados por seus pares. A incômoda diferença é superada nos três contos por um momento de “graça”, que, embora não permaneça, permite ao leitor – e, em alguns momentos, às personagens – reconsiderar o papel da diferença na constituição da condição humana e de sua subjetividade.
O primeiro conto, intitulado “Algo a menos”, narra a história de Laércio, menino carente da periferia de uma grande cidade brasileira, nascido sem a orelha direita. A diferença de Laércio é acentuada pelo contexto em que o professor-narrador o encontra: um projeto social de educação ecológico-musical dedicado à apreciação auditiva de cantos de pássaros. Graças à contribuição voluntária de renomado cirurgião plástico, Laércio recebe, com entusiasmo, uma orelha. Contudo, a ação não é suficiente para restaurar sua integridade como ser humano. Como muitos garotos de seu bairro, Laércio é aliciado por traficantes locais a fim de atuar como intermediário no tráfico. Após tornar-se viciado em drogas e, assim, dependente dos traficantes, Laércio morre aos 16 anos, vítima de uma overdose de cocaína.
O segundo conto, intitulado “Algo a mais”, faz uma releitura do drama de Laura, protagonista da aclamada peça do dramaturgo norte-americano Tennessee Williams, The Glass Menagerie (traduzida para o português como À margem da vida ou O zoológico de vidro). A história de Laura, moça frágil dependente da mãe e do irmão, é narrada pela Luz, que, além de desempenhar papel fundamental na peça, possui íntima conexão com o tema da graça na tradição filosófica e religiosa ocidental. Laura sofre por ter uma perna mais curta que a outra, exigindo-lhe o uso de uma órtese, “algo a mais” que a identifica com a peça predileta de sua estimada coleção de miniaturas de vidro: o unicórnio. A deficiência de Laura é superada, por alguns momentos, quando, banhada por uma luz encantada, a garota dança com um antigo colega, popular nos tempos de escola. Infelizmente, após um beijo roubado, o jovem revela estar noivo e, assim, o encontro não poderá se repetir. No entanto, um vestígio da breve metamorfose seguirá para sempre impresso no unicórnio, cujo chifre foi acidentalmente quebrado durante a dança.
O terceiro conto, intitulado “Um não-sei-quê”, apresenta a história de Luigi, um jovem paulista solitário de 21 anos. Luigi não possui uma deficiência ou um excesso visível, mas paira a seu redor uma diferença intangível, que por muitas vezes seus antigos colegas quiseram classificar, depreciar e ridicularizar. Seu avô, um imigrante italiano, ofereceu ao neto educação erudita, que contrastava com as referências culturais habitualmente partilhadas pelas crianças e adolescentes de seu meio. Em virtude de seu gosto particular e de seu comportamento introspectivo, a sexualidade de Luigi é posta em questão. O preconceito o impede de ter amigos de sua idade, mas finalmente, numa viagem às montanhas sul-mineiras, Luigi aventa uma possibilidade concreta de amizade, sugerida por uma série de coincidências envolvendo a “cambuquira”, nome tupi dado aos brotos da aboboreira. A amizade vislumbrada é abortada, mas a experiência de Luigi ainda é capaz de florescer e frutificar em direções imprevistas.
A título de conclusão, segue um “Posfácio”, no qual são estabelecidas algumas ligações entre os três contos, suas personagens, seus temas e seu argumento central.
A partir do segundo conto, as personagens dos contos anteriores são recordadas com o objetivo de enfatizar semelhanças e contrastes entre elas e suas respectivas diferenças. Portanto, Laércio é mencionado no segundo conto, enquanto Laércio e Laura são evocados no terceiro. As menções incluem não somente referências aos protagonistas, mas também às personagens secundárias.
Tendo em vista seu tema condutor, a obra foi pensada especialmente para jovens leitores entre 16 e 19 anos. Além de proporcionarem contato literário e poético com o tema da diversidade e do bullying, os contos poderão servir de base para discussões em sala de aula, a partir das reflexões filosóficas, existenciais e espirituais por eles despertadas.
Biografia Clovis Salgado Gontijo
Professor assistente da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE), Clovis Salgado Gontijo possui dupla formação em Música e Filosofia. Mestre em Música pela Texas Christian University (2002) e Doutor em Estética e Teoria da Arte pela Faculdade de Artes da Universidade do Chile (2014), teve sua tese publicada, em versão abreviada, pelas edições Loyola, sob o título Ressonâncias noturnas: do indizível ao inefável (2017). Traduziu e prefaciou o livro A música e o inefável, de Vladimir Jankélévitch, publicado na coleção Signos Música da editora Perspectiva (2018). Contribuiu, ao longo de um ano, para a Revista Família Cristã, com artigos dedicados a possíveis conexões entre arte e espiritualidade, e hoje é um dos líderes do grupo interdisciplinar de pesquisa “Mística e Estética” (FAJE), cadastrado pelo CNPq. Além de seus trabalhos acadêmicos, voltados sobretudo para a Mística, a Filosofia da Música e o pensamento de Vladimir Jankélévitch, procura aplicar seus conhecimentos em projetos ligados à formação de público e à sensibilização estética. “L” de Diferença é seu primeiro livro no campo da ficção.

Livro: Filosofia da Religião: problemas da antiguidade aos tempos atuais
Organizadores: Daniel Ribeiro de Almeida Chacon e Frederico Soares de Almeida
Edições Loyola 2020
Não se trata, em primeiro lugar, de pronunciar-se pró ou contra a “existência” de Deus. O que importa antes de tudo é a salvaguarda da dignidade da pessoa humana. Embora se tente com frequência encobrir esta experiência, é o ser-humano como tal, que não pode sufocar definitivamente a inquietude que provoca a consciência do mistério de sua própria existência. Esse encobrimento sistemático constitui, de fato, a marca dominante de um mundo progressivamente secularizado. Daí a relevância de todo empreendimento que, agindo contra a corrente, procura pôr em evidência, autenticamente, a busca de algo mais, que vibra no mais íntimo do coração humano. Mais do que qualquer progresso científico ou técnico, mais do que qualquer desenvolvimento econômico, o que se requer para a realização individual e para a convivência pacífica da humanidade é a compreensão da vida como um dom, acolhido na liberdade e gratidão e partilhado gratuita e responsavelmente com todos. Tal é, sem dúvida, o objetivo dos estudos que vão agora a público.
Mac Dowell, SJ

Mediante textos que se inscrevem naqueles tipos de saber próprios da Filosofia e da Teologia, que há séculos caracterizam a tradição jesuíta, sem se fechar, porém, a outras áreas do conhecimento, a Coleção Faje quer incrementar o debate junto ao público universitário e demais interessados pelo conhecimento. Esta obra possui duas partes autônomas.
Na primeira, cinco perícopes dos Evangelhos, aleatoriamente escolhidas, são analisadas: verificam-se o texto e sua delimitação, seu gênero e estrutura literária, sua contextualização literário-teológica e sua teologia. O foco, portanto, é a figura de Jesus.
Na segunda parte, é apresentada a figura de Maria, mãe de Jesus. Parte-se do Concílio Vaticano II, que fala da presença e do papel de Maria na história da salvação, convidando o leitor a olhar para além do mero devocionismo, inserindo-a, sobretudo, no contexto cristológico e eclesiológico

Colo, por favor!
Fabrício Carpinejar
Editora Planeta
“Só o colo acalma a saudade.” O primeiro dos aforismos que deu origem ao título deste livro aponta para o seu mais sincero objetivo: ser um apoio emocional, quase um remédio para a saúde mental de todos nós nestes tempos de pandemia – e em outros tempos também. Mestre em arquitetar crônicas e poesias para descrever o que enxerga ao redor, Carpinejar é um dos escritores mais queridos de sua geração. Virou um consultor sentimental de leitores, telespectadores e de seus seguidores nas redes sociais por sua capacidade de compreender o que o outro está sentindo e ter sempre um conselho, uma palavra que insinua um caminho. Neste livro, ele trata de temas como solidão e gentileza, medo e esperança, sentido de vida e falta de sentido também. Escreve sobre seu tema preferido, os relacionamentos, sejam eles entre casais, pais e filhos, amigos e consigo mesmo – por que não? Colo, por favor! inspira, emociona e, acima de tudo, serve de alento.

Cadernos de alguma poesia
Elizabeth Gontijo
Editora 7 Letras, 2020
Na linguagem sutil destes Cadernos de alguma poesia, Elizabeth Gontijo inscreve cenas e detalhes que o leitor atento decifra com apetite. O livro é dividido em cinco seções: “–só– de passagem”, com estrofes sobre efemeridade e natureza; “átimos”, que contém poemas mínimos e tocantes,“rimas distantes”, cujos versos intrigantes remontam distâncias físicas e cronológicas; “retrato em branco e preto”, que ecoa o som de despedidas, e “uma estrela –quase– impossível”, segmento que concentra belos versos metapoéticos.
A matéria-prima de Elizabeth Gontijo é, para além das palavras e versos, o entredito, a entrelinha, a ideia suspensa no ar. Cadernos de alguma poesia reúne os mais recentes e delicados escritos da premiada poeta mineira, sempre envoltos da inquietude poética que lhe é característica.
Livro disponível no site da Editora 7Letras. Click no Link.

Comunicar a fé: livro reflete sobre a ação pastoral em tempos midiáticos
Jornalista e pesquisador Moisés Sbardelotto publica nova obra dedicada à comunicação cristã, eclesial e pastoral
Comunicar é uma ação repleta de possibilidades, mas também de desafios. Assim como em todas as esferas sociais, no âmbito eclesial, a comunicação acaba se tornando uma condição para o êxito da ação evangelizadora. E para refletir sobre essa realidade, Moisés Sbardelotto, jornalista e pesquisador em Comunicação, lança, pela Editora Vozes, seu novo livro: “Comunicar a Fé: Por quê? Para quê? Com quem?”.
Com uma linguagem simples e acessível, a obra faz uma cuidadosa análise da práxis comunicacional da Igreja e busca compreender como a comunicação se tornou um dos núcleos de reflexão e ação eclesiais. “O livro nasceu a partir de um caminho de acompanhamento, escuta e diálogo sobre a missão e a pastoral de cristãs e cristãos em várias regiões do Brasil. Com isso, pude perceber a importância de aprofundar a reflexão sobre o agir da Igreja a partir do olhar da comunicação, para que ela seja o eixo articulador e propulsor das diversas pastorais e de suas expressões”, destaca Sbardelotto.
O livro está dividido em três partes. A primeira delas – “Comunicação e fé hoje: por quê? Para quê? Com quem” – reflete sobre as raízes da comunicação, a partir de uma releitura comunicacional da Criação do mundo e do relato da Anunciação-Encarnação, buscando entender a ação de um “Deus comunicativo”. Sbardelotto também analisa, nesta seção, a comunicação encarnada de Jesus e elementos de uma espiritualidade igualmente encarnada do comunicador cristão. E, para concluir, tece críticas à “mundanidade comunicacional” e a certas expressões de um “catolicismo de massa”, revelando que “evangelizar não é mercadejar”.
Na segunda parte, o foco é a “A alegria de comunicar: o Papa Francisco e a comunicação”. Nesses capítulos, o autor aprofunda o olhar sobre a comunicação do papa, seus gestos e palavras. Para isso, analisa os principais documentos do atual pontífice, a partir do olhar da comunicação.
Por fim, na terceira parte, o livro aborda o ambiente comunicacional contemporâneo, convidando a “Comunicar o Evangelho em tempos de rede”. Inspirando-se no pensamento comunicacional de Francisco, Sbardelotto convoca a uma “revolução da ternura” no âmbito da comunicação, desafiando os leitores e leitoras a serem “samaritanos comunicacionais” e a fazerem uma “opção comunicacional pelos pobres”. Analisa, também, o preocupante fenômeno das fake news e do ódio em rede, desafiando a pensar o “sentido relacional da verdade” e a pôr em prática uma “boa comunicação”, com tudo o que essa expressão implica.
“Comunicar a fé” conta, ainda, com o prefácio do jesuíta estadunidense James Martin, intitulado “Entender o discernimento é fundamental para entender a comunicação da fé hoje”. Martin é colunista da revista America, uma das principais publicações católicas dos Estados Unidos, e consultor do Dicastério para a Comunicação do Vaticano. É autor de vários livros sobre religião e espiritualidade, incluindo, em português, “Jesus: A Peregrinação” (Harper Collins) e o best-seller “A sabedoria dos jesuítas para (quase) tudo” (Sextante).
O livro “Comunicar a Fé: Por quê? Para quê? Com quem?” já está disponível para venda no site da Editora Vozes, aqui: https://www.livrariavozes.com.br/comunicar-a-fe8532663400/p.
Sobre o autor:
Moisés Sbardelotto é jornalista, palestrante, tradutor e consultor em Comunicação para diversos órgãos e instituições civis e religiosas. É também autor de outros dois livros: “E o Verbo se fez bit” (Santuário, 2012) e “E o Verbo se fez rede” (Paulinas, 2017), além de mais de uma centena de artigos, publicados em diversas publicações. Atualmente, é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unisinos (RS), onde realiza estágio pós-doutoral. É mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), com estágio doutoral na Università di Roma “La Sapienza”, na Itália. Possui graduação em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Colabora com o Instituto Humanitas Unisinos (IHU). Foi membro da Comissão Especial para o “Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil”, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
Serviço:
“Comunicar a Fé: Por quê? Para quê? Com quem?”
Autor: Moisés Sbardelotto
Editora: Vozes
Preço: R$ 30 (192 p.)
A filosofia da crise ecológica de Hösle parte do princípio de que a filosofia não deve ficar indiferente ao destino do ser humano, mas ela deve ter o seu lugar no quadro de uma filosofia da história dessa cultura. Falar de ecologia é, também, entrar no campo ético no pensamento do filósofo, ciente de que o princípio segundo o qual somente máximas individuais resolvem o problema ecológico é falso. Por este motivo, também acredita que faltam reflexões sobre uma reorganização ecologicamente compatível com a economia atual. Hösle é influenciado por Hans Jonas (1903-1993), mas vai além dele nas reflexões de cunho político e jurídico, acrescentando uma ênfase na economia, uma lacuna na reflexão jonasisana.

Em sua filosofia da crise ecológica, fruto das palestras proferidas no Instituto de Filosofia da Academia das Ciências da então URSS no ano de 1990, a ecologia deve ser vista como um novo paradigma para a política. Sua crítica à cultura Ocidental vê com preocupação o consumismo exacerbado que já naquele tempo se mostrava latente, sendo, portanto, impossível manter tal postura sem que, com isso, haja um colapso no planeta. Como consequência de tal raciocínio, chega até mesmo a considerar o padrão de vida do Ocidente que tem o consumismo como regra enquanto algo não moral.
Hösle tem em mente o paradigma da economia como um responsável pela crise ecológica que afeta o planeta na atualidade. Diante do drama ecológico que vivemos, o autor, concorda com Ernst-Ulrich von Weizsäcker de que o século XXI viria a ser o século do meio-ambiente. Diante disso, um novo paradigma para as relações mundiais que deve substituir o paradigma da economia, segundo o filósofo: o paradigma da ecologia.
A obra conta com um estudo introdutório de Gabriel Assumpção e Fabrício Veliq, doutor egresso da FAJE e estagiário de pós-doutorado na mesma instituição.
O livro pode ser comprado no site da editora: https://www.liberars.com.br/filosofia-da-crise-ecologica-conferencias-moscovitas. É possível 30% de desconto, com o código UNIVERSIDADE. O desconto vale para todo o catálogo da editora.
Gabriel Assumpção

Livro "Das muitas formas de dizer o tempo"
Adri Aleixo e Lori Figueiró
Editora Ramalhete (2019)
Este trabalho reúne poemas de Adri Aleixo e fotografias de Lori Figueiró sobre o Vale do Jequitinhonha, com apresentação de Adriane Garcia e quarta capa de Mariana Ianelli. Transcrevo abaixo o comentário sobre o livro feito pela poeta Adriana Ianelli na sua página de facebook:
"Grande emoção de folhear “Das muitas formas de dizer o tempo”, livro com o qual passei as últimas horas da última noite de 2018 e entrei as primeiras horas da manhã do primeiro dia deste ano.
Releio agora cada poema de Adri Aleixo, revejo cada fotografia de Lori Figueiró, e, lá do interior mais sábio e simples da gente do Sertão, do fundo de olhos verdadeiramente humanos, na paz da casa onde mãos femininas ainda peneiram farinha ou moldam a pedra ou pintam bonecas ou debulham o terço ou fiam, no sol que ama paredes nuas, no fogo vivo com que se cozinha, tudo continua a pedir demora, cordialidade, contemplação.
Reproduzo aqui o texto que tive a alegria de escrever para a orelha, agradecendo aos artistas, poeta e fotógrafo, pela beleza genuína desse livro.
*
Que tempo é esse, tão familiar e remoto? Que tempo é esse que enfeitiça a poesia de Adri Aleixo e quer se fazer sentir, ritualisticamente, em requadros domésticos de poucos (mas sagrados) elementos? Esse existir de uma casa, que da porta para fora se estende no corpo da terra, e da porta para dentro continua num corpo de mulher tão crestado e sábio quanto o chão. O sagrado aqui se traduz por necessário.
Mãe é uma forma de dizer o tempo, casa, câmara, arca, ela que guarda, zela, tece cuidados, reza, consola. Ela que vigia o fogo, molda o barro, acarinha a pedra. Ela que, a cada instante, a cada corpo seu debruçado sobre as coisas, compõe uma pintura de interior em gestos vivos. Gestos poucos, simples, litúrgicos, como são poucas as palavras, igualmente litúrgicas e necessárias, dessa poesia. E o calor da presença humana nas fotografias de Lori Figueiró, num sertão que existe num infinitamente agora transversal aos séculos: tão familiar e remoto.
Eis que certa duração corpórea dos dias ainda não foi extinta. Ainda há dessas casas, dessas mães, dessas palavras poucas que dizem de um calendário íntimo, pontuado por rosários, datas santas, banhos, gamelas, longas esperas e tentações de partida. Ainda há saudades dessas enraizadas no longe de uma terra natal, no interior de úteros de adobe, que cumprem seu ciclo e se releem em poemas.
A poesia, também no seu tempo, cuida de amadurecer um afeto pelo que é simples, gloriosamente simples, e sábio de coração. Depois de tanto vivido, que tempo é esse, de estudado amor? Que tempo é esse, nas mãos de Adri? É quando as palavras veem melhor.
Mariana Ianelli
Sobre a autora:
Adri Aleixo é Poeta, Professora e mestranda pelo CEFET-MG em Literatura feminina. Participa das antologias Escriptonita, 30 anos do Psiu Poético, Contemporâneas, Planner 2018 e Poesia de Ouro. Possui textos publicados em sites e revistas de todo país como Suplemento Literário de Minas Gerais, Caderno Pensar do Jornal Estado de Minas, Incomunidade, Literatura Br, Janelas em Rotação, Zona da Palavra, O Relevo e Jornal Rascunho. Publicou dois livros de poesia pela editora Patuá: Des.caminhos(2014) e Pés(2016) e aPlaquete Impublicáveis em 2017. Integrou, no ano de 2018 o Circuito Arte da Palavra pelo Sesc Nacional.

Título: Eu Sou O Mensageiro
Autor: Markus Zusak
Editora: Intrínseca
Páginas: 320
Ano: 2007
Conheça Ed Kennedy: taxista, patético jogador de cartas, um desastre no amor. Mora numa casinha alugada com seu cachorro viciado em café e está apaixonado pela melhor amiga. Seu dia a dia é uma rotina de incompetência, até que, sem querer, impede o assalto a um banco. Então recebe a primeira carta: um Ás. É quando Ed se torna o mensageiro... Escolhido para socorrer, ele segue seu caminho na cidade ajudando – e machucando (quando necessário) – até que resta apenas uma questão: Quem está por trás de sua missão? Eu sou o mensageiro é uma jornada enigmática repleta de humor, socos e amor.
(Fonte: http://www.mundodoslivros.com/…/resenha-eu-sou-o-mensageiro…)
Um livro muito bom de se ler! O autor é mesmo um bom escritor. Óbvio que não tem o mesmo apelo de A Menina que roubava livros (e nem tem como, né?), nem preciso dizer, mas digo, quero os outros livros dele! A história flui bem, é colorida. Gostei muito do Ed, um cara mais do que normal, até um pouco medíocre, acostumado à mesmice de sua vida. O enredo é interessante e, por mais incrível que pareça, se torna crível no desenrolar das missões.
Eu ri muito durante a leitura, sim, pois Ed e sua turma são hilários. Este é um daqueles livros para ler quando se faz necessário arejar a cabeça de leituras mais densas. É um livro para um dia de sol, lindo, brilhante, quando você senta em uma cadeira na área de casa e deseja simplesmente ler algo bom. No entanto, é também um livro indicado para aqueles dias frios, em que tudo o que desejamos é nos enroscar no sofá com uma coberta e uma boa história nas mãos.
A leitura é interessante e cativa. O final me deixou com um gosto de " O Mundo de Sofia", mas depois percebi que era só parecido. Acima de tudo fica a dica: se até o Ed conseguiu, porque você não conseguiria? Termino a história querendo conhecer dois autores que não conhecia e quatro filmes que desejo assistir. Recomendo!
Débora Regina Puppo

Livro: É bom crer em Jesus
Autor: José Antonio Pagola
Editora Vozes
O livro procura rever a maneira como o cristianismo apresenta a felicidade. Para muitos é impossível conciliar a fé cristã com uma proposta de felicidade. Para isso, o autor começa já no primeiro capítulo, a partir da proposta das Bem-Aventuranças, a se perguntar o que é a Felicidade e o que significa dizer que a proposta de Jesus Cristo é a verdadeira felicidade. Depois irá se perguntar sobre o sentido do sofrimento, a necessidade da esperança, de rever o sentido da vida, a saúde e a velhice.
Livro essencial para refazer as ideias e experiências equivocadas de felicidade e para refletir sobre o sentido do sofrimento a partir da perspectiva cristã.
Segue abaixo um esquema do primeiro capítulo:
PAGOLA. José Antonio. É bom crer em Jesus. Petrópolis: Vozes, 2012.
Capítulo 1 – O Cristianismo diante da felicidade
- As Bem-aventuranças são o projeto da vida cristã. Elas nos prometem o que mais o coração deseja: a felicidade.
- O que é a felicidade? Em que ela realmente consiste? Como alcançá-la? Por quais caminhos?
- Nós elaboramos nossas próprias bem-aventuranças: “felizes os que tem dinheiro, os que podem adquirir o último modelo, os que sempre triunfam, os aplaudidos, os que podem desfrutar da vida ao máximo, os amados...”. As bem-aventuranças do evangelho viram de “ponta cabeça” essa ideia de felicidade.
- A presente reflexão quer “abrir os olhos” a fim de intuir por onde passa esse caminho evangélico. Podem as bem-aventuranças acrescentar algo a quem se sente infeliz ou desgraçado? Seria certo o cristão preocupar-se com a felicidade? O importante não é carregar a cruz?
- É raro ouvir alguém pregar sobre a felicidade. Há tempos ela desapareceu do horizonte da teologia. A impressão que alguns cristão dão é a de que a fé angústia e aliena a vida e mata seu prazer de viver.
- Um dos fracassos mais graves da Igreja talvez seja o de não saber apresentar o Deus cristão como amigo da felicidade do ser humano.
Todos buscamos felicidade
- Todos querem viver felizes. Cada manhã despertamos para a felicidade ou para a infelicidade.
- Nós cristãos esquecemos que o Evangelho é uma resposta a esse desejo de felicidade que habita o nosso coração. As bem-aventuranças são anúncio de felicidade.
- A cultura moderna nasceu da suspeita de que Deus é inimigo da felicidade. Os homens e mulheres de hoje continuarão a se afastar da fé enquanto não descobrirem que Deus só quer a nossa felicidade e a quer desde já. Deus é salvador, salvador de nossa felicidade desde já e para sempre.
Mas o que é a felicidade?
- Confundimos felicidade com palavras que não sejam felicidade: ventura, fortuna, bem-estar...
- A felicidade parece estar sempre ligada a ideia de estar algo em que falta, naquilo que ainda não possuímos. Mas, o que é que realmente nos falta?
É possível ser feliz?
- O que é que nos falta? Nada parece ser suficiente para sermos felizes. Somos insaciáveis, em constante busca... Por outro lado, corremos o risco de nos contentar com qualquer coisa.
- Talvez não consigamos alcançar a felicidade porque já a temos. A felicidade está aí, em nós, na vida mesma, sem que eu me dê conta. Talvez, no mais profundo de minha vida, exista uma felicidade real, desconhecida, insuspeita, que me está fugindo porque ando ocupado demais com outras coisas que julgo importantes.
- As bem-aventuranças anunciam que a felicidade é possível. O que me é exigido é acreditar. Crer em Jesus Cristo. A felicidade não é algo fabricado, mas presente de Deus. É possível acolhê-la.
- Nas bem-aventuranças a felicidade não é produzida pelo esforço dos pobres, dos que choram... Não são eles que geram a felicidade. A felicidade acontece nestas pessoas porque elas têm Deus como Senhor de suas vidas. É presente de Deus.
A felicidade não depende do destino
- Para muitos felicidade depende da sorte.
- Na busca da felicidade queremos que o ambiente se adapte a nós.... e a nossos desejos.
- As bem-aventuranças não fazem a felicidade depender de nenhum sucesso venturoso, nem de acontecimentos agradáveis que nos possam acontecer. A felicidade brota de Deus revelado e encarnado em Jesus Cristo.
- Ou a felicidade é uma ilusão ou é um presente, plenitude de vida que nos chega como graça quando nos abrimos àquele que é a fonte de todo bem. Ou seja, a felicidade plena ou não existe ou temos que desfrutá-la como salvação de Deus, como felicidade outorgada, presenteada.
A felicidade não consiste em bem-estar
- É muito comum confundir felicidade com bem-estar, com possuir coisas.
- Quando coloco minha felicidade nessas coisas, estou lhes dando um poder sobre mim; estou lhes entregando a chave da felicidade. Estou me esvaziando de liberdade. E, há pessoas que tem tudo e não são felizes.
- A felicidade que as bem-aventuranças prometem não consiste numa estimulação emocional ou numa sensação agradável. O que Jesus anuncia é plenitude de vida.
- A felicidade emerge de uma pessoa que vive aberta ao amor, à verdade e à justiça do próprio Deus. Essa felicidade poderá vir acompanhada de experiências mais ou menos prazerosas, mas sua força plenificante brota de Deus.
- A pessoa aproxima-se da felicidade no aprendizado de libertar-se, do desapegar-se. E isto é decisivo: não possuir, não apropriar-se de nada nem de ninguém, não fazer-se escravo, não sujeitar nosso ser a qualquer coisa.
- A verdadeira felicidade se deixa encontrar por aquelas pessoas que não se deixam aprisionar pelas coisas. As coisas não são a fonte dessa felicidade.
A felicidade não está no prazer
- Muitos confundem felicidade e prazer. Hoje o prazer é aclamado como direito. Repetido em excesso o prazer pode tornar-se insuportável.
- A felicidade anunciada nas bem-aventuranças é muito diferente do prazer. O prazer é experiência momentânea. As bem-aventuranças insistem que a felicidade é um estado, uma condição de vida: ter a Deus por senhor e Pai, gozar da sua misericórdia, sentir-se seus filhos.
- O prazer se dá no tato, sabor, no sexo, na captação do belo... As bem-aventuranças falam de uma felicidade que se enraíza na própria pessoa, no fundo seu ser. Por mais intenso que possa ser, o prazer não alcança a raiz da pessoa, lugar exato onde acontece a felicidade.
- A felicidade anunciada nas bem-aventuranças é plenitude que envolve a pessoa e opera nela transformação, libertação.
- O prazer não é a felicidade, mas não é automaticamente seu inimigo. O mal é o estimulo alucinante ao prazer.
- O prazer é destrutivo quando fecha o individuo em si mesmo. São engonosos.
- Há “prazeres verdadeiros” que não inflamam o ego. Trata-se de prazeres que nos são doados de forma gratuita ao largo de cada dia: um amanhecer sereno, uma comida simples e saborosa, um encontro com um amigo, a leitura de um bom livro... O segredo é prestar atenção naquilo que nos é presenteado, aprender a desfrutar tudo o que é vida dentro e fora de nós, por menor que possa parecer. Aprender a olhar, a tocar, saborear a profundidade do encontro...
A felicidade não provém dos outros
- Estamos convencidos de que não somos felizes se ninguém nos ama, nos espera... Mas as pessoas podem ofertar felicidade, mas também nos tirá-la.
- É um engano colocar a felicidade fora de si mesmo. Quando necessito do aplauso dos outros para ser feliz.. minha vida fica nas mãos dessas pessoas.
- Intuímos que não podemos ser felizes estando na solidão. Mas, será que não haveria uma solidão última que ninguém pode preencher?
- As bem-aventuranças proclamam que a verdadeira felicidade provém de Deus. Ele é o único que preenche nossa solidão última. Quando os outros nos deixam, Deus é a realidade que está sempre aí, afirmando nosso ser, sustentando nossa existência. A verdadeira comunhão que Deus proporciona ninguém pode oferecer.
- Nosso erro está em colocar exclusividade na experiência com a pessoa amada. A pessoa que amamos não é a plenitude, pois pode nos enganar e ferir. Nosso amor e amizade são sempre tecidos de ambiguidades. A pessoa amada não é a fonte da felicidade absoluta, mas ela pode ser o lugar do encontro com o Absoluto.
- Nas bem-aventuranças a verdadeira felicidade só é possível quando se busca fazer os outros felizes. Há mais felicidade em dar que em receber.
- As bem-aventuranças nos convidam a buscar a felicidade não a partir do amor erótico, mas do amor ágape (gratuito).
A felicidade se vive na esperança
- A morte é a inimiga da felicidade (assim se pensa)....
- A felicidade é possível desde agora, num mundo de ambiguidades, dores, sofrimentos, experiências negativas... Mas, as bem-aventuranças falam também de uma felicidade para um futuro próximo. Uma felicidade presente que alcançará a plenitude no futuro.
- Buscar a felicidade significa saber busca-la já de maneira realista e sadia. Deus não se ausenta do sofrimento e da desgraça, mas também ali, na dor, Ele sempre busca o nosso bem e a nossa felicidade. Deus está sempre conosco, na felicidade para ajudar a potenciá-la e abri-la à sua plenitude, na infelicidade e no sofrimento para ajudar a eliminá-los ou a superá-los de maneira humana e digna.
- Nós cristãos temos de aprender a viver de maneira mais explícita a conexão entre esta vida e a outra. A verdadeira felicidade da vida presente e a salvação definitiva da vida eterna não são duas realidades que não se comunicam entre si.
Resumo feito por Lucimara Trevizan

Livro: Um casamento americano
Autor: Tayari Jones
Editora: arqueiro (2018)
Recém casados, Celestial e Roy moram em Atlanta, Geórgia, e são a personificação do sonho americano: ela é uma artista em ascensão e ele, um jovem executivo. Mas, durante uma viagem ao estado de Louisiana, Roy é preso e condenado a 12 anos de reclusão por um crime que não cometeu. Separados pela injustiça racial, os dois precisam encontrar uma forma de salvar seu casamento e superar as circunstâncias.
Opinião: Amei desde o início até o final (principalmente o final). Mais um acerto da Tag Inéditos que vai para a lista dos preferidos!
A dinâmica da escrita mesclando os personagens ao contar a história, o uso de cartas para melhor conhecer cada um e a fluência da escrita faz com que a vontade fique presa no dilema "terminar, mas não acabar".
Débora Regina Pupo
 Livro: Revelações do Amor Divino
Livro: Revelações do Amor Divino
Autora: Juliana de Norwish
Editora Paulus 2018
As Revelações do Amor Divino foram escritas a partir de dezesseis revelações (ou visões), recebidas por Juliana de Norwich, mística do século XV, cujos relatos se inserem na tradicional mística medieval inglesa, de autores como Richard Rolle e Margery Kempe. Seus relatos denotam a aflição típica da provação dos místicos, mas também grande alegria e êxtase pela sua especial condição, e discorrem sobre inúmeros aspectos religiosos e teológicos, tais como o mistério da divindade e da Trindade, o amor de Deus, o conceito de pecado e de alma e a metáfora de Jesus como nossa mãe.
As revelações do Amor Divino, de Juliana de Norwich
Em 1º de dezembro de 2010, o papa Bento XVI dedicou sua audiência geral de quarta-feira a uma catequese sobre a mística inglesa Juliana de Norwich (c. 1342-1430), dando especial relevo à obra Revelações do amor divino, recentemente publicada pela Paulus em tradução de Marcelo Maroldi. Juliana não foi canonizada pela Igreja, porém, nas palavras do próprio papa, é “venerada tanto pela Igreja Católica como pela Comunhão Aglicana”. Viveu como reclusa numa cela contígua à Igreja de São Juliano, na cidade de Norwich (Inglaterra), segundo uma regra de vida escrita para mulheres chamadas a uma vida inteiramente dedicada à oração, ao estudo e ao trabalho, sem, contudo, integrar uma comunidade religiosa. As reclusas também podiam receber pessoas que as procuravam em busca de conselhos e direção espiritual, tornando-se “mães espirituais” para muitos.
As revelações do amor divino são fruto de uma experiência mística que Juliana teve após grave enfermidade que a acometeu quando contava perto de 30 anos. Depois da visita de um sacerdote, que a abençoou com um Crucifixo, ela recebeu o milagre de uma cura instantânea e as 16 revelações que, embora tenham constituído um breve escrito preliminar, anos mais tarde foram interpretadas e comentadas por ela, sob o influxo do Espírito Santo, num texto maior. Como afirma Bento XVI, a obra de Juliana consiste numa “mensagem de otimismo fundado na certeza de sermos amados por Deus e de sermos protegidos pela sua Providência”. Para ilustrar essa constatação, o Santo Padre cita um trecho da 16ª revelação, que sintetiza o espírito das revelações: “Vi com certeza absoluta que, ainda antes de nos criar, Deus nos amou com um amor que nunca esmoreceu, e jamais faltará. E foi nesse amor que Ele realizou todas as suas obras, foi nesse amor que Ele fez com que todas as coisas nos fossem úteis, e é nesse amor que a nossa vida dura para sempre. Nesse amor nós temos o nosso princípio, e veremos tudo isso no Deus Infinito”.
As revelações manifestam uma complexa teoria do pecado e da graça, da queda e da redenção, segundo a qual, em Deus, a misericórdia ultrapassa a justiça. A criatura decaída, objeto da misericórdia e da redenção, é vista com positividade na obra, sendo o pecado e o demônio o objeto da ira de Deus. Nesse sentido, o amor divino é comparado ao amor da mãe pelo filho: amor incondicional do Criador pela criatura frágil e pecadora.
De um ponto de vista escatológico, na quinta revelação Juliana vê o demônio e o pecado sendo derrotados “pela feliz paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi cheia de seriedade e com soberano esforço”. Será então uma ocasião de eterna alegria para a humanidade, que finalmente poderá desfrutar da visão beatífica do Criador: “No Dia do Juízo, [o demônio] será desprezado por todos os que serão salvos, de cujo conforto ele tem grande hostilidade. Pois então ele verá que toda a aflição e tribulação que lhes causou serão convertidas em aumento da alegria deles, infinitamente. E todas as dores e tribulações que ele desejava neles provocar irão com ele para o inferno, eternamente”.
Tiago José Risi Leme
Graduado em Letras (Português/Francês) pela Universidade de São Paulo,
e coordenador de revisão da PAULUS Editora e tradutor.

Livro: Quero que sejas
Editora Vozes, 2018
Autor: Tomás Halík
«Dirijo-me às pessoas com quem me encontro todos os dias e que são simultaneamente crentes e não-crentes. Por outras palavras, não são de modo algum "religiosamente surdos", mas, no seu caminho de fé, conhecem momentos de silêncio da parte de Deus, e a sua própria aridez interior; às vezes extraviam-se do caminho, e depois voltam a encontrá-lo; têm interrogações por responder e também passam por momentos de revolta. Dirijo-me a pessoas que são obrigadas a gritar uma e outra vez, como o homem do Evangelho: "Eu creio. Ajuda a minha pouca fé!"»
É nestes termos que Tomáš Halík situa o livro ""Quero que tu sejas! - Podemos acreditar no Deus do amor?", que a Editora Vozes publicou.
«Eu conheço pessoas que não se atrevem a acreditar que Deus existe; apesar disso, desejariam sinceramente que Ele existisse. Conheço outras pessoas que estão firmemente convencidas da existência de Deus; contudo, têm uma tal ideia dele que, na verdade, prefeririam que Ele não existisse. Quais destes dois tipos de pessoas estão mais próximos de Deus?». Esta é uma das interrogações suscitadas no volume, de que apresentamos alguns excertos.
Trechos selecionados do Livro
Muitas vezes me tenho interrogado, mas sem encontrar resposta, de onde provém a doçura e a bondade. Ainda hoje não o sei, e agora tenho de partir, escreveu Gottfried Benn. A autenticidade e a tristeza deste poema é o que nos cativa. Qualquer coisa mais profunda e mais universal brilha através da sincera humildade do poeta: um testemunho acerca da época em que vivemos. O influxo constante até ao mar do conhecimento humano oculta e revela, em simultâneo, esse não-saber, o abismo do desamparo quando nos confrontamos com a questão do de onde definitivo que desafia todas as tentativas de resposta. Na primeira metade do século XX, tendo por pano de fundo todos os horrores da guerra e dos genocídios, a pergunta milenar «de onde vem o mal?» foi levantada de novo com uma nova urgência. É muito possível que hoje em dia nos tenhamos acostumado tanto ao mal, à violência e ao cinismo, que façamos a nós próprios, com surpresa, outra pergunta: de onde provém a ternura e a bondade? Que fazem elas aqui, no nosso mundo cruel? Emergirão a ternura e a bondade – tal como o mal e a violência – algures no meio das condições do nosso mundo (será que o mal e o bem dependem, principalmente, da forma como organizamos a sociedade?) ou de alguns recantos ainda por explorar dos processos inconscientes ou complexos dos nossos cérebros?
Há inúmeros estudos científicos acerca dos processos psiconeurobiológicos que acompanham todas as nossas emoções, e acerca dos centros cerebrais que são ativados quando nós recebemos ou manifestamos ternura, e quando fazemos bem a alguém ou as pessoas são boas para nós. Não duvido de que tudo aquilo que nós sentimos e pensamos passa primeiro por inúmeros portais do nosso «mundo natural», sendo afetado e influenciado pelo nosso organismo e pelo nosso ambiente, bem como pela cultura em que nascemos, incluindo a língua em que pensamos. Afinal, o nosso corpo e a nossa mente, o nosso cérebro e tudo o que neles sucede, fazem parte do «mundo» ou da «natureza», esse intrincado corredor ao longo do qual o rio da vida flui. Mas onde se encontra a fonte verdadeiramente última? Será que podemos simplesmente rejeitar a antiga intuição de que a bondade e a ternura, a luz e o calor da vida a que hoje em dia quase hesitamos em dar o elaborado nome de «amor» entram no nosso mundo – e, a partir dele, na nossa mente e no nosso comportamento – não apenas como um mero produto de nós mesmos e do nosso mundo, mas como um dom, como uma qualidade radicalmente nova, que nos enche, uma e outra vez, do assombro e da gratidão adequados? Não será o próprio mundo um dom? Não seremos nós um dom para nós próprios? E não é esse dom renovado uma e outra vez e revivido a partir desse «de onde» do qual brota o amor? Contudo, se insistirmos em procurar essa fonte para lá do nosso mundo – fora dele –, porventura não perderemos a oportunidade de o encontrar onde o ignoramos, visto estar tão próximo, ou seja, dentro de nós? Onde está a fonte da ternura e da bondade? Será que eu o sei? Devo confessar que não. Todas as respostas que me ocorrem parecem-me uma pesada cortina que cobre a janela aberta dessa pergunta. Há algumas interrogações demasiado boas para serem estragadas com respostas. Há perguntas que devem continuar a ser uma janela aberta. Tal abertura não nos deve conduzir à resignação, mas à contemplação.
O leitor, consciente de que o autor é um teólogo, talvez já esteja impaciente, à espera que eu diga, por fim, que a resposta à pergunta acerca da realidade última é Deus, claro. Contudo, dentro de mim foi amadurecendo gradualmente a convicção de que Deus se aproxima de nós mais como uma pergunta do que como uma resposta. Talvez Aquele a quem nos referimos com a palavra Deus esteja mais presente, para nós, quando hesitamos em proferir essa palavra de forma demasiado precipitada. Talvez Ele se sinta melhor connosco no espaço aberto da interrogação do que na sufocante estreiteza das nossas respostas, das nossas afirmações definitivas, das nossas definições e das nossas noções. Tratemos o seu Santo Nome com a maior contenção e prudência! Talvez os momentos da história em que reina um silêncio educado ou indiferente acerca de Deus, no mundo académico, constituam uma preciosa oportunidade de o teólogo corrigir a piedosa tagarelice da época anterior e de regressar àquilo que o santo mestre da fé, Tomás de Aquino, sublinhava como o início das suas investigações filosóficas e teológicas: Deus não é «evidente». Por nós mesmos, não sabemos o que é ou quem é Deus. Não temamos as vertigens ao olhar para as profundezas do Desconhecido. Não temamos a humilde confissão «Eu não sei»: afinal, esse não é o fim, mas sempre um novo recomeço na nossa caminhada interminável. Além disso, para a fé (e também para a esperança e o amor), para essas três formas de «paciência com Deus», com o seu carácter oculto, a frase «Não sabemos » não constitui uma barreira intransponível. (...)
A expressão «amor a Deus» parece tão absurda a muitos daqueles que nos rodeiam como as palavras «amor ao próprio inimigo». Além disso, ao fim de trinta e cinco anos de ministério pastoral, atrevo-me a afirmar que a frase: «Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças» (Dt 6,5) também é desconcertante para um número razoável de crentes. O que é que Ele quer especificamente de nós? Os meus livros não são destinados àqueles que têm a certeza absoluta de que compreendem perfeitamente o que significa o mandamento do amor a Deus.
Dirijo-me às pessoas com quem me encontro todos os dias e que são simultaneamente crentes e não-crentes. Por outras palavras, não são de modo algum «religiosamente surdos», mas, no seu caminho de fé, conhecem momentos de silêncio da parte de Deus, e a sua própria aridez interior; às vezes extraviam-se do caminho, e depois voltam a encontrá-lo; têm interrogações por responder e também passam por momentos de revolta. Dirijo-me a pessoas que são obrigadas a gritar uma e outra vez, como o homem do Evangelho: «Eu creio. Ajuda a minha pouca fé!»
Em vários dos meus livros falo do diálogo entre crença e incredulidade, sugerindo que isso não é uma discussão entre duas «partes em guerra», mas algo que tem lugar dentro de muita, muita gente. Ao mesmo tempo, tento demonstrar que a crença (de determinado tipo) e a incredulidade (de determinado tipo) são duas interpretações diferentes, duas vistas da mesma montanha, a partir de ângulos diferentes, veladas por uma luz de mistério e silêncio. Tenho interpretado uma e outra vez a incredulidade da nossa época como uma «noite escura coletiva da alma», como o momento do «eclipse de Deus» de Sexta-Feira Santa, que os não-crentes podem interpretar como a «morte de Deus», ao passo que os crentes a consideram a passagem necessária para a manhã da Páscoa. Neste livro, dou mais um passo ao longo desse caminho. Mostro que o «desaparecimento de Deus» não precisa de ser uma mera «noite escura».
...
Fui aprendendo gradualmente a ler a Bíblia de tal modo que, agora, procuro perguntas nela, em vez de respostas. Por vezes até fico impressionado ao ver que ao longo de toda a Bíblia Hebraica Deus faz mais perguntas do que dá respostas. Para muitas das nossas interrogações, não encontramos respostas na Bíblia, pelo menos respostas diretas e claras. Muitas vezes, as pessoas pegam na Bíblia para procurar uma resposta para a pergunta sobre se Deus existe. Então ficam surpreendidas ao descobrir que esse livro não só não consegue resolver essa questão, como nem sequer a levanta. Não perde tempo a tentar «provar a existência de Deus» de forma especulativa: em vez disso, contém histórias acerca de pessoas que nos deixam entrar na sua experiência com Deus. Nas reflexões que se seguem preparei outra surpresa com que deparei na minha leitura dos Evangelhos: Deus espera claramente outra coisa de nós, que é bastante diferente de se acreditamos ou não na sua existência. Pensar que a «questão de Deus» se resolve simplesmente respondendo na afirmativa, quando confrontados com o dilema acerca da existência ou não de Deus, é continuar muito longe da fé cristã.
...
Não me parece que a nossa salvação dependa das nossas opiniões, noções e convicções religiosas. São Tomás de Aquino afirmou, há muito tempo, que nós não sabemos o que significa «ser» no caso de Deus, por que Deus existe de uma forma diferente de tudo o que existe.
A fé sem amor é oca; na verdade, muitas vezes não passa de uma projeção dos nossos desejos e medos, e, nesse sentido, muitos críticos ateus da religião têm razão. A fé sem amor está morta, tal como o sal que perde o seu sabor.
«Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças!», diz Jesus, quando lhe perguntam qual é o maior e o mais importante mandamento da Lei. Mas como é que isso se faz? Meu Deus, não me poderias dar alguma instrução específica? Deus não pode ser objeto de amor porque Deus não é um objeto; a perceção objetiva de Deus conduz à idolatria. Eu não posso amar a Deus da mesma maneira que amo outro ser humano, a minha cidade, a minha paróquia ou o meu trabalho. Deus não está diante de mim, tal como a luz também não está diante de mim: eu não consigo ver a luz, só posso ver as coisas iluminadas pela luz. De igual modo, também não posso ver nem visualizar Deus. A própria fé não o «mostra» («A Deus nunca ninguém o viu», declara a Bíblia inequivocamente). Com a Fé, a única coisa que eu posso fazer é «ver» o mundo «em Deus».
A Escritura está sempre disponível para nos ajudar. Diz-nos ela que «Deus é amor». Obviamente, é difícil fazer do próprio amor o objeto do nosso amor. Nós amamos a Deus amando «em Deus». Nós amamos as pessoas e o mundo «em Deus», tal como vemos as pessoas e o mundo iluminados pela luz. Deus é o facto de que nós amamos e de como amamos, mais do que o «objeto» do nosso amor. Ele é a «biosfera» de todo o verdadeiro amor.
...
Se Deus existe, está situado a um nível muito mais profundo do que as gerações passadas pensavam; se Ele é a «causa primeira», então devemos afirmar que não é tão detetável nem tão «demonstrável» como parecia àqueles que ainda não conheciam suficientemente a selva complexa de «causas secundárias» que impelem a natureza, os seres humanos e a história. Devemos procurar Deus mais profunda e exaustivamente, agora que sabemos que não o encontraremos na caixa de diálogo, no gabinete, de fácil acesso do diretor do teatro conhecido por «mundo». O conhecimento adquirido ao longo do século passado abalou naturalmente os sistemas fixos de noções religiosas (e a maioria de todos os outros sistemas fixos existentes). Contudo, estou profundamente convencido que esta situação constitui uma bênção e um momento oportuno (kairós), para a fé, porque a fé, mais uma vez, se transforma mais num ato livre, num ato que não se pode forçar – ou seja, numa corajosa escolha pessoal.
No Concílio Vaticano II, a Igreja católica reconheceu que a imagem cristã tradicional do ateu como alguém com um defeito, um desvario intelectual ou moral já não era sustentável. O mundo é ambivalente, está cheio de paradoxos e, se os ateus optarem por uma das várias explicações possíveis, nomeadamente, que a vida e o mundo são uma história sem Deus, então pode haver muitas razões para isso, e a sua escolha poderá ser uma escolha honesta e, pelo menos, subjetivamente respeitável. Os cristãos que não vivem num gueto mental ou cultural conhecem, sem dúvida, pessoas honradas e intelectualmente honestas que não são explicitamente religiosas. Não é necessário que os cristãos demonizem todos os ateus como tantas vezes fizeram na época em que os temiam.
...
O pensador judeu Pinchas Lapide também considera que há muito menos ateus reais do que as pessoas pensam porque o rótulo de ateu aplica-se essencialmente a três grupos de pessoas, a quem essa designação – quer aplicada a eles por outros quer por si próprios – na realidade não lhes diz respeito. O primeiro grupo são os anticlericais […].
Mestre Eckhart foi buscar às cartas de Paulo a distinção entre o «homem interior» e o «homem exterior », e desenvolveu esse conceito de uma forma notável: o homem exterior tem um «Deus exterior», ao passo que o homem interior conhece um Deus interior, «um Deus acima de Deus» – uma profundeza de divindade que transcende infinitamente as piedosas noções, teorias e fantasias da religiosidade superficial.
Dêmos graças a Deus pelo ateísmo, se este destrói deuses como esses! O deus exterior tem de morrer, para que caia o véu de esquecimento em relação a Deus, pondo termo à confusão entre religiosidade e fé superficial – uma relação com o Deus vivo. Mas isso também deve significar a morte da pessoa superficial «exterior».
...
«O amor é a única força que pode unificar as coisas sem as destruir», escreveu Teilhard de Chardin. Esta afirmação é típica da fé de um homem que era cientista, teólogo e poeta ao mesmo tempo; ela caracteriza esse grande visionário da unificação planetária da humanidade no Cristo cósmico, no «ponto ómega», meta do processo evolutivo universal. Essa frase terá sido provavelmente entendida como uma reação à tentativa dos regimes totalitários do século XX de unir a Europa e o mundo mediante a violência revolucionária. Teilhard acreditava que o amor pela Terra e pela matéria, associado à confiança na força criativa do homem e da natureza, traria ao mundo um impulso suficiente para completar o processo evolutivo da convergência cósmica. Será o Cristianismo de hoje capaz dessa força criativa de renovação? Estará disposto a aproveitar a iniciativa dessa forma?
...
Já dissemos que só podemos amar o mundo «em Deus». Isso significa com o «desapego» ou distanciamento crítico que a fé nos confere, mas também com a responsabilidade e o afeto que também são o dom de uma fé e de um amor vivos. Se estamos ligados a Deus mediante a fé e o amor, Deus faz-nos participar parcialmente, tanto na sua transcendência como na sua imanência, na nossa relação com o mundo, permitindo-nos «estar no mundo, mas não ser do mundo», para nos mostrarmos solidários, mas não nos conformarmos com ele. Estar no mundo, mas não ser do mundo, é outro dos koans que Jesus deu aos seus discípulos na Última Ceia, segundo João. É essa a fonte da dinâmica mais intrínseca da existência cristã no mundo, na sociedade e na história.
O cristianismo, o humanismo secular e o neopaganismo (várias tentativas de fazer reviver a religiosidade pré-cristã e não cristã) são, hoje em dia, três propostas separadas, tal como na Antiguidade também havia a tríade: cristianismo, judaísmo e paganismo antigo. A tríade contemporânea está mais obviamente presente na cultura europeia do que a tantas vezes citada tríade dos «monoteísmos abraâmicos»: cristianismo, judaísmo e islamismo, embora o Islão esteja a começar a desempenhar um papel crescente no Ocidente. São três propostas, três caminhos diferentes, mas, hoje em dia, esses mundos sobrepõem-se, de forma ainda mais intensa do que na Antiguidade tardia; há uma interpenetração e várias tentativas de síntese, bem como novos e velhos conflitos e novas e velhas alianças.
...
Nietzsche ensinou-me a coragem de não me esquivar a qualquer objeção ou dúvida, a «atrever-me a fazer-me ao largo no mar das dúvidas, sem levar uma bússola»; a não temer a ambivalência da realidade ou a perceber tudo a partir de vários ângulos em simultâneo, a não hesitar em ter «duas opiniões acerca de tudo»; a não temer avançar sozinho ou nadar contra a maré; a não desdenhar do nacionalismo, da mentalidade de rebanho e da idolatria, pura e simplesmente porque as coisas idolatradas são consideradas por muitos como incontestáveis e eternas; a ignorar os sinais de «proibida a entrada» nos caminhos do pensamento; a não perguntar o caminho, mas a pôr em questão os próprios caminhos. Ele ensinou-me que, para além do mundo do dia e da luz da razão, também existe a verdade da noite, quando o mundo é mais profundo do que jamais pareceu ao dia. Se eu aprendesse alguma coisa com isso, talvez o Senhor o atribua ao «mais ateu dos ateus»! Foi ele que me ensinou que os grandes pensamentos e as grandes ideias merecem ter grandes inimigos (o Cristianismo já teve mais do que suficientes pequenos inimigos), e muitas vezes devemos mais aos inimigos do que ao aplauso dos amigos.
...
É no amor que nós somos mais verdadeiramente nós próprios. No amor somos humanos, mais realmente humanos. Mas, precisamente, só quando somos mais profundamente humanos, plenamente humanos, humanos ao máximo, quando somos demasiado humanos, é que nos é mostrado e dado aquilo que é mais do que humano.
Publicado em 2018 pela Editora Vozes
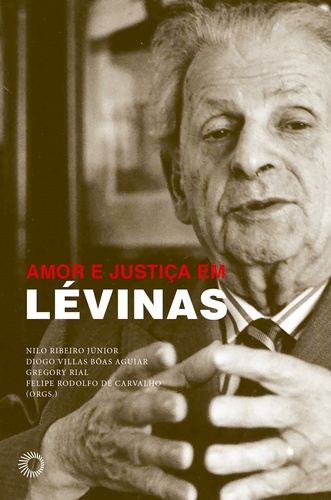
O binômio amor e justiça em Lévinas se distancia tanto do caráter abstrato ou de conceitos vazios como abandona a visão do indivíduo e da justiça pensada em função dele. Amor e justiça, segundo Lévinas, brotam do reconhecimento do rosto e da proximidade do próximo e do próximo do outro. Amor e justiça não existem sem o apelo ético, sem o mandamento do rosto de outrem que vem de alhures. Amor e Justiça se encarnam nas instituições, na sociedade, com suas tramas de corpos, na intriga da substituição e da maternidade ética, nas culturas, no Estado, na política e no direito.
Graças à compreensão corpórea de alteridade em Lévinas, vive neste conceito a possibilidade de repensar práticas de inclusão social por meio do acolhimento de diferenças, especialmente no que diz respeito ao estrangeiro, ao apátrida e às minorias vulneráveis. São esses rostos que, no contato físico, permitem construções filosóficas baseadas na harmonia entre amor e justiça. Neste volume, importantes autores brasileiros e estrangeiros, estudiosos da obra do filósofo francês, trazem a questão da transdisciplinaridade ultrapassando os horizontes da filosofia reflexiva a ponto de poder inspirar outros campos do conhecimento, como o direito, a psicanálise, a literatura, a teologia, a antropologia cultural, a sociologia, a bioética e também a ecologia. Da mesma forma, partilham do sentimento de que as temáticas da alteridade, vivamente abordadas pelos autores, auxiliam a repensar novas práticas de inclusão social graças à incidência da óptica levinasiana no corpo e na carnalidade. Pois permitem acolher as diferenças, especialmente o estrangeiro, o apátrida, as minorias e os rostos humanos mais vulneráveis, de todos os que atravessam nossos campos e nossas ruas, avenidas, grandes centros urbanos e favelas.
Autor: Nilo Ribeiro Jr.; Felipe Rodolfo de Carvalho; Diogo Villas Boas; Gregory Rial (orgs.)
Número de páginas: 256
Coleção: Estudos 362
Editora Perspectiva

Livro: Escritas do Crer no Corpo
Edições Loyola 2018
Organizadores: Geraldo de Mori e Virginia Buarque
Refletir sobre as inter-relações vivenciadas através do corpo, simultaneamente sentido e expresso em palavras, recebido como dádiva, ofertado em desejo e labor, mas tantas vezes vilipendiado - eis o desafio proposto a pesquisadores da teologia e das ciências humanas no II Colóquio Interfaces, cujas contribuições encontram-se publicadas nesta coletânea. Priorizando a escrita literária em obras de língua portuguesa, em um circuito que abarca três continentes, os capítulos entremeiam remissões e ausências ao divino, afetações na carne e configurações histórico-culturais.
Geraldo Luiz DE MORI
Geraldo Luiz De Mori, doutor em Teologia pelo Centre Sèvres/Facultés Jésuites de Paris, é professor e reitor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE). Lidera o Grupo de Pesquisa "As Interfaces da Antropologia na Teologia Contemporânea".
Virgínia Albuquerque de Castro BUARQUE
Virgínia Buarque, doutora em História pela UFRJ e pós-doutora em Teologia pela FAJE, é docente da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).
Equipe do site.

Livro Elogio da Sede
José Tolentino Mendonça
Edições Paulinas 2018
O livro reúne as meditações que o Pe. José Tolentino fez durante o retiro da Cúria Romana em fevereiro de 2018. Publicado em Portugal agora é lançado no Brasil pelas Edições Paulinas.
José Tolentino Mendonça
In "Elogio da sede". São Paulo: Edições Paulinas, 2018
A água é ensinada pela sede
Aos sedentos é útil recordar que há uma ciência da sede. Tomada de um ponto de vista técnico a sede vem caracterizada como um conjunto de sensações internas que a desidratação desperta em nós e que a reidratação repara. É uma definição rápida esta, e que claramente supõe muito mais. Na verdade, quando nos apercebemos de que temos sede estamos a beneficiar de uma silenciosa e vital interação dos sistemas fisiológicos de controlo do nosso próprio corpo, que se organizam para transmitir-nos essa preciosa informação. Ao que parece, num adulto saudável, este mecanismo de alerta é suficiente para fazê-lo procurar um estado de hidratação adequado, mas nem sempre é assim. Tanto a capacidade de detecção da sede como a possibilidade de resposta positiva a este estímulo podem estar alteradas e, até mesmo, diminuídas, expondo a pessoa a riscos de que não se dá conta. Temos sede e não nos apercebemos. De um modo cada vez mais frequente uma das perguntas que os médicos tendem a universalizar para os pacientes de qualquer idade é esta: «Que quantidade de água bebe por dia?» E normalmente bebemos menos do que aquilo que devíamos. É uma boa pergunta para transpormos para o plano espiritual. Será que reconhecemos a sede que há em nós? Apercebemo-nos da desidratação que, voluntária ou involuntariamente, nos impomos? Damos tempo a decifrar o estado da nossa secura? A poetisa Emily Dickinson dizia que «a água é-nos ensinada pela sede». São João da Cruz afirmava que podemos beber mesmo na obscuridade porque a nossa sede ilumina a fonte. O que é que a nossa sede nos ensina? Que fonte ela ilumina e esclarece? Será que fazemos da nossa sede uma escola de verdadeiro conhecimento, nosso e de Deus? Ou, pelo contrário, aceitamos viver à míngua de água, procurando mascarar uma sede que não escutamos?
A dor da nossa sede
Não é fácil reconhecer que se tem sede. Porque a sede é uma dor que se descobre pouco a pouco dentro de nós, por detrás das nossas habituais narrativas defensivas, ascéticas ou idealizadas; é uma dor antiga que sem percebermos bem como encontramos reavivada, e tememos que nos enfraqueça; são feridas que nos custa encarar, quanto mais aceitar na confiança. Em muitas ocasiões, a lâmina da sede colada à nossa garganta lembra o punhal de Abraão encostado à garganta de Isaac. E não é uma posição muito cômoda, convenhamos. Várias são as passagens da Bíblia que vão nessa linha, onde a sede nada tem de simbólico ou de inspirador. A sede é só sede: uma dura experiência de sacrifício e de prova. É assim que ela é descrita, por exemplo, em Êxodo 17:1-4:
«Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu do deserto de Sin para as suas etapas, segundo a palavra do Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas não havia água para o povo beber. O povo litigou com Moisés, e disse: “Dá-nos água para beber.” Disse-lhes Moisés: “Porque litigais comigo? Porque pondes o Senhor à prova?” Ali o povo teve sede de água, e murmurou contra Moisés, dizendo: “Porque nos fizeste subir do Egito para nos fazer morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado?” Moisés clamou ao Senhor, dizendo: “Que farei a este povo? Mais um pouco e vão apedrejar-me.”»
Existe uma violência no mundo e em nós próprios que provém da sede, do medo da sede, do pânico que as condições de sobrevivência não estejam garantidas. Viramo-nos contra os outros, litigamos, achamo-nos enganados, queremos voltar ao passado, apressamo-nos a encontrar um bode expiatório. A sede destapa uma agressividade que nos surpreende, mas que, se formos honestos, está algures dentro de nós. Claro que não nos é grato reconhecermo-nos nessa imagem, mas ela oferece-nos pelo menos a possibilidade de nos tornarmos mais conscientes.
A dor da nossa sede é a dor da vulnerabilidade extrema, quando os limites nos esmagam. E acerca disso o Livro de Judite (7:20-22) empresta-nos algumas imagens intensas, que documentam uma situação concreta, infelizmente igual a tantas outras que se verificaram e verificam na história. No Livro de Judite (7) trata-se das consequências devastadoras provocadas pelo cerco do exército assírio:
«O exército da Assíria, a infantaria, os carros de combate e os cavaleiros mantiveram o cerco durante trinta e quatro dias, até que todos os recipientes de água dos habitantes de Betúlia ficaram vazios; as suas cisternas começaram a ficar esgotadas, sem água para poderem beber a sua porção diária, uma vez que a água era racionada. As crianças mais pequenas estavam abatidas e as mulheres e os jovens começaram a desfalecer de sede e a cair pelas ruas e às portas da cidade. Estavam no limite das suas forças.»
A sede retira-nos o alento, esgota-nos, desvitaliza-nos, faz-nos perder as forças. Deixa-nos sitiados e sem energia para reagir. Transporta-nos aos limites. Compreende-se que não seja fácil expormos a nossa sede.
A parábola da nossa sede
O dramaturgo Eugène Ionesco reagia sempre que ouvia classificar o seu teatro como «teatro do absurdo». Ele considerava tal descrição completamente despropositada. Se as suas personagens habitam num mundo de pernas para o ar, que nos mira do avesso, se usam palavras desarticuladas e termos inventados, que simplesmente não existem, há uma razão. Isto acontece para romper com a banalidade de uma comunicação humana que é muito fluente e reconhecível, mas que já não diz nada. Ionesco justificava-se explicando que a única coisa importante no teatro é que ele solte «um grito profundo da alma». Por isso, as suas peças são parábolas tatuadas sobre o coração e em rutura com este tempo desencontrado que vivemos.
Uma delas, representada pela primeira vez em 1964, chama-se "A sede e a fome". Conta a história de um casal — Jean, o homem, Marie Madeleine, a mulher —, onde cada um representa uma posição diferente não só perante a vida prática, mas também quanto ao sentido da própria vida. Jean é devorado por um desejo sem objeto, um infinito vazio, uma inquietude sem coordenação com nada de real. Ele vive abrasado por uma sede e por uma fome que nada parece aplacar. E que rugem dentro dele continuamente como um trovão: «Tenho sempre fome. Como e é como se não tivesse comido. Este vazio, este vazio que não consigo encher... O meu estômago é um buraco sem fundo; a minha boca é um abismo cujas paredes são de fogo. Fome e sede, fome e sede.» A mulher tenta reorientá-lo, mas em vão. Ela interroga-se: «Porque é que não lhe agrada criar raízes?» Ou então: «Onde poderá ele procurar aquilo que está desde sempre ao seu alcance, que se encontra ali, debaixo dos seus pés?» Ele, porém, mesmo amando a mulher e a filha, não acredita que um amor assim limitado possa satisfazer a grandeza da sua sede: «O universo é ainda maior, e o que me falta é-o ainda mais.» Em vez de viver na sede do absoluto, Jean escolheu viver o absoluto da sede. Por isso, tudo lhe parece ínfimo, insuficiente e mesquinho. Sobre todas as coisas espalha o mesmo veneno da lamúria, condenando-as. Esta sede, a que ele não consegue dar um rosto, fez dele um homem sem casa, nem raízes; incapaz de criar laços; estrangeiro de si mesmo; perdido no vazio do labirinto onde escuta apenas o solitário rumor dos seus passos.
Se tivéssemos de contar a parábola da nossa sede, porventura teria traços semelhantes. Uma sede que se torna numa grande insatisfação, numa desafeição em relação ao que é essencial, numa incapacidade de discernimento que nos empurra para os braços do consumismo. Fala-se muito contra o consumismo dos centros comerciais, mas não podemos esquecer que há também um consumismo na vida espiritual. E que o que se diz sobre um, ajuda-nos a compreender o outro.
De facto, as nossas sociedades que impõem o consumo como padrão de felicidade transformam o desejo numa armadilha. O desejo tem a dimensão de uma montra e promete uma satisfação imediata e plena que evidentemente não pode cumprir. Vemos um objeto iluminado numa vitrine e, nesse momento, ele parece-nos conter o brilho do astro distante pelo qual ansiamos. É mesmo aquele, pensamos, enquanto avançamos para a fila da caixa registadora embevecidos com aquele ato de satisfação simbólica. Mas uma vez comprado, o objeto não parece o mesmo, perdeu alguma coisa que tínhamos por irresistível, já não tem a consistência da promessa, como se a posse implicasse uma desvalorização. E com isso cresce em nós um vazio que nos faz voltar ao ponto de partida, uma vez e outra e outra. A desilusão atira-nos para o circuito insone do consumo, onde o nosso desejo adoecido se torna o desejo de nada, a pura metonímia da nossa carência. O objeto do nosso desejo é um ente ausente, um objeto sempre em falta. Obsidiados pelo transe comercial desejamos tanto que já não somos capazes de desejar. Porém, o Senhor não cessa de nos dizer: «O que tem sede aproxime-se; e o que deseja beba gratuitamente da água da vida.»
O caminho da nossa sede
Mesmo não se tratando de uma obra religiosa, o livro de Saint -Exupéry "O Principezinho" é uma espécie de mistagogia contemporânea, pois inicia-nos na procura do sentido da existência. Não é indiferente o facto de ter sido escrito no ano de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, quando tantas feridas e incertezas pesavam, e mais do que nunca parecia difícil e urgente afirmar aquele «essencial que é invisível aos olhos». Ora, na verdadeira "peregrinatio animae" que o Principezinho realiza, depois de deixar o seu planeta, uma das figuras que encontra é um estranho comerciante de pílulas.
«— Olá, bom dia! — disse o principezinho.
— Olá, bom dia! — disse o vendedor.
Era um vendedor de comprimidos para tirar a sede. Toma-se um por semana e deixa-se de ter necessidade de beber.
— Porque é que andas a vender isso? — perguntou o principezinho.
— Porque é uma grande economia de tempo — respondeu o vendedor. — Os cálculos foram feitos por peritos. Poupam-se cinquenta e três minutos por semana.
— E o que é que se faz com esses cinquenta e três minutos?
— Faz-se o que se quiser...
“Eu”, pensou o principezinho, “eu cá se tivesse cinquenta e três minutos para gastar, punha-me era a andar devagarinho à procura de uma fonte…”»
Há muitas formas de iludirmos as necessidades que nos dão vida, e de adotarmos um escapismo espiritual, sem nunca assumir, no entanto, que estamos em fuga. A nosso favor evocamos sofisticadas razões de rentabilidade e eficácia, substituindo a audição profunda do nosso espaço interior e o discernimento da nossa sede por pílulas que prometem resolver mecanicamente o nosso problema. É tão fácil apegarmo-nos à ideia de poupar cinquenta e três minutos e sacrificarmos a isso o prazer de caminhar devagarinho à procura de uma fonte. É tão fácil idolatrarmos a pressa e a vertigem neste nosso tempo hipertecnológico e que tem o culto da instantaneidade, da simultaneidade e da eficácia. Escreve Milan Kundera, em "A Lentidão":
«Há um laço secreto entre lentidão e memória, entre velocidade e esquecimento. Tomemos uma situação das mais banais: um homem caminha pela estrada. Por instantes, procura recordar-se de alguma coisa que, no entanto, lhe escapa. Então, instintivamente, ralenta o passo... Na matemática existencial esta experiência assume a forma de duas equações elementares: o grau de lentidão é diretamente proporcional à intensidade da memória; o grau de velocidade é diretamente proporcional à intensidade do esquecimento.»
Como é o nosso passo: sempre tenso e apressado ou humilde e distendido? Sentimo-nos nutridos pela memória ou secos pela velocidade de tudo? Sentimo-nos a caminhar devagarinho para uma fonte? Aqui, como em outros âmbitos da vida, a verdadeira conversão não consistirá em belas teorias, mas em decisões que resultem de uma tomada de consciência efetiva das nossas necessidades. E, depois, o passo a passo dos pequenos gestos e das práticas concretas que nos comprometem.

Livro: Escolhendo Jesus. Jovens cristãos para uma nova sociedade.
Autores: Aline Amaro da Silva; Pe. Antonio Ramos do Prado; Pe. Elias Silva; Welder Lancieri Marchini
Editora Vozes
Os jovens possuem uma cultura própria que se revela de acordo com o contexto de sua história. Perceber a notável diversidade de expressões juvenis presentes na Igreja do Brasil, apresentar cenários em que vivem os jovens e, concomitantemente, oferecer pistas de ação para os animadores, lideranças e agentes de pastoral visando ajudá-los a melhor acompanhar os adolescentes e jovens é intenção desta obra. Cada um dos quatro capítulos apresenta pistas de ação, propondo aos animadores e agentes de pastoral juvenil e a todos os que atuam com este grupo, possibilidades de atividades a serem realizadas tanto pelos agentes quanto junto aos adolescentes e jovens. Estas visam ajudar no acolhimento e integração concreta dos jovens na comunidade, estreitando laços entre eles e as ações pastorais da comunidade em que possam atuar. Isto porque se o jovem assume a sua vocação, sua função de sujeito eclesial e auxilia nos processos cibernéticos, não mais evangelizamos os jovens, mas com eles.
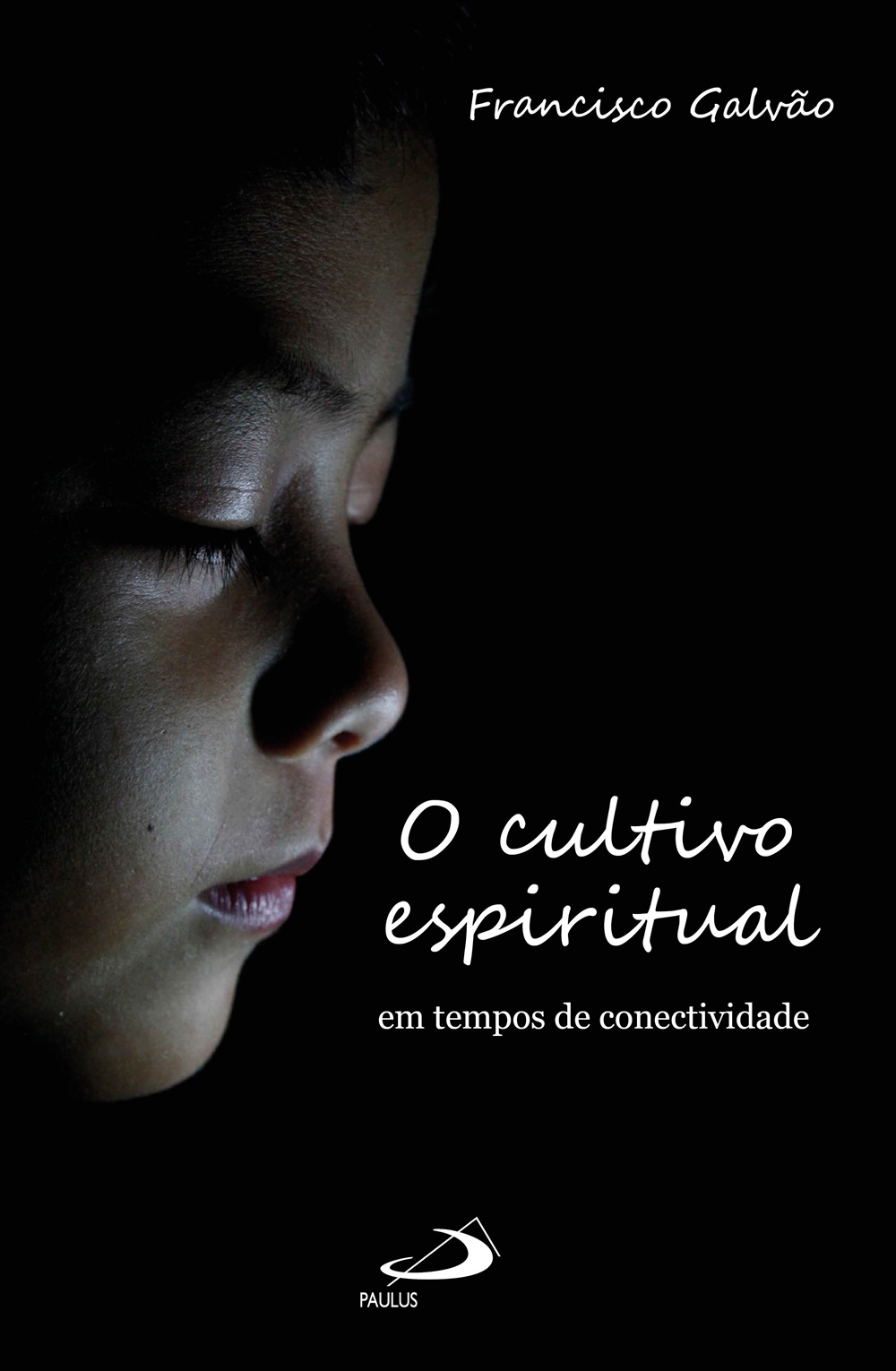
Livro: O cultivo espiritual em tempos de conectividade
Autor: Francisco Galvão
Editora Paulus
Escrito entre a agitação de São Paulo e o silêncio de Medellín, este é um livro para quem vive o descompasso da pressa e deseja reconectar-se consigo mesmo. É um despretensioso convite à busca de sentido e harmonia em um mundo marcado por sofrimento e angústia. Um livro para todos aqueles que – professando ou não uma religião – continuam ávidos de sabedoria, compaixão e transcendência. Não é um livro apenas para mentes conectadas à internet, mas também para mentes conectadas aos excessos da vida contemporânea. É um livro sobre pausa e silêncio, mas também sobre contentamento e vida feliz.
Temos muita pressa e estamos sempre atarefados. Contudo, precisamos reencontrar o caminho de volta à nossa morada interior. Caso contrário, continuaremos reféns de nossos apegos, angústias e das falsas expectativas em relação a Deus e as pessoas.
O autor fará o lançamento deste livro dia 21 de junho, às 19h30, no Centro Loyola, quando fará também uma palestra sobre: Espiritualidade e vida conectada. Sobre o despertar interior e a urgência da pausa.

Democracia em crise: o Brasil contemporâneo
Cadernos temáticos do Nesp- número 7
Editora PUC-Minas
O Livro é organizado pelos professores da PUC Minas Robson Sávio Reis Souza, Adriana Maria Brandão Penzim e Claudemir Francisco Alves. A publicação reúne textos de diversos autores, entre eles os cientistas políticos Otávio Soares Dulci, Rudá Ricci, Mara Telles e Léa Souki, o filósofo Maurício Abdalla, o constitucionalista José Luiz Quadros de Magalhães e o jornalista João Paulo Cunha.
A publicação integra a série Cadernos Temáticos do Nesp, que tem como objetivo divulgar artigos, ensaios, relatórios de pesquisas, entrevistas, resenhas e outras produções textuais que possam ampliar o debate e a reflexão sobre temas relevantes, sobretudo acerca da realidade brasileira. O sétimo volume da série dedica-se à temática da crise da democracia, com foco no Brasil contemporâneo.
Equipe do site
Página 3 de 6