
Uma antiga expressão, “Roma locuta, causa finita”, indicava com clareza a autoridade do papado e sua função como tribunal inapelável da resolução das contendas e da instrução doutrinária. São conhecidos os inúmeros processos que, chegados a Roma, tinham o aí seu desfecho final. Pois bem, parece que, com o papa Francisco, alguma inversão começa a se induzida. Ao invés constituir um ponto de chegada habitual, Roma, com Francisco, se assemelha agora, como foi em outras ocasiões, a uma origem, a uma fonte. As atitudes e os comentários do papa Francisco e sua insistência serena e firme na necessidade de mudanças agudas e conseqüentes na Igreja constituem efetivas propostas de transformação.
Para além da simplicidade, da alegria e da sensibilidade que o caracterizam, o que, de fato, está em jogo é a coragem de expor as debilidades que cercam o cristianismo e a confiança nos recursos de que ele dispõe para enfrentar os desafios postos pela contemporaneidade. A agenda proposta pelo papa Francisco é ampla e fecunda, resta saber se será acompanhada da disposição da Igreja, sobretudo disposição da hierarquia eclesial, para levá-la adiante. Por ora, a celebridade do papa, que não conhece fronteiras, não parece estar marcada de uma certa solidão? Ele avança e desconcerta, é certo e é o que se espera de uma liderança, mas vem sendo acompanhada pelo restante da Igreja? Ele tem aberto espaços, mas tem havido ocupação desses novos espaços? Se há um ideário proposto pelo Papa, e há, é preciso que ele encontre eco na Igreja e que permita a revisão de muito do que está sendo feito. O que se espera é que temas como a formação de sacerdotes, a organização das paróquias, a função dos leigos, a ocupação de espaços públicos, a dinâmica das instituições confessionais, a intervenção nos debates no campo da cultura, o enfrentamento das polêmicas, entre tantos outros, passem a fazer parte do cotidiano da hierarquia eclesial e da conversa dos fiéis.
É de Roma, que até bem pouco as fechava, que brotam as questões. Não devemos ser nós a ignorá-las.
Ricardo Fenati
Equipe do Centro Loyola

Do Pe. Libânio, que acaba de partir, muitas coisas podem ser ditas e ainda assim restará sempre o que dizer. Ao contrário de muitos de nós, apegados a uma rotina tão confortável quanto empobrecedora, Pe. Libânio transbordava sempre. Sacerdote, formador, professor, teólogo, escritor, conferencista, vigário, orientador espiritual, animador e acompanhante de muitos grupos e pessoas, tudo isso, e muito mais, fez, e continuará fazendo, do Pe. Libânio uma figura singular.
Capaz como poucos de aproximar vida intelectual e experiência humana, junção tão rara quanto necessária, Pe. Libânio era leitor e ouvinte incansável dos que a ele se opunham. Nada lhe era estranho, nenhum diálogo parecia-lhe impossível. A sala de aula, os encontros nacionais e internacionais, o serviço na paróquia, a escuta pessoal, entre tantas outras atividades, eram por ele vistos como oportunidades diversas de um mesmo empenho, o de mostrar a infinita capacidade do cristianismo para dialogar com a miséria e a grandeza do nosso tempo. Longe do remetimento apressado ao dogma e longe da capitulação supostamente modernizante, a sua disposição combativa e sua alegria serena permanecem como exemplos para todos nós. Muitas vezes, quando a mera reafirmação da doutrina parecia se impor, Pe. Libânio mostrava, com firmeza e abundância de conhecimento, que a vida nascida da liberdade, essa sim, devia ser o critério decisivo. Onde o recurso ao amedrontamento, freqüente nas versões excessivamente moralistas do cristianismo, se oferecia como estratégia catequética, Pe. Libânio, escorado nas fontes mais clássicas da antropologia cristã, nos lembrava que o medo não converte ninguém.
Agora que está em meio ao Amor sem limites, Pe. Libânio permanece entre nós como sinal da perenidade de um cristianismo fascinado pela dignidade e pelo mistério da condição humana.
Ricardo Fenati
Volta e meia aparece, nas redes sociais, a defesa de uma vida sem filhos. Filhos, e inumeráveis são os motivos apresentados, embaraçariam e/ou dificultariam, financeira e emocionalmente, a vida. Mais gastos, menos viagens, mais privações, menos liberdade, mais compromissos de longo prazo, menores chances de reviravoltas na vida. Parece fazer sentido. Foi Schopenhauer, se não me engano, quem disse que “a vida é um negócio que não cobre seus gastos”. Com filhos, estaríamos ainda mais endividados. Portanto, filhos, por que tê-los?
Mas, um pouco de reflexão, e essa tese esbarra numa contradição. Se a vida é melhor sem filhos, se essa é uma idéia a ser propalada e um ideal ético, dentro em pouco não haveria quem pudesse encampá-los, não é mesmo? Interrompida a procriação, quem iria se beneficiar doravante das delícias e da qualidade de uma vida sem filhos? Simples assim? Nem tanto. Os que abominam filhos podem estar defendendo a vontade de ser a última geração humana sobre a terra, o que o seria o mais acabado exemplo de auto-suficiência. Libertos de todas as amarras e de todos os deveres, inclusive o último e mais decisivo, aquele que o futuro põe diante de nós. Será isso mesmo?

Sabemos, com a força que vem da pressão da espécie, que isso não ocorrerá. Não temos conhecimento de espécies suicidas, a vida continua clamando por mais vida, sempre. Assim sendo, os defensores de uma vida sem filhos, é o que a contradição acima apontada parece deixar claro, estão apenas legislando em causa própria. Preferem, à vista daquilo que consideram como vantagens, não ter filhos. O que lhes é evidentemente possível. Perdem eles, entretanto, qualquer autoridade argumentativa, já que aquilo que é apresentado como um ideal desejoso de universalização é, de fato, a mera racionalização de uma escolha estritamente pessoal. Que deve ser suportada sem um suposto amparo vindo do campo das ideias.
Ps. Para quem se interessa por esse tema, vale a pena consultar o livro de Rémi Brague, Âncoras no Céu, recentemente editado pela Loyola.
Ricardo Fenati
Equipe do Centro Loyola
Sabedoria é uma dessas palavras incertas, sobre as quais cabe o que Sto. Agostinho dizia do tempo: se não me perguntam o significado, sei bem do que se trata, mas, se me perguntam, já não sei. E, por isso mesmo, vale uma conversa. Sabedoria parece coisa antiga, ligada à simplicidade, distante das formas contemporâneas de conhecimento. De alguma forma, esperávamos que a ciência, na variedade de suas formas, desempenhasse melhor as funções antes atribuídas à sabedoria. E continuamos esperando. Entretanto, já que a palavra persiste, e dado que nenhuma cultura conhecida prescindiu da experiência que chamamos sabedoria, talvez a sua remoção seja mais difícil do que sem pensa. Sem a intenção de ir muito longe, o que se pode entender, entre outras coisas, como sabedoria? Sabedoria decorre, acredito, do fato de que entre nós e a existência o vínculo não é imediato e nem natural. Decorre igualmente da percepção de que nem todos os caminhos são equivalentes e que a salvação e a perdição – termos aqui usados numa dimensão puramente humana – são destinos em quase tudo desiguais.

A vida é opaca, a compreensão é um ofício trabalhoso e a nós cabe um esforço permanente de decifração. Podemos, é claro, prescindir desse horizonte e nos atermos à sedução do aqui e do agora, até mesmo porque a demanda pela sobrevivência é aguda. Mas em meio às atribulações permanecem as grandes questões – o amor, a coragem, a alegria, a justiça, a beleza, a verdade, a dor, a morte – e a elas também pertencemos. Sabedoria é, nesse cenário, o esforço, sempre retomado, de construir um espaço simbólico que torne a vida uma experiência da qual o Sentido nunca se ausente inteiramente. Longe da sabedoria, devorados pelo que é mais imediato, estaremos condenad
os à inanição simbólica, tão devastadora quanto a inanição física. Longe da busca de Sabedoria estaremos exilados de nós mesmos.
Para pensar na quinzena:
Aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar é perder-se a si mesmo. Aventurar-se é tomar consciência de si próprio. (Kierkegaard)
Ricardo Fenati
02.01.2014
Talvez seja o Natal que se aproxima, talvez seja apenas dezembro, quem sabe o fim de ano. Não importa a correria desses dias, que só tende a aumentar com o avanço do mês, alguma coisa permanece no ar. Mais um ano se passou, cumprimos parte das promessas feitas no já distante janeiro, desistimos de outras e de algumas nos esquecemos. Um tempo transcorreu e foi, bem ou mal, vivido. Resta, entretanto, alguma coisa de inconcluso, um gosto indefinível na boca, um sentimento de estranheza no coração. Vasculhamos aqui e ali, refazemos as contas, percorremos os caminhos uma vez mais e, mesmo assim, há uma sobra que não tem como ser removida.

O fim de ano, Natal à vista, é uma interrupção, uma suspensão das atividades, um espaço que se abre, um silêncio que se impõe. E aí talvez descubramos, perplexos, que não somos prisioneiros das nossas ocupações habituais, que o tempo não deve ser preenchido com tanta ansiedade e que precisamos dar mais lugar ao que vem desse país distante que somos nós mesmos. Mas é, então, compreensível nosso susto: estaremos às voltas com o enigma de que somos feitos, com os pedaços que nenhuma habilidade é capaz de juntar. Não encontraremos nenhuma identidade definitiva na qual repousar, nenhuma resposta confortadora, apenas, aqui e ali, o que parece ser, isso sim, um rastro, o sinal de uma passagem, a indicação de uma presença possível. Sem qualquer certeza. Não obstante, cabe a nós suportar. Ao invés de nos diluirmos no que nos cerca mais imediatamente, talvez fosse melhor acolher a penumbra a que, enfim, pertencemos. Assim, a estranheza que dezembro costuma trazer, mais do que algo a recear, talvez possa vir a ser uma experiência de rememoração do peregrino que nos habita e que, desde sempre, todos somos.
Para pensar na quinzena:
“ ... a intimidade humana vai tão longe que seus últimos passos já se confundem com os primeiros passos do que chamamos de Deus”. (Clarice Lispector, A descoberta do mundo)
Ricardo Fenati
Equipe do Centro Loyola
16.12.2013

Palavras são tentativas de despertar o mundo, de trazer à tona o que, até então, jazia escondido, à maneira de um tesouro. Nomeando, somos um pouco mais capazes de compreender, mesmo sabendo que toda nomeação envolve uma exclusão, assim como toda luz lança sombras. Se, inconformados com as limitações da linguagem, desistíssemos das palavras, até a experiência do silêncio, perdendo o contraste, ficaria prejudicada. Entretanto, nenhuma palavra esgota o que ela procura significar, toda palavra deixa um resto, um espaço, que serão ocupados por novas palavras que, por sua vez, gerarão novos restos. Com isso em vista, é sempre um desafio identificar aqui e ali os restos deixados pelas nossas palavras, que permanecem à espera de novas nomeações. A título de um exercício, que você, cara leitora, caro leitor, pode continuar, vamos apontar um e outro exemplos. Que nome dar a essa melancolia que, sem deixar de ser triste, é quase alegre? E à solidão quando, ao invés de nos isolar, é concorrida? E a esses silêncios eloqüentes que, uma e outra vez, surpreendemos num olhar? E a essa insuficiência feliz que se segue ao amor consumado?
Camões já falava desse excesso que relativiza nossas palavras, dessa nascente de onde brota a linguagem. Com ele aprendemos que, à espera de um nome, há uma ferida que dói e não se sente, uma dor que desatina sem doer, um contentamento descontente e uma lealdade com quem nos mata.
Ricardo Fenati
Equipe do Centro Loyola
30.11.20
Guimarães Rosa, no Grande Sertão, escreveu que “se não tem Deus, então, a gente não tem licença de coisa nenhuma”. Já Dostoievski, nos Irmãos Karamazov, disse que “se Deus não existe, tudo é permitido”. Disseram a mesma coisa? Ou não?
Começando por Guimarães Rosa: não existindo Deus, talvez isso queira dizer que não vale a pena dar início a nada e que, ao invés de inventar a vida e o mundo, deveríamos, isso sim, aderir a um mormaço paralisante que a tudo banalizaria. Dostoievski parece dizer o contrário: Deus não existindo, estaríamos desobrigados de tudo, nada nos coagiria e tudo passaria a estar ao nosso alcance.

Sem licença num caso e sem restrições no outro. Então, só nos resta atestar a oposição. Mas é isso mesmo? Não há uma aproximação possível entre os dois autores? É possível. Se Guimarães insiste que não teríamos licença para coisa nenhuma não é porque, inexistindo Deus, o chão nos faltaria, tudo estando, então, fadado à insignificância? E, com Dostoievski, sendo tudo permitido, isso não quer dizer que tudo se equivaleria, tanto fazendo ir ou vir, criar ou desistir, norte ou sul, alto ou baixo?
Um e outro talvez estejam dizendo que a autocriação da humanidade depende do acolhimento de uma transcendência. Do acolhimento de Deus, no caso dos nossos autores. Há quem diga que, aceitando Deus, é dos humanos que retiramos alguma coisa e há quem diga, contrariamente, que o afastamento de Deus é, ao mesmo tempo, um apagamento da experiência humana. Não custa pensar um pouco sobre isso. Ou talvez, cara leitora, caro leitor, você prefira ver uma divergência onde sugeri uma aproximação entre Guimarães Rosa e Dostoievski. Também sobre isso vale pensar.
Ricardo Fenati
Equipe do Centro Loyola
19.11.2013
A experiência do silêncio é parte integrante das mais variadas tradições místicas, ocidentais e orientais, mais antigas ou mais próximas de nós. Assinala, como sabemos, os limites da linguagem verbal quando caminhamos para além das áreas mais habituais ou corriqueiras da vida humana. Se muito do que nos rodeia chega até nós através da linguagem, instrumento indispensável de revelação e descoberta, outro tanto permanece à espera da nossa capacidade de acolher, por meios distintos, o que, sem que nos excluir, nos excede. Seja no espaço mais diretamente religioso, seja no espaço laico, o silêncio é uma pausa que, recusando a gula da palavra, busca a compreensão.

Nosso tempo, entretanto, resiste ao silêncio e, entre nós, a palavra, ao invés de se constituir como um esforço, mesmo que limitado, de aproximação do real, apresenta-se como uma tentativa, tão freqüente quanto estéril, de escapar do duro trabalho da significação. Falamos em demasia, falamos sem cessar. Imaginamos, ilusoriamente, que a palavra, sem qualquer trabalho, recobre o real e que aquilo que vivemos cabe, sem mais, no campo do discurso. Não importa a experiência, sua estranheza, sua singularidade, sua opacidade. Estamos sempre dispostos a recobri-la com a pressa da palavra, como se significados estivessem à mão, disponíveis para nós. Não estão, a busca do significado é uma luta, a luta com as palavras de que fala o poeta. Mesmo a rara palavra acertada não afasta o sentimento de que o acesso à realidade depende, não poucas vezes, do reconhecimento do que escapa de qualquer palavra, a silenciosa corrente da vida.
Para pensar na quinzena:
“A poesia procura manter na palavra a intangível presença do incógnito” (Santiago Kovadloff)
Ricardo Fenati
Equipe do Centro Loyola
31.10.2013
A coluna da quinzena passada abordou o tema da secularização, definida, sem preocupação de um rigor maior, como a rejeição, no domínio público, de normas provenientes dos campos religiosos e/ou seu endereçamento ao domínio privado. Tendo como referência o catolicismo, o texto assinalava que as demandas em favor da secularização ocupam-se, exclusivamente ou quase, de questões de natureza moral. Na medida em que o catolicismo, enquanto leitura ampla da condição humana, ultrapassa de muito o âmbito da moralidade, é todo um patrimônio cultural que permanece submerso no debate sobre a secularização.
O catolicismo, e essa observação pode se estender, com algum cuidado, ao cristianismo como um todo, é, antes de tudo, uma antropologia generalizada, uma aproximação corajosa da condição humana, respeitada sua complexidade e seu caráter paradoxal. Com o cristianismo, aprendemos que a fidelidade à humanidade obriga a que reconheçamos os dilemas que a constituem. A fragilidade que acompanha nossas vidas, a finitude que nos envolve, o inescapável sofrimento existencial que nos espreita se ajuntam à nossa disposição para amar, à nossa coragem para criar e ao heroísmo cotidiano que muito justamente se espera de cada um de nós. Somos, é o cristianismo que o diz, esse amálgama de trevas e luz, que, reconhece, à maneira de uma música de fundo, os sinais de uma Alteridade que nos excede e que, longe da certeza, ressoa em nosso desejo mais profundo.

Como os esforços em favor da secularização concentram-se no campo da moralidade, os debates que se ocupam do cristianismo ficam bastante prejudicados. Seria interessante verificar, tendo como referência a riqueza da antropologia associada ao cristianismo, o que pode significar, aqui, secularização. Se é verdade que, no campo da moralidade, não poucas vezes, a secularização pode ser vista como uma defesa da singularidade humana, aqui, no âmbito da antropologia, ela se assemelha, com a mesma freqüência, a um desesperado, e inócuo, esforço para dissolver o enigma de que nós, os humanos, somos feitos e que nos cabe, como tarefa maior, enfrentar.
Dessa forma, estamos diante de um cenário intrigante. Se no campo da moral o catolicismo deve responder ao desafio posto pela modernidade, é essa mesma modernidade que, marcada pelo receio diante da dramaticidade do dilema humano, deve suportar a interrogação proveniente da antropologia cristã.
Ricardo Fenati
Equipe do Centro Loyola
15.10.2013
É amplamente compartilhada a ideia de que vivemos numa sociedade mais e mais secularizada. Secularização, e é assim que, por vezes, ela é exemplificada, quer dizer rejeição no domínio público de normas provenientes de campos religiosos e/ou seu endereçamento ao domínio privado . O problema é amplo, mas vou me ater, sem qualquer pretensão de um rigor maior, ao que ocorre quando o campo religioso em questão é o catolicismo. Se prestarmos atenção, não será difícil ver que a demanda da secularização diz respeito, quase sempre, a questões de natureza moral. O direito ao aborto, a admissão da legitimidade das relações homoafetivas, o recurso aos preservativos são vistos como exigências da modernidade, incompreensivelmente ignoradas pela igreja católica. Entram nessa conta, de forma um pouco distinta, o sacerdócio feminino e o celibato sacerdotal. E há, de fato, muito a discutir aí e, quem sabe, a rever. Que as questões relativas à moralidade ganhem essa expressão não é de se espantar, já que faz parte do itinerário da modernidade a progressiva submissão ao julgamento do sujeito das normas que recaem e incidem diretamente sobre sua vida. E, na medida em que essas normas se originavam da religião, a resistência à religião se configura como defesa da liberdade. E, é fato, não poucas vezes, algumas normas são injusticadamente restritivas da liberdade. Daí que apareçam os que defendem ser o cristianismo solidário de um tempo que já não é o nosso. Apesar do quadro se apresentar muito mais complexo do que aqui é possível sequer esboçar, há quem se dê por satisfeito com a descrição acima.
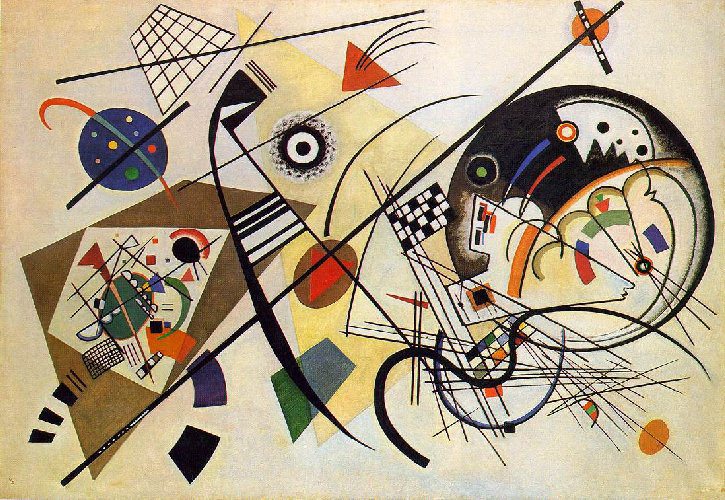
Entretanto, o curioso é que há um outro patrimônio cultural integrante do catolicismo que não vem à tona no debate sobre a secularização. Associado ao cristianismo, que aqui se estende para além do catolicismo, há toda uma dimensão antropológica, toda uma leitura da experiência humana, de sua complexidade e dos dilemas que a envolvem. Insisto, a questão é complexa, e é tratada aqui com a brevidade que as circunstâncias permitem. O cristianismo sempre foi muito sensível, sem que isso signifique a adesão a um pessimismo de base, ao sofrimento humano, sofrimento material e existencial. A mortalidade que nos acompanha, a fragilidade de nossas vidas, a pressão do nosso egoísmo, os paradoxos da sociabilidade e a resistência diante de nossa finitude são traços que o cristianismo nunca perdeu de vista. Por outro lado, a nossa disposição para amar, a nossa coragem para criar, a propensão para a vida comunitária, o sentimento de que de nós se espera um heroísmo cotidiano, a possibilidade de decifrar, ainda que de forma sempre inacabada o mundo à nossa volta e a confiança na presença de uma Alteridade que nos excede, são outros tantos traços do cristianismo, considerados com seriedade ainda maior.
Quando são questões de natureza moral que estão em pauta, temos mais clareza quanto à secularização. Mas quando o nosso olhar recai sobre essa dimensão mais existencial, como se coloca o tema da secularização? A direção é mesma de quando as temáticas eram de natureza moral? Continuaremos a conversa na próxima coluna.
(continua...)
Ricardo Fenati
Equipe do Centro Loyola-BH
01.10.2013
O papa Francisco, num de seus primeiros discursos depois da eleição, falou da necessária atenção aos que estão na periferia da existência. Volta e meia me lembro da expressão, seja pelo seu ineditismo, seja pela pertinência que nela pressinto. Se não se trata, apenas, de periferia no sentido político-social, emprego mais habitual da palavra, o que ela aí quer dizer? Pode ser um lugar antropológico? Não sei bem, arrisco uma leitura. Socorro-me de Guimarães Rosa, que num conto insuperável, O Espelho, disse que “...vivemos, de modo incorrigível, distraídos das coisas mais importantes”. Será assim? Periferia da existência quer dizer isso, nosso confinamento nas nossas profissões, nos múltiplos papéis que desempenhamos, nas definições mais arrumadas que reservamos para nós mesmos, nos saberes e nos costumes nos quais nos dissolvemos? Sendo assim, pode ser que, seduzidos pelo sucesso destas iniciativas, façamos da periferia da existência nossa residência permanente. Mas o preço a ser pago não será alto demais, não nos esvazia de muito? A céu aberto, distante da periferia e perto do coração, a existência é mais desafiadora e impermanente, tecida, em desigual medida, de dores e de alegrias, das inevitáveis frustrações e das requeridas coragens, dos amores e dos temores.

A nenhum de nós é possível permanecer muito tempo sem o abrigo de uma rotina, sem um retorno, ainda que provisório, para o que o papa chamou de periferia da existência. Mas talvez o rumo de nossa cultura, por ter se contentado com essa periferia, tenha, em grande parte, perdido o sentido da gravidade da existência, do que confere singularidade e sentido à vida humana. E, para muitos, não deixa de ser surpreendente que venha do cristianismo, de um cristianismo marcadamente existencial, do cristianismo de Francisco, essa lembrança.
Para pensar na quinzena:
A sugestão é a leitura do conto O Espelho de Guimarães Rosa, no volume Primeiras Estórias. Mas não resisto à tentação de citar um trecho: “Se sim, a “vida” consiste em experiência extrema e séria; sua técnica – ou pelo menos em parte – exigindo o consciente alijamento, o despojamento, de tudo o que obstrui o crescer da alma, o que a atulha e soterra?”
Ricardo Fenati
Filósofo, membro da equipe do Centro Loyola
16.09.2013
A amizade entre os gregos sempre esteve em alta. Ora considerada como o maior dos bens, ora vista como condição indispensável a uma vida feliz, a amizade, mais do que uma experiência privada entre duas ou mais pessoas, pertencia a uma dimensão pública da vida. Nossa modernidade, que costuma tornar pública a esfera da intimidade, vem restringindo à dimensão privada atividades que sempre deram espessura à vida pública. Com a amizade se passa algo assim. Aristóteles - é com os gregos que a gente volta e meia esbarra – falava de três formas de amizade, uma calcada no interesse, outra no prazer e uma terceira, que, de fato, indicava a experiência mais efetiva da amizade. Assentada no compartilhamento de valores que ultrapassam a dimensão particular, a amizade assim entendida banha-se no caldo de ideias capazes de dar rosto e feição à uma cultura e mesmo a uma civilização. A utilidade e o prazer, outros reguladores da amizade, mesmo quando legítimos, são prisioneiros da particularidade e/ou circunscritos ao momento. Não somos mais gregos, a história anda, mas não precisamos nos conformar ao empobrecimento contemporâneo da vida pública.

É hora de retomar bandeiras mais coletivas, capazes de induzir a pactos mais amplos, mesmo que não nos satisfaçam igualmente a todos. Precisamos povoar a cena pública de ideias e de debates, despreocupados de certezas e desinteressados de soluções apressadas. Assim, quem sabe, nossas conversas possam ir além da informação acerca do que acabamos de comprar e nossos sentimentos com relação a quem pensa diversamente não se precipitem no ódio. Assim, talvez, a amizade possa se tornar, com as marcas próprias do nosso tempo, uma experiência pública.
Para pensar na quinzena:
“ Na amizade nos ocupamos ao mesmo tempo da felicidade própria e alheia” (Kant)
Ricardo Fenati
Equipe do Centro Loyola
02.09.2013
Há os que duvidam da potência das palavras, esquecidos de que a nossa experiência no mundo é sempre mediada linguisticamente. Imaginando-se numa espécie de espaço prático, protegidos contra qualquer incursão da linguagem, acabam, de fato, mergulhados na banalidade simbólica. E aí, além de vítimas da indigência cultural, encerram-se num mundo mais e mais empobrecido de horizontes.
 Quando desatentos das palavras, são as experiência que nos escapam. Um bom exemplo vem da dificuldade de perceber a diferença entre ingenuidade e inocência.
Quando desatentos das palavras, são as experiência que nos escapam. Um bom exemplo vem da dificuldade de perceber a diferença entre ingenuidade e inocência.
Dizemos que alguém é ingênuo quando não sabe ou ignora o que deveria saber, seja porque se esperava, com justiça, que ele soubesse, seja porque se trata de algo que é amplamente sabido. Quando há um saber disponível, que pode ser acessado, a ingenuidade é sempre criticável. E é assim mesmo, não há porque não contar com o saber quando ele está à mão.
Inocência é outra coisa e não vale a pena tomá-la como sinônimo de ingenuidade. Inocência quer dizer não fingir saber o que, de fato, não se sabe, o que não é sabido de forma alguma. Inocência quer dizer não ceder à ilusão e aparentar conhecer o que permanece desconhecido, o que continua, e continuará, a ser objeto de investigação. Inocência decorre do reconhecimento da infinita riqueza da vida e da perplexidade, tão humana, diante do reconhecimento de que a existência excede e ultrapassa de muito nossas tentativas de capturá-la. É a inocência, com essa mistura de falta e desejo que a acompanha, que possibilita que a vida nos apareça como uma aventura possível, como uma alteridade que não cessa de nos interrogar.
Para pensar na quinzena:
“Nós não nascemos inocentes, mas podemos morrer inocentes” (Cristina Campo)
Ricardo Fenati
Equipe do Centro Loyola
15.08.2013

Há muito que comentar sobre o Papa Francisco. De questões teológicas mais abrangentes a gestos e palavras voltadas para o cotidiano, estamos diante de um Papa que, de um lado, não cessa de nos surpreender e, de outro, se mostra absolutamente fiel às fontes do cristianismo. Contra aqueles que acreditam que esses dois caminhos são mutuamente excludentes – o clichê que divide a Igreja entre conservadores e progressistas -, o Papa Francisco vem comprovando dando mostras, uma vez mais, do que o cristianismo, enquanto projeto civilizatório, apresenta de melhor, ou seja, a fidelidade simultânea à sua origem e a tudo o que a história traz.Um tempo de debate entre nós está aberto e queira Deus que sejamos capazes de aprofundá-lo sempre mais. Com o cristianismo reposto nas ruas, desclericalizado, o Papa Francisco deixa a todos nós um legado, a lembrança do caráter público do cristianismo, o dever do diálogo corajoso, sereno e sábio com todas e cada uma das questões que rondam a vida humana nessa hora onde as sombras, que são muitas, não ocultam a esperança, sempre presente no coração humano. São muitas as transformações exigidas das instituições cristãs, muitas vezes confortavelmente instaladas na proteção da indiferença e da insensibilidade. Não é outra a razão das palavras mais duras do Papa terem sido dirigidas a hábitos e práticas internas ao cristianismo. Tomara que tenhamos escutado.
Para pensar na quinzena:
Do discurso do Papa Francisco no encontro com os dirigentes do CELAM:
As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens do nosso tempo, sobretudo dos pobres e atribulados, são também alegrias e esperanças, tristezas e angústias dos discípulos de Cristo (cf. GS, 1). Aqui reside o fundamento do diálogo com o mundo atual.
Ricardo Fenati
29.07.2013

Continuam em curso as tentativas de compreensão dos acontecimentos que marcaram o mês de junho entre nós. A multidão que esteve presente nas ruas, o número de cidades com ocorrência de manifestações e sua distribuição pelo território brasileiro, a diversidade das demandas apresentadas e, sobretudo, a vontade de mudança, tão amplamente espalhada, resistem como um conjunto de interrogações a ser enfrentado. Os moldes habituais de leitura dos acontecimentos, ou seja, a leitura calçada no jogo partidário, são francamente insuficientes. Não que partidos devam ser alijados, não há democracia duradoura sem partidos, mas daí a inferir que eles devam esgotar a vida política, ou que devem permanecer intocados, vai uma distância inaceitável. Assistimos, levando em consideração a história recente, movimentos semelhantes – o movimento pelas diretas, a luta contra Collor -, mas dessa vez alguma coisa mais difusa e mais básica esteve, e está, presente. Uma indignação serena, um descontentamento diante de tantos abusos, a certeza de que tudo poderia ser diferente e melhor, o vislumbre de um País mais justo, menos violento, menos desigual e mais desenvolvido, uma impaciência diante da esperteza reiterada de tantos de nossos políticos, tudo isso reclama um olhar novo e um afastamento de nossos hábitos analíticos.
Em Junho, sentimo-nos vivamente pertencentes a uma Pátria, o Brasil, cidadãos de um País ao qual devemos cuidados constantes. Por ora, tudo é, ainda, uma tarefa, apenas uma possibilidade. Mas a alegria e a disposição vindas das ruas confirmam que a luta vale a pena e que a invenção nos espera. Tomara que Junho não se encerre.
Para pensar na quinzena:
“Cabe a nós zelar pelo sagrado que habita esse espaço-tempo que nos une” (Luiz Gabriel Lopes)
Ricardo Fenati
Equipe do Centro Loyola
15.07.2013

Já é quase um lugar comum dizer que a filosofia se interessa mais por perguntas do que por respostas. Pode ser, até porque, percorrendo a história da filosofia, encontramos pouca concordância em torno das respostas ali disponíveis. Em outras áreas, na vida cotidiana ou nas ciências, por exemplo, dispomos de respostas satisfatórias, mesmo que reformáveis com o tempo. Talvez o mundo seja mesmo assim, mais claro aqui, mais enigmático ali. E só erramos quando insistimos em confundir os planos, deixando de lançar luz sobre o que pode ser esclarecido ou querendo clareza onde a penumbra não tem como ser afastada.
Acolhendo a face enigmática do universo, percebemos que não somos senhores de nossas questões. Contrariamente ao que Marx disse um dia – a humanidade só põe questões que pode resolver -, somos excedidos pelos problemas que nos atravessam. E não é o caso de dizer que eles estão além de nossas forças, que caem sobre nós como um fardo desconhecido, originários de uma fatalidade que nos ignora, constrangendo-nos a um inevitável mutismo. Fossem assim estranhos, absolutamente estranhos a nós, não nos ocupariam. Não os dominamos, é certo, mas não nos interessariam e, mais, não nos angustiariam se, de algum modo, não nos reconhecêssemos nele. Essa sombra que envolve toda luz, esse silêncio que envolve toda palavra, talvez sejam, menos do que um obstáculo a temer ou uma realidade a negligenciar, uma Terra a que, também, pertencemos. Não podemos responder às questões – elas nos excedem -, não podemos deixar de colocá-las – a elas pertencemos. Não é um destino insignificante, não é uma maneira equivocada de reconhecer a prioridade das questões na filosofia.
Para pensar na quinzena:
“Sabemos muito para sermos céticos, sabemos pouco para sermos dogmáticos (Pascal)
Ricardo Fenati
Equipe do Centro Loyola
01.07.2013
Falei do sofrimento na coluna passada, falo hoje da alegria, do contentamento de ser. Tanto quanto o sofrimento, a alegria é parte constitutiva da experiência humana. Se o sofrimento, o sofrimento vivido humanamente, lança uma sombra sobre nossas vidas e nos conduz a um certo recolhimento, a alegria, que não precisa ser barulhenta, é um suplemento de vida, uma expansão existencial. Um costume arraigado tende a ver mais seriedade na tristeza do que na alegria, que, muitas vezes, se não é vista como ingenuidade, é desculpada como um descanso necessário, mas provisório, na inevitável rudeza da vida. Já foi dito que a infelicidade tem mil formas e a felicidade não, é a mesma sempre, o que acaba lhe conferindo menos espaço na experiência humana. Mas será mesmo assim?

Não falo da alegria motivada por um acontecimento como um amigo reencontrado, um gesto carinhoso recebido ou uma ação valorosa cumprida, mas da alegria como um pano de fundo, como um estado do ser. Alegria, entre outras coisas, é essa serenidade continuada, esse acolhimento da existência, esse surpreendente acordo entre nós e o universo, essa familiaridade com as coisas, esse prazer em ser, essa gratidão por existirmos. Em qualquer um dos casos, a alegria parece estar associada a uma sensação de pertencimento. Que é mais rara no sofrimento, onde o nosso eu parece, ele sim, expandido à custa do mundo. Reconhecer o nosso pertencimento a algo que nos excede, ainda que não suprima nada do que em nós é essencial, permite que enfrentemos a inevitável e dolorosa solidão para a qual a tirania do eu nos conduz.
Sofrimento e alegria, dois estados do ser? Sim, mas não podemos dar um passo a mais? A efetiva oposição talvez não seja essa, mas sim entre uma vida, no sofrimento ou na alegria, que nos encerra em nós mesmos – individual ou coletivamente – e uma vida, no sofrimento ou na alegria, que acolhe a abertura e o mistério que, excedendo a nós, nos constituem.
Para pensar na quinzena:
A existência é a maior perfeição. ( frase atribuída a Sto Tomás)
Ricardo Fenati
Equipe do Centro Loyola
13.06.2013
A experiência do sofrimento é de tal modo inseparável da vida humana que imaginar que não sofremos ou procurar, inutilmente, não sofrer talvez sejam modalidades ainda mais agudas de sofrimento. Mas no que diz respeito a nós, os humanos, nada é simples, nada é destituído de ambiguidade, nada é muito linear. Se o sofrimento é inevitável, devemos reconhecer que são muitas as fontes de sofrimento e, sobretudo, são variadas as nossas formas de lidarmos com ele.

Fontes de sofrimento são diversas: as biográficas, que se devem às vicissitudes das histórias pessoais, de responsabilidade nossa ou não, e as que, vindas do destino indiferente, caem sobre nós. Outras decorrem das sociedades de que fazemos parte e nos atingem enquanto membros da comunidade. E há um sofrimento que nos acompanha a todo o tempo, oriundo de nosso pertencimento à condição humana, dados os limites nos quais ela transcorre e os anseios que a caracterizam.
Entre as inúmeras reações possíveis em vista do sofrimento, e aqui sigo um texto do Pe. Javier Rojas, retenho duas. Diante do sofrimento, podemos nos valer dele para obter algum benefício indevido, algum olhar que, apiedado, nos conceda uma vantagem indevida, nos dispense de uma luta que nos caberia. Ou podemos, quando o sofrimento chegar até nós, procurar acolhê-lo como um traço da vida, como uma ocasião não de nossa dissolução, mas de aceitação da quota de dor inerente à vida. Dor a que, não raro, se segue uma interrogação que nos inquieta e obriga a movimentos de criação que na ausência do sofrimento não ocorreriam.
O sofrimento usado como meio de obter um ganho descabido despertará irritação e repulsa, diferentemente do sofrimento acolhido, que sempre tocará a corda de nossa compaixão.
Para pensar na quinzena:
“Ousar a fundo ser si mesmo, ousar ser um indivíduo, não este ou aquele, mas o que se é, só ante Deus, só na imensidão do seu esforço e da sua responsabilidade. (Kierkegaard)
Ricardo Fenati
Equipe do Centro Loyola
03.06.2013
Dê uma olhada mais demorada no Facebook e preste atenção nas postagens onde alguma discussão parece estar sendo proposta. Sendo uma discussão de uma temática que, em princípio, pode interessar a mais pessoas, é de se esperar que brotem, dos lados em disputa, que podem ser dois ou mais, argumentos, exemplos e comparações. Nada muito sofisticado, só a paciência de apresentar alguma fundamentação para o que se defende e a boa vontade de escutar posições distintas. Enfim, as regras de uma boa conversa entre pessoas ciosas de alguma tolerância e que têm gosto pela vida das idéias. Redes sociais, na medida em que criam espaços públicos de interação, potencializam a vocação humana para a convivência.

Entretanto, ainda há muito a aprender. Muito freqüentemente, o que se passa no FB, quando está em pauta um tema polêmico, é a expressão raivosa de alguma opinião, completamente desinteressada de ouvir a discordância. Mero exercício de intolerância, beneficiado pela tecnologia. Ou, ainda, a constituição de pequenos grupos em torno de uma bandeira, sempre reforçada pelas curtidas e compartilhamentos mútuos dos integrantes do gueto em questão. A estratégia costuma se repetir: o grupo se identifica como minoritário e vitimado por alguma espécie de perseguição. Espera assim ganhar uma espécie de imunidade, já que vítimas, são, por princípio, injustiçadas e, por isso, inatacáveis. Multiplicados, esses grupos, à maneira de um arquipélago de ilhas isoladas, desmentem o que cabe esperar da cidade dos humanos: uma disposição incessante e grave para a aproximação ao invés da reafirmação narcísica, e, portanto, insegura e violenta, de nossa identidade.
Para pensar na quinzena:
“Narciso acha feio o que não é espelho” (Caetano Veloso)
Ricardo Fenati
Equipe do Centro Loyola
15.05.2013
Se somos, como Aristóteles dizia, animais políticos, animais que vivem, e, como humanos, só podem viver, na presença uns dos outros, daí não se segue que contemos com uma espécie de instinto que nos assegure, de imediato, uma convivência propiciadora de felicidade ou, pelo menos, de paz. Somos atraídos pelo outro, sem que, entretanto, possamos lançar mão de qualquer mapa ou orientação para chegar até ele. A contigüidade física não nos auxilia: não raro, ainda que sós, estamos mais próximos das pessoas do que quando imersos numa multidão. Se nosso olhar estará sempre voltado para o outro, como Aristóteles parece sugerir, é porque percebemos que somos, de alguma forma, incompletos e que algo que nos diz respeito se encontra nele.

Posta a relação, vem junto com ela o risco. Ao invés de sairmos de onde estamos, de nos movimentarmos, dependuramo-nos no outro, fazendo-o provedor de nossas necessidades e não destinatário do nosso desejo. Sendo essa a escolha, não apenas ignoramos a singularidade do outro, mas, sobretudo, escorados nele evitamos encontrar o que só em nós se acha. O que parecia ser uma confirmação de nossa disposição sociável nada mais é, de fato, do que um egoísmo brutal e doloroso.
Mas, se em vez da dependência, é a confiança que nos move, o cenário não é o mesmo. A confiança envolve o acolhimento de nossa fragilidade, fragilidade mútua, e a coragem de trilhar um caminho desconhecido, tornado possível pela presença do outro. E não poucas vezes acabaremos por reconhecer que é só através de um outro, respeitado na sua singularidade, que chegamos a nós mesmos, encobertos que estávamos pela voracidade do nosso egoísmo.
Nada é simples, nada é garantido, mas alguma sabedoria é sempre possível se nos lembrarmos outra vez de Aristóteles, quem, um dia, disse que a virtude, e a convivência é uma virtude, se aprende sendo virtuoso.
Para pensar na quinzena:
“Amar se aprende amando” (Carlos Drummond de Andrade)
Ricardo Fenati
Equipe do Centro Loyola
30.04.2013
Há palavras cujo desempenho numa discussão parece insuperável. Ingenuidade é um exemplo. Quando a empregamos, temos a impressão de uma imediata desqualificação dos nossos adversários, os destinatários do termo, e, ao mesmo tempo um sentimento inequívoco de nossa superioridade. Quando o debate é de natureza mais intelectual, a ingenuidade, é o que acreditamos, está associada à ignorância, a não saber o que se deveria saber. Mas será sempre assim?
 A tradição iluminista nos ensinou o valor do conhecimento, o apego ao exercício do saber e à sua capacidade de retirar o ser humano da menoridade, seja considerado na sua individualidade, seja considerado na dinâmica social. Áreas as mais diversas, até então submersas no preconceito, emergiram enquanto objeto de conhecimento. Com o tempo, o que entendemos como modernidade deixou de ser um apenas episódio na história humana e veio a ser visto como uma conquista sem retorno, como um bem a ser preservado.
A tradição iluminista nos ensinou o valor do conhecimento, o apego ao exercício do saber e à sua capacidade de retirar o ser humano da menoridade, seja considerado na sua individualidade, seja considerado na dinâmica social. Áreas as mais diversas, até então submersas no preconceito, emergiram enquanto objeto de conhecimento. Com o tempo, o que entendemos como modernidade deixou de ser um apenas episódio na história humana e veio a ser visto como uma conquista sem retorno, como um bem a ser preservado.
Entretanto, não devemos nos esquecer que a paixão pelo conhecimento é uma aventura permanente, sempre sujeita á revisão, sempre marcada pela finitude humana. O que hoje tomamos por saber é menos um conjunto de certezas, por mais caras que nos sejam, do que um estado provisório, sempre sujeito à revisão quando o inevitável contato com a realidade assim o indicar. Estaremos quase sempre, no campo do conhecimento, em alto mar, ainda que, por vezes e provisoriamente, nos vejamos atracados num ou noutro porto.
Daí que talvez possamos falar de uma outra ingenuidade, a dos que imaginam como termo do conhecimento, como matéria incontroversa, as respostas que defendem, o ponto de vista que advogam. Se há uma ingenuidade dos que ignoram o que deveriam saber, há outra ingenuidade, a dos que se aferram ao que imaginam ser conhecimento incontroverso. Daí que uma terceira ingenuidade, sabedora de nossos limites e da complexidade típica dos assuntos humanos, possa conter, paradoxalmente, uma apreciável dimensão crítica, que nos obrigue a corrigir o que, aparentando conhecimento, não é senão um conjunto de hábitos intelectuais arraigados e confortáveis.
Para pensar na quinzena:
“E, em todos os assuntos humanos, quem os examine bem verá isto: que uma dificuldade não pode ser afastada sem que outra comece a avultar... porque o que é completamente claro, e inteiramente sem certeza, não se encontra jamais.” (Maquiavel)
Ricardo Fenati
Equipe do Centro Loyola-BH
15.04.2013
Página 8 de 10






